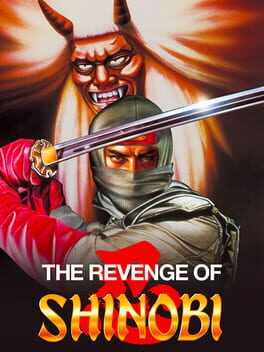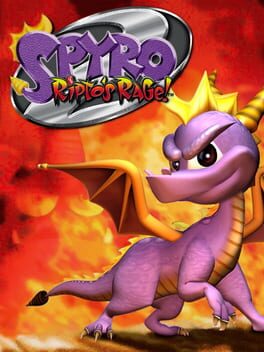Motheus
The Revenge of Shinobi tem uma importância histórica inegável, sendo pioneiro em vários aspectos, mas por outro lado ele não envelheceu muito bem, e a medida que se vai avançando no jogo, a experiência fica cada vez menos agradável, e acredito que esse seja um dos primeiros exemplos em que as aparências tenham sido postas à frente da substância, de maneira voluntária ou não.
É sabido que TRoS foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, servindo como vitrine para o poder gráfico e sonoro do console da Sega. Os jogos que ou o antecederam ou saíram aproxidamente no mesmo período eram conversões do arcade, que por mais impressionantes que fossem, não eram experiências duradouras o bastante. Por exemplo, Altered Beast podia ser terminado em menos de 1 hora. Assim sendo, Revenge of Shinobi foi um dos primeiros jogos a serem pensados e construídos para um console de mesa, ou seja, com duração mais longa, maior enfâse na narrativa e mais recursos de jogabilidade, no caso, os quatro ninjutsus que permitiam que os inimigos do cenário fossem instantaneamente destruídos, protegessem o personagem, permitiam saltos mais altos e por fim o que provocava uma explosão que causava grandes danos aos chefes, e ainda que este custasse uma vida, o protagonista voltava com a barra de energia cheia. Assim sendo, caso se estivesse com pouca energia em uma luta contra um chefe e era praticamente certo que a vida seria perdida, esse recurso podia ser acionado, o chefe receberia uma grande quantidade de dano e o personagem voltaria com a vida cheia. Isso adicionava uma camada de estratégia pouco vista nos jogos em geral, fossem de consoles ou arcades.
As possibilidades que o jogo oferecia ao seu público causavam interesse, mas o que realmente chamava a atenção eram os gráficos, fora de série para o período, e até hoje pode-se elogiar seus sprites, mas o que não dá pra deixar passar é qualidade de sua trilha sonora, um marco atemporal. O autor, Yuzo Koshiro, conseguiu mesclar elementos de música tradicional japonesa com o que estava em voga na música pop da época, criando uma obra que está entre as mais marcantes da história. Ok, talvez seja exagero meu (bem provável que seja exagero, sendo sincero), mas vale uma conferida. A trilha sonora é essencial para a ambientação do jogo, que toma vantagem de outra tendência dos anos 80 e 90: ninjas. Esse foi um momento que ninjas tinham moradia fixa no imaginário popular, com uma infinidade de filmes, HQ's e naturalmente, jogos. Pouco importava se correspondiam ou não à figura histórica dos ninjas.
O jogo da Sega trabalha bem o conceito do ninja dos 80, que podia estar tanto em um cenário tradicional japonês como em uma paisagem urbana tipicamente dos EUA, passando por bases militares, complexos industriais, ferros velhos, etc. Era basicamente a ambientação de qualquer tokusatsu do período.
Por ser um chamariz, a equipe de desenvolvimento fez um ótimo trabalho na construção da primeira impressão que o jogo passava ao público. As primeiras fases não só ensinavam efetivamente as mecânicas do jogo como também passavam uma sensação de destreza do personagem, de que os obstáculos poderiam ser superados com raciocínio rápido e precisão. Não que fosse algo sem desafio algum, mas sim um desafio justo.
A medida que o jogo vai avançando, a dificuldade vai aumentando, o que é compreensível e até mesmo esperado, mas o nível de justiça dos desafios vai caindo, o que acaba tornando a experiência bem, mas beeem frustrante. No início, os cenários são abertos e os inimigos estão posicionados de maneira que dão tempo para que se reaja adequadamente. Isso não torna o jogo fácil, mas com uma dificuldade justa. Nas fases seguintes, as fases passam a ocorrer em espaços mais restritos, e além disso não só o posicionamento dos inimigos passa a ficar mais cretino como as características deles passam a ser mais cretinas, e o exemplo mais cristalino disso são os que atacam com armas de fogo, que não contentes em aparecer praticamente na sua cara, atacam com projetéis rápidos, tirando totalmente o tempo de reação.
Por se tratar de um jogo para mostrar as capacidades técnicas do Mega Drive, os sprites dos personagens são grandes, bem grandes, algo incomum para os consoles. Em termos de comparação, sugiro olhar para os sprites de jogos como Castlevania, Ninja Gaiden, Contra, Mega Man, enfim, qualquer outro jogo. A composição "personagem - cenários - obstáculos - inimigos" permite uma visualização clara do desafio, permitindo que se planeje a maneira como esse desafio será lidado. Em TRoS não consegui perceber isso. Tudo fica muito espremido, tirando tempo e espaço para reação, e considerando a posição dos inimigos, isso deixa a equação toda muito frustrante.
Dito tudo isso, The Revenge of Shinobi é um jogo que vale ser conferido por sua proposta de apresentar o potencial de um novo console em um momento em que esse conceito era relativamente novo, além por buscar aperfeiçoar a fórmula de um jogo nascido nos arcades adaptado para os consoles, mas também recomendo a observação dos pontos em que ele erra, pois são mostras dos dilemas do game design do período, dilemas que ainda eram bem novos e que não se tinha ideias muito claras de como lidar com eles, como exemplo mais notório a proporção da dificuldade apresentada. No entanto, não acho possível recomendar The Revenge of the Shinobi por seus méritos como jogo em si
É sabido que TRoS foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, servindo como vitrine para o poder gráfico e sonoro do console da Sega. Os jogos que ou o antecederam ou saíram aproxidamente no mesmo período eram conversões do arcade, que por mais impressionantes que fossem, não eram experiências duradouras o bastante. Por exemplo, Altered Beast podia ser terminado em menos de 1 hora. Assim sendo, Revenge of Shinobi foi um dos primeiros jogos a serem pensados e construídos para um console de mesa, ou seja, com duração mais longa, maior enfâse na narrativa e mais recursos de jogabilidade, no caso, os quatro ninjutsus que permitiam que os inimigos do cenário fossem instantaneamente destruídos, protegessem o personagem, permitiam saltos mais altos e por fim o que provocava uma explosão que causava grandes danos aos chefes, e ainda que este custasse uma vida, o protagonista voltava com a barra de energia cheia. Assim sendo, caso se estivesse com pouca energia em uma luta contra um chefe e era praticamente certo que a vida seria perdida, esse recurso podia ser acionado, o chefe receberia uma grande quantidade de dano e o personagem voltaria com a vida cheia. Isso adicionava uma camada de estratégia pouco vista nos jogos em geral, fossem de consoles ou arcades.
As possibilidades que o jogo oferecia ao seu público causavam interesse, mas o que realmente chamava a atenção eram os gráficos, fora de série para o período, e até hoje pode-se elogiar seus sprites, mas o que não dá pra deixar passar é qualidade de sua trilha sonora, um marco atemporal. O autor, Yuzo Koshiro, conseguiu mesclar elementos de música tradicional japonesa com o que estava em voga na música pop da época, criando uma obra que está entre as mais marcantes da história. Ok, talvez seja exagero meu (bem provável que seja exagero, sendo sincero), mas vale uma conferida. A trilha sonora é essencial para a ambientação do jogo, que toma vantagem de outra tendência dos anos 80 e 90: ninjas. Esse foi um momento que ninjas tinham moradia fixa no imaginário popular, com uma infinidade de filmes, HQ's e naturalmente, jogos. Pouco importava se correspondiam ou não à figura histórica dos ninjas.
O jogo da Sega trabalha bem o conceito do ninja dos 80, que podia estar tanto em um cenário tradicional japonês como em uma paisagem urbana tipicamente dos EUA, passando por bases militares, complexos industriais, ferros velhos, etc. Era basicamente a ambientação de qualquer tokusatsu do período.
Por ser um chamariz, a equipe de desenvolvimento fez um ótimo trabalho na construção da primeira impressão que o jogo passava ao público. As primeiras fases não só ensinavam efetivamente as mecânicas do jogo como também passavam uma sensação de destreza do personagem, de que os obstáculos poderiam ser superados com raciocínio rápido e precisão. Não que fosse algo sem desafio algum, mas sim um desafio justo.
A medida que o jogo vai avançando, a dificuldade vai aumentando, o que é compreensível e até mesmo esperado, mas o nível de justiça dos desafios vai caindo, o que acaba tornando a experiência bem, mas beeem frustrante. No início, os cenários são abertos e os inimigos estão posicionados de maneira que dão tempo para que se reaja adequadamente. Isso não torna o jogo fácil, mas com uma dificuldade justa. Nas fases seguintes, as fases passam a ocorrer em espaços mais restritos, e além disso não só o posicionamento dos inimigos passa a ficar mais cretino como as características deles passam a ser mais cretinas, e o exemplo mais cristalino disso são os que atacam com armas de fogo, que não contentes em aparecer praticamente na sua cara, atacam com projetéis rápidos, tirando totalmente o tempo de reação.
Por se tratar de um jogo para mostrar as capacidades técnicas do Mega Drive, os sprites dos personagens são grandes, bem grandes, algo incomum para os consoles. Em termos de comparação, sugiro olhar para os sprites de jogos como Castlevania, Ninja Gaiden, Contra, Mega Man, enfim, qualquer outro jogo. A composição "personagem - cenários - obstáculos - inimigos" permite uma visualização clara do desafio, permitindo que se planeje a maneira como esse desafio será lidado. Em TRoS não consegui perceber isso. Tudo fica muito espremido, tirando tempo e espaço para reação, e considerando a posição dos inimigos, isso deixa a equação toda muito frustrante.
Dito tudo isso, The Revenge of Shinobi é um jogo que vale ser conferido por sua proposta de apresentar o potencial de um novo console em um momento em que esse conceito era relativamente novo, além por buscar aperfeiçoar a fórmula de um jogo nascido nos arcades adaptado para os consoles, mas também recomendo a observação dos pontos em que ele erra, pois são mostras dos dilemas do game design do período, dilemas que ainda eram bem novos e que não se tinha ideias muito claras de como lidar com eles, como exemplo mais notório a proporção da dificuldade apresentada. No entanto, não acho possível recomendar The Revenge of the Shinobi por seus méritos como jogo em si
2003
Ninja Five-O remete aos jogos da época dos 8 bits, com foco na mecânica de jogo. O enredo é básico ao extremo: desbaratinar uma organização terrorista cujos líderes usam máscaras que lhes conferem poderes mágicos, e é isso. Pouco sabemos sobre qualquer personagens, protagonistas e antagonistas. Não há diálogos. O protagonista não está em uma jornada grandiosa, nem irá se deparar com seu passado, tampouco passará por uma jornada de crescimento pessoal, redenção ou perdição. Não, ele só está fazendo o dever de um ninja-policial (ou policial-ninja, fica a critério): combater a criminalidade e resgatar inocentes.
Aqui, a história serve como pretexto para a mecânica e também como fundamento para a ambientação não só para o design das fases mas também para as sensações que o jogo propicia. Ninja Five-O é um caso interessante de jogo com uma história rasa mas com uma ambientação extremamente bem feita, calcada na maneira em que a jogabilidade foi executada e em escolhas artísticas, bem aplicadas no visual e nem tanto no sonoro. A construção do mundo em que o jogo se passa se dá muito mais pela ambientação e pela sensação que a mecânica passa do que pela história e a maneira em que essa história é contada.
Em relação à jogabilidade, o conceito proposto pode ser descrito como "Ninja Gaiden encontra Bionic Commando", mas aqui tudo flui com uma liberdade e fluidez pouco vista. A jogabilidade é extremamente gostosa, e a primeira parte é muito competente em mostrar as maneiras possíveis de se locomover, abordar os inimigos e navegar pelo cenário. A principal ferramenta de movimentação do jogo é o gancho, acionado ao apertar o botão de pulo 2 vezes. O gancho pode tanto ir pra cima em linha reta como em diagonal, e tem um alcance consideravelmente maior que em Bionic Commando, mas divide com o jogo da Capcom o princípio de contar com o balanço como impulso para o próximo salto e disparo do gancho. Uma diferença entre Bionic Commando e Ninja Five-O é que enquanto no jogo da Capcom o personagem passa através da plataforma em que se conecta, em Ninja Five-O o gancho é utilizado junto ao balanço para contornar as plataformas, dependendo do quanto o personagem balança e de quanto o gancho está estendido. Quanto mais estendida a corrente com o gancho o personagem maior será o impulso, e quanto maior o impulso, mais velocidade e alcance. A física do jogo é tão bem feita que essa operação é extremamente fluida, ajudando a criar uma sensação de perícia e habilidade que dão uma contribuição essencial para a ambientação que se quer passar, no caso, a de ninjas que se deslocam em e atacam em alta velocidade, em perfeita sintonia com a ideia que a Cultura Pop passa do que são ninjas.
Ainda sobre a relação da jogabilidade contribuir para a ambientação e a ideia do que são ninjas vale mencionar o sistema de pontuação, que possui uma utilidade prática. Ao atingir 50 mil pontos, as barras de energia e especial são totalmente preenchidas. Dependendo da forma que um inimigo é abatido, mais pontos serão dados. O jogo incentiva derrotar inimigos usando a espada sem que eles percebam não só dará mais pontos como preencherá a barra de especial mais rapidamente, recompensando uma abordagem furtiva ou ao menos combates de curta distância. A barra de especial tem uma função dupla; com a barra completa, um ataque de tela cheia será acionado, em que todos os inimigos tela serão derrotados, e em caso de presença de reféns, estes não sofrerão dano. Mesmo em chefes esse ataque causa um dano considerável. Já com a barra parcialmente cheia, acionar esse mecanismo proporcionará invencibilidade ao personagem enquanto houver “carga” na barra, além de fazer com que ele não seja jogado para trás em caso de impacto. Por fim, a última ferramenta de ataque são projéteis, no caso shurikens (que podem ter até três progressões de força, com power ups coletados durante as fases).
Sobre o componente de stealth, os inimigos são capazes de escutar o personagem, adicionando uma camada de imprevisibilidade, no entanto, os critérios para que os inimigos escutem o protagonista se aproximar não são muito claros, o que não inviabiliza esse tipo de abordagem, mas a torna desnecessariamente mais trabalhosa. Ao menos as consequências de ser descoberto não são grandes, mas inegavelmente é uma das (poucas) quebras do jogo.
Voltando para a ambientação que Ninja Five-O proporciona, um ponto importante é a direção artística. Começando pela trilha sonora, que é o quesito mais difícil de avaliar. Ela não é ruim, pelo contrário; as composições se encaixam perfeitamente ao conceito do jogo, lembrando bastante trilhas sonoras de filmes de ação dos anos 80 e início dos 90, especialmente as que envolviam cenas de infiltração no covil inimigo. O que pesa contra ela é o fato de ser repetitiva, com apenas 9 músicas, incluindo as de introdução e de encerramento. Ao longo da campanha, 5 músicas vão ser as mais tocadas, sendo que uma delas é para chefes e a outra é a de game over.
Visualmente, o jogo é bem feito, e os inimigos são uma mescla de filmes de ação dos 80 e 90 e os tokusatsus do mesmo período. O quadro de inimigos é composto por criminosos carecas de terno, mercenários uniformizados, ninjas, armaduras samurais gigantes, além de animais como morcegos, cobras, sapos, etc. Os desenvolvedores realizaram uma abordagem que lembra um Beat’em Up, com os sprites dos adversários são iguais entre si, só mudando as cores, cada um com um padrão de ataque consideravelmente diferente entre si. Os chefes são um capítulo à parte, remetendo ao folclore japonês, passando por kabukis com naginatas, ninjas montados em sapo, e outros com mais liberdades poéticas, como um demônio morcego.
Acompanhado de uma direção de arte competente, Ninja Five-O é muito bom tecnicamente, tendo personagens (protagonista, inimigos e chefes) com animações fluidas, entre as melhores do GBA, cenários com um número razoável de elementos, pequenos detalhes diversos (animações diversas para mortes do protagonista, por exemplo), sons claros de metais batendo/cortando outras coisas, etc.
Apesar de ter sido lançado pela Konami, o jogo foi desenvolvido pela Hudson, conhecida principalmente pela série Bomberman. A importância dessa série para a Hudson pode ser percebida pelo fato de praticamente toda a equipe de desenvolvimento de Ninja Five-O ter exercido alguma função em diversos episódios de Bomberman, e acredito que essa experiência prévia teve influência no resultado final de Ninja Five-O.
Encontrar uma maneira de lidar com os elementos dispostos é o mais próximo de um puzzle que um jogo de ação pode chegar (ou o mais próximo que um jogo de ação pode chegar de um puzzle). Aqui que acredito ser possível fazer um paralelo com Bomberman, em que a visão do cenário é essencial. Na clássica série da Hudson, todo o cenário é visto de uma vez, enquanto em Ninja Five-O é possível controlar a câmera (com um limite de alcance) com o botão de ombro esquerdo. Essa relação “personagem-cenário” pode ser aplicada na maioria dos jogos existentes, mas nos dois jogos da Hudson há camadas a mais com dinâmicas próprias para cada. A interação com cenário é essencial para atacar em ambos, mas enquanto em Bomberman essa interação ocorre por meio das bombas, em Ninja Five-O a interação é pelo movimento, que com a devida perícia pode colocar rapidamente o protagonista no ponto em que se quer chegar.
Ainda que o jogo não mexa na estrutura base ao longo da campanha, a maneira como diferentes elementos são adicionados às fases é exemplar, proporcionando oportunidades para que as habilidades de quem está jogando sejam aprimoradas para que possa ter a compreensão e o domínio dos recursos oferecidos para lidar com a situação apresentada. Vão sendo incorporados aos cenários elementos como lanças-chamas, poços com espinhos, trechos eletrocutados, etc, e o jogo é projetado de forma que o condicionamento do público aos desafios não seja frustrante. Exemplo disso é a forma com que as 6 fases são estruturadas: cada fase é dividida em segmentos (20 distribuídos nas 6 fases), e não há um limite de vidas para se concluir as etapas, e o mesmo se aplica aos chefes. Fica a critério de quem joga repetir o estágio ou a fase completa, caso queira chegar com mais recursos na sessão seguinte.
Ninja Five-O sem dúvida é um jogo curto, o que não é algo exatamente bom, mas por outro lado, essa brevidade evitou que o resultado final ficasse repetitivo. Particularmente gostaria de mais variações, como por exemplo a vista na última fase, em que deve-se fazer uma fuga cronometrada. Imagino que esse segmento não foi algo isolado na concepção do projeto do jogo, mas que por motivos diversos, como falta de tempo ou recursos, não pôde ser explorado mais vezes. Talvez uma sequência poderia proporcionar uma maior variedade de jogabilidades, mas tendo em vista as poucas vendas, a Konami, publicadora do jogo, acabou se entusiasmando muito, o que é uma pena.
Lançado em 2003, Ninja Five-O estava inserido em um período em que a indústria estava experimentando conceitos mais imersivos e com foco em histórias elaboradas e um estreitamento da relação mecânica/narrativa, com Shenmue (99-2000) e Ico (2001) sendo exemplos dessa tendência. Os dois jogos citados são de hardwares superiores ao GBA, mas no próprio portátil da Nintendo há jogos com maior ênfase em contar histórias, como Castlevania: Aria of Sorrow e Mario & Luigi: Superstar Saga, ambos também lançados em 2003. Em todos os aspectos do jogo, é possível ver que a Hudson não se limitou a simplesmente replicar o que foi visto, pelo contrário, expandiu os conceitos vistos na época, proporcionando uma belíssima ode aos jogos dos anos 80.
Aqui, a história serve como pretexto para a mecânica e também como fundamento para a ambientação não só para o design das fases mas também para as sensações que o jogo propicia. Ninja Five-O é um caso interessante de jogo com uma história rasa mas com uma ambientação extremamente bem feita, calcada na maneira em que a jogabilidade foi executada e em escolhas artísticas, bem aplicadas no visual e nem tanto no sonoro. A construção do mundo em que o jogo se passa se dá muito mais pela ambientação e pela sensação que a mecânica passa do que pela história e a maneira em que essa história é contada.
Em relação à jogabilidade, o conceito proposto pode ser descrito como "Ninja Gaiden encontra Bionic Commando", mas aqui tudo flui com uma liberdade e fluidez pouco vista. A jogabilidade é extremamente gostosa, e a primeira parte é muito competente em mostrar as maneiras possíveis de se locomover, abordar os inimigos e navegar pelo cenário. A principal ferramenta de movimentação do jogo é o gancho, acionado ao apertar o botão de pulo 2 vezes. O gancho pode tanto ir pra cima em linha reta como em diagonal, e tem um alcance consideravelmente maior que em Bionic Commando, mas divide com o jogo da Capcom o princípio de contar com o balanço como impulso para o próximo salto e disparo do gancho. Uma diferença entre Bionic Commando e Ninja Five-O é que enquanto no jogo da Capcom o personagem passa através da plataforma em que se conecta, em Ninja Five-O o gancho é utilizado junto ao balanço para contornar as plataformas, dependendo do quanto o personagem balança e de quanto o gancho está estendido. Quanto mais estendida a corrente com o gancho o personagem maior será o impulso, e quanto maior o impulso, mais velocidade e alcance. A física do jogo é tão bem feita que essa operação é extremamente fluida, ajudando a criar uma sensação de perícia e habilidade que dão uma contribuição essencial para a ambientação que se quer passar, no caso, a de ninjas que se deslocam em e atacam em alta velocidade, em perfeita sintonia com a ideia que a Cultura Pop passa do que são ninjas.
Ainda sobre a relação da jogabilidade contribuir para a ambientação e a ideia do que são ninjas vale mencionar o sistema de pontuação, que possui uma utilidade prática. Ao atingir 50 mil pontos, as barras de energia e especial são totalmente preenchidas. Dependendo da forma que um inimigo é abatido, mais pontos serão dados. O jogo incentiva derrotar inimigos usando a espada sem que eles percebam não só dará mais pontos como preencherá a barra de especial mais rapidamente, recompensando uma abordagem furtiva ou ao menos combates de curta distância. A barra de especial tem uma função dupla; com a barra completa, um ataque de tela cheia será acionado, em que todos os inimigos tela serão derrotados, e em caso de presença de reféns, estes não sofrerão dano. Mesmo em chefes esse ataque causa um dano considerável. Já com a barra parcialmente cheia, acionar esse mecanismo proporcionará invencibilidade ao personagem enquanto houver “carga” na barra, além de fazer com que ele não seja jogado para trás em caso de impacto. Por fim, a última ferramenta de ataque são projéteis, no caso shurikens (que podem ter até três progressões de força, com power ups coletados durante as fases).
Sobre o componente de stealth, os inimigos são capazes de escutar o personagem, adicionando uma camada de imprevisibilidade, no entanto, os critérios para que os inimigos escutem o protagonista se aproximar não são muito claros, o que não inviabiliza esse tipo de abordagem, mas a torna desnecessariamente mais trabalhosa. Ao menos as consequências de ser descoberto não são grandes, mas inegavelmente é uma das (poucas) quebras do jogo.
Voltando para a ambientação que Ninja Five-O proporciona, um ponto importante é a direção artística. Começando pela trilha sonora, que é o quesito mais difícil de avaliar. Ela não é ruim, pelo contrário; as composições se encaixam perfeitamente ao conceito do jogo, lembrando bastante trilhas sonoras de filmes de ação dos anos 80 e início dos 90, especialmente as que envolviam cenas de infiltração no covil inimigo. O que pesa contra ela é o fato de ser repetitiva, com apenas 9 músicas, incluindo as de introdução e de encerramento. Ao longo da campanha, 5 músicas vão ser as mais tocadas, sendo que uma delas é para chefes e a outra é a de game over.
Visualmente, o jogo é bem feito, e os inimigos são uma mescla de filmes de ação dos 80 e 90 e os tokusatsus do mesmo período. O quadro de inimigos é composto por criminosos carecas de terno, mercenários uniformizados, ninjas, armaduras samurais gigantes, além de animais como morcegos, cobras, sapos, etc. Os desenvolvedores realizaram uma abordagem que lembra um Beat’em Up, com os sprites dos adversários são iguais entre si, só mudando as cores, cada um com um padrão de ataque consideravelmente diferente entre si. Os chefes são um capítulo à parte, remetendo ao folclore japonês, passando por kabukis com naginatas, ninjas montados em sapo, e outros com mais liberdades poéticas, como um demônio morcego.
Acompanhado de uma direção de arte competente, Ninja Five-O é muito bom tecnicamente, tendo personagens (protagonista, inimigos e chefes) com animações fluidas, entre as melhores do GBA, cenários com um número razoável de elementos, pequenos detalhes diversos (animações diversas para mortes do protagonista, por exemplo), sons claros de metais batendo/cortando outras coisas, etc.
Apesar de ter sido lançado pela Konami, o jogo foi desenvolvido pela Hudson, conhecida principalmente pela série Bomberman. A importância dessa série para a Hudson pode ser percebida pelo fato de praticamente toda a equipe de desenvolvimento de Ninja Five-O ter exercido alguma função em diversos episódios de Bomberman, e acredito que essa experiência prévia teve influência no resultado final de Ninja Five-O.
Encontrar uma maneira de lidar com os elementos dispostos é o mais próximo de um puzzle que um jogo de ação pode chegar (ou o mais próximo que um jogo de ação pode chegar de um puzzle). Aqui que acredito ser possível fazer um paralelo com Bomberman, em que a visão do cenário é essencial. Na clássica série da Hudson, todo o cenário é visto de uma vez, enquanto em Ninja Five-O é possível controlar a câmera (com um limite de alcance) com o botão de ombro esquerdo. Essa relação “personagem-cenário” pode ser aplicada na maioria dos jogos existentes, mas nos dois jogos da Hudson há camadas a mais com dinâmicas próprias para cada. A interação com cenário é essencial para atacar em ambos, mas enquanto em Bomberman essa interação ocorre por meio das bombas, em Ninja Five-O a interação é pelo movimento, que com a devida perícia pode colocar rapidamente o protagonista no ponto em que se quer chegar.
Ainda que o jogo não mexa na estrutura base ao longo da campanha, a maneira como diferentes elementos são adicionados às fases é exemplar, proporcionando oportunidades para que as habilidades de quem está jogando sejam aprimoradas para que possa ter a compreensão e o domínio dos recursos oferecidos para lidar com a situação apresentada. Vão sendo incorporados aos cenários elementos como lanças-chamas, poços com espinhos, trechos eletrocutados, etc, e o jogo é projetado de forma que o condicionamento do público aos desafios não seja frustrante. Exemplo disso é a forma com que as 6 fases são estruturadas: cada fase é dividida em segmentos (20 distribuídos nas 6 fases), e não há um limite de vidas para se concluir as etapas, e o mesmo se aplica aos chefes. Fica a critério de quem joga repetir o estágio ou a fase completa, caso queira chegar com mais recursos na sessão seguinte.
Ninja Five-O sem dúvida é um jogo curto, o que não é algo exatamente bom, mas por outro lado, essa brevidade evitou que o resultado final ficasse repetitivo. Particularmente gostaria de mais variações, como por exemplo a vista na última fase, em que deve-se fazer uma fuga cronometrada. Imagino que esse segmento não foi algo isolado na concepção do projeto do jogo, mas que por motivos diversos, como falta de tempo ou recursos, não pôde ser explorado mais vezes. Talvez uma sequência poderia proporcionar uma maior variedade de jogabilidades, mas tendo em vista as poucas vendas, a Konami, publicadora do jogo, acabou se entusiasmando muito, o que é uma pena.
Lançado em 2003, Ninja Five-O estava inserido em um período em que a indústria estava experimentando conceitos mais imersivos e com foco em histórias elaboradas e um estreitamento da relação mecânica/narrativa, com Shenmue (99-2000) e Ico (2001) sendo exemplos dessa tendência. Os dois jogos citados são de hardwares superiores ao GBA, mas no próprio portátil da Nintendo há jogos com maior ênfase em contar histórias, como Castlevania: Aria of Sorrow e Mario & Luigi: Superstar Saga, ambos também lançados em 2003. Em todos os aspectos do jogo, é possível ver que a Hudson não se limitou a simplesmente replicar o que foi visto, pelo contrário, expandiu os conceitos vistos na época, proporcionando uma belíssima ode aos jogos dos anos 80.
Faz um tempo que compartilhei aqui minha opinião não muito favorável de Metal Slug Advance, e considerando ela, acho no mínimo curioso como a SNK acertou a mão em um jogo anterior ao do GBA e em um hardware inferior.
Mesmo que não tenha tido o sucesso do Game Boy, o Neo Geo Pocket foi um console que entregou verdadeiras pérolas e Metal Slug 1st Mission é uma delas. É impressionante como esse jogo captou a essência da série, com um level design bem feito, gráficos bonitos e com personalidade e uma jogabilidade precisa (ainda que com um probleminha).
Metal Slug 1st Mission possuí uma variedade considerável de fases, mais longas que as dos jogos de arcade, e algumas delas possuem múltiplas rotas, o que acaba direcionando para outras fases, o que adiciona um fator de replay raro na série. Além disso, ao se concluir o jogo uma personagem adicional é desbloqueada, mas isso não implica em uma jogabilidade diferente ou uma campanha à parte, ao contrário do visto na sequência.
Mas algo que de fato adiciona variedade no jogo são as fases que se passam em veículos (um avião e o tanque que dá nome à franquia) e os desdobramentos delas em caso de falhas nessas missões. Quando o avião é abatido, há uma sequência de paraquedas em que se deve soltar e abrir o paraquedas em um tempo determinado, enquanto em uma falha com o Metal Slug o personagem vai para uma cela e deve escapar dela armado apenas de uma faca.
Como de praxe na franquia, os gráficos são bonitos, com animações bem feitas que mostram do que o NGP era capaz, e a direção de arte conseguiu dar uma personalidade aos personagens e ao ambiente do jogo, com cenários que remetem mais a um conflito de guerrilha do que algo em escala global ou interplanetária.
Da parte das críticas, a trilha sonora reimagina bem algumas das faixas conhecidas da série, mas falta variedade. A outra crítica vai para um ponto da jogabilidade: o NGP possuí 3 botões (A, B e Option, que serve como Start), e a série é conhecida por usar 3 botões (ataque, pulo e granadas). A solução encontrada foi usar o botão Option para alternar entre tiro e granadas, ambas acionadas com o botão de ataque. Para pausar o jogo, deve-se apertar e segurar o Option. Não é algo que inviabilize o jogo, com o tempo dá pra se acostumar, mas não dá pra negar que não contribui em deixar os controles dinâmicos.
Com um nível de desafio bem encaixado, jogabilidade adequada (apesar do problema descrito antes), gráficos bem feitos e fator de replay não visto antes na série, Metal Slug 1st Mission proporciona uma experiência agradável a quem quer que for jogá-lo.
Mesmo que não tenha tido o sucesso do Game Boy, o Neo Geo Pocket foi um console que entregou verdadeiras pérolas e Metal Slug 1st Mission é uma delas. É impressionante como esse jogo captou a essência da série, com um level design bem feito, gráficos bonitos e com personalidade e uma jogabilidade precisa (ainda que com um probleminha).
Metal Slug 1st Mission possuí uma variedade considerável de fases, mais longas que as dos jogos de arcade, e algumas delas possuem múltiplas rotas, o que acaba direcionando para outras fases, o que adiciona um fator de replay raro na série. Além disso, ao se concluir o jogo uma personagem adicional é desbloqueada, mas isso não implica em uma jogabilidade diferente ou uma campanha à parte, ao contrário do visto na sequência.
Mas algo que de fato adiciona variedade no jogo são as fases que se passam em veículos (um avião e o tanque que dá nome à franquia) e os desdobramentos delas em caso de falhas nessas missões. Quando o avião é abatido, há uma sequência de paraquedas em que se deve soltar e abrir o paraquedas em um tempo determinado, enquanto em uma falha com o Metal Slug o personagem vai para uma cela e deve escapar dela armado apenas de uma faca.
Como de praxe na franquia, os gráficos são bonitos, com animações bem feitas que mostram do que o NGP era capaz, e a direção de arte conseguiu dar uma personalidade aos personagens e ao ambiente do jogo, com cenários que remetem mais a um conflito de guerrilha do que algo em escala global ou interplanetária.
Da parte das críticas, a trilha sonora reimagina bem algumas das faixas conhecidas da série, mas falta variedade. A outra crítica vai para um ponto da jogabilidade: o NGP possuí 3 botões (A, B e Option, que serve como Start), e a série é conhecida por usar 3 botões (ataque, pulo e granadas). A solução encontrada foi usar o botão Option para alternar entre tiro e granadas, ambas acionadas com o botão de ataque. Para pausar o jogo, deve-se apertar e segurar o Option. Não é algo que inviabilize o jogo, com o tempo dá pra se acostumar, mas não dá pra negar que não contribui em deixar os controles dinâmicos.
Com um nível de desafio bem encaixado, jogabilidade adequada (apesar do problema descrito antes), gráficos bem feitos e fator de replay não visto antes na série, Metal Slug 1st Mission proporciona uma experiência agradável a quem quer que for jogá-lo.
Assim como boa parte dos jogos de plataforma que vieram após Mario 64, Spyro bebeu nas fontes abertas pela obra da Nintendo, e logo de cara foi o melhor jogo do gênero no Psone, com seu sucessor, Spyro 2: Rypto’s Rage, avançando em praticamente todas as frentes.
No aspecto técnico a margem para avanço não era tão grande, pois o primeiro jogo já era muito bem feito tecnicamente, com gráficos e sons muito bons, que envelheceram bem se compararmos com outros jogos da época. Spyro 2 ainda assim apresenta uma evolução, sensível, é verdade, mas ainda assim uma evolução.
A direção artística continua ótima, com uma trilha sonora muito boa, uma direção de dublagem bem feita dentro da proposta do jogo e especialmente na construção do mundo, ou melhor, dos mundos. Eles continuam coloridos e carismáticos, mas agora estão mais variados e principalmente, mais orgânicos. No primeiro jogo praticamente a presença de elementos vivos era mais esparsa e praticamente toda ela era hostil, mas em Spyro 2 os mundos estão mais cheios de vida, sendo habitados não só por inimigos mas também por elementos amigáveis. Nesse aspecto, mais personagens interagem com Spyro durante a jornada, cada qual com personalidades bem construídas e executadas. Além disso, o antagonista, Rypto, é mais presente na trama que o visto no jogo anterior, e ele agrega positivamente ao jogo, com uma presença marcante no mundo da obra. Uma coisa que é interessante notar é que a influência dele só existe em certos pontos do jogo, pois há fases em que as questões existentes são próprias delas, com subtramas independentes da principal, o que dá maior profundidade ao universo do jogo.
A maior variedade conceitual se traduz efetivamente em uma maior variedade prática, com diversos desafios diferentes ao longo das fases, fugindo da repetitividade e agregando positivamente à campanha. Além disso, cada fase possuí minigames diversos, geralmente implementados de maneira coerente com o mundo que estão inseridos, adicionando novas mecânicas ou aproveitando as já existentes.
No entanto, o “geralmente” na frase anterior não foi usado à toa: houve certo exagero na quantidade de desafios adicionais, o que acarretou em minigames que não são tão bem executados quanto outros, com menções especiais negativas a um que envolve coletar pedras que são do chão em uma competição com outro personagem e a outro de escoltar um alquimista. Esse excesso representa certa quebra no fluxo do jogo, que ainda que não torne a experiência necessariamente ruim, não ajuda. Outra falha de aplicação é que alguns desses desafios requerem que o protagonista domine movimentos adicionais adquiridos em pontos mais adiantados da jornada, o que falando assim não parece uma falha, mas a questão é que se esse minigame em questão for o 3º da fase, mesmo que a fase já tenha sido concluída e os dois desafios adicionais já realizados, ao voltar para a fase com a habilidade necessária o jogo força que os 2 desafios prévios sejam feitos novamente, o que representa um aborrecimento e tanto. Outro aborrecimento são as Skills Points, que são concedidas conforme certos requisitos são preenchidos nas fases, adicionando porcentagem na busca pelos 100%. A questão é que não raro algumas delas são irritantes, mas o mais irritante é que em nenhum momento o jogo te indica o que fazer. Para algumas delas até é possível conseguir pelo acaso (destruir tantos objetos X em uma fase), mas outros só com um guia mesmo, como dar 3 voltas em alta velocidade em um determinado percurso (ironicamente na mesma fase do minigame irritante de escoltar o alquimista).
Deixando os aborrecimentos de lado e retomando para as coisas boas, um ponto que Spyro 2 supera de longe seu antecessor é nas batalhas contra os chefes, com um design que utiliza bem as mecânicas do jogo. Ainda que aqui sejam apenas 3, todos possuem dinâmicas bem próprias para lidar, demandando certa atenção, especialmente a última, que se divide em 3 etapas. O combate nos chefes é bem feito, mas nem tanto em outros momentos do jogo, especialmente em ambientes menos espaçosos, em que a câmera se torna um desafio à parte. Fora isso, os controles funcionam muito bem no que o jogo foca, que é a exploração, e o level design que já era bom no primeiro jogo se torna melhor aqui, demandando percepção e inventividade para se alcançar determinados pontos dos cenários.
Mesmo com suas falhas, Spyro 2 não só é um dos pontos altos da série como do gênero em si, ganhando um remake no pacote Reignited Trilogy, mas vale dizer que mesmo a versão original de Psone (que foi a que joguei) é extremamente recomendável e garante um ótimo entretenimento.
No aspecto técnico a margem para avanço não era tão grande, pois o primeiro jogo já era muito bem feito tecnicamente, com gráficos e sons muito bons, que envelheceram bem se compararmos com outros jogos da época. Spyro 2 ainda assim apresenta uma evolução, sensível, é verdade, mas ainda assim uma evolução.
A direção artística continua ótima, com uma trilha sonora muito boa, uma direção de dublagem bem feita dentro da proposta do jogo e especialmente na construção do mundo, ou melhor, dos mundos. Eles continuam coloridos e carismáticos, mas agora estão mais variados e principalmente, mais orgânicos. No primeiro jogo praticamente a presença de elementos vivos era mais esparsa e praticamente toda ela era hostil, mas em Spyro 2 os mundos estão mais cheios de vida, sendo habitados não só por inimigos mas também por elementos amigáveis. Nesse aspecto, mais personagens interagem com Spyro durante a jornada, cada qual com personalidades bem construídas e executadas. Além disso, o antagonista, Rypto, é mais presente na trama que o visto no jogo anterior, e ele agrega positivamente ao jogo, com uma presença marcante no mundo da obra. Uma coisa que é interessante notar é que a influência dele só existe em certos pontos do jogo, pois há fases em que as questões existentes são próprias delas, com subtramas independentes da principal, o que dá maior profundidade ao universo do jogo.
A maior variedade conceitual se traduz efetivamente em uma maior variedade prática, com diversos desafios diferentes ao longo das fases, fugindo da repetitividade e agregando positivamente à campanha. Além disso, cada fase possuí minigames diversos, geralmente implementados de maneira coerente com o mundo que estão inseridos, adicionando novas mecânicas ou aproveitando as já existentes.
No entanto, o “geralmente” na frase anterior não foi usado à toa: houve certo exagero na quantidade de desafios adicionais, o que acarretou em minigames que não são tão bem executados quanto outros, com menções especiais negativas a um que envolve coletar pedras que são do chão em uma competição com outro personagem e a outro de escoltar um alquimista. Esse excesso representa certa quebra no fluxo do jogo, que ainda que não torne a experiência necessariamente ruim, não ajuda. Outra falha de aplicação é que alguns desses desafios requerem que o protagonista domine movimentos adicionais adquiridos em pontos mais adiantados da jornada, o que falando assim não parece uma falha, mas a questão é que se esse minigame em questão for o 3º da fase, mesmo que a fase já tenha sido concluída e os dois desafios adicionais já realizados, ao voltar para a fase com a habilidade necessária o jogo força que os 2 desafios prévios sejam feitos novamente, o que representa um aborrecimento e tanto. Outro aborrecimento são as Skills Points, que são concedidas conforme certos requisitos são preenchidos nas fases, adicionando porcentagem na busca pelos 100%. A questão é que não raro algumas delas são irritantes, mas o mais irritante é que em nenhum momento o jogo te indica o que fazer. Para algumas delas até é possível conseguir pelo acaso (destruir tantos objetos X em uma fase), mas outros só com um guia mesmo, como dar 3 voltas em alta velocidade em um determinado percurso (ironicamente na mesma fase do minigame irritante de escoltar o alquimista).
Deixando os aborrecimentos de lado e retomando para as coisas boas, um ponto que Spyro 2 supera de longe seu antecessor é nas batalhas contra os chefes, com um design que utiliza bem as mecânicas do jogo. Ainda que aqui sejam apenas 3, todos possuem dinâmicas bem próprias para lidar, demandando certa atenção, especialmente a última, que se divide em 3 etapas. O combate nos chefes é bem feito, mas nem tanto em outros momentos do jogo, especialmente em ambientes menos espaçosos, em que a câmera se torna um desafio à parte. Fora isso, os controles funcionam muito bem no que o jogo foca, que é a exploração, e o level design que já era bom no primeiro jogo se torna melhor aqui, demandando percepção e inventividade para se alcançar determinados pontos dos cenários.
Mesmo com suas falhas, Spyro 2 não só é um dos pontos altos da série como do gênero em si, ganhando um remake no pacote Reignited Trilogy, mas vale dizer que mesmo a versão original de Psone (que foi a que joguei) é extremamente recomendável e garante um ótimo entretenimento.