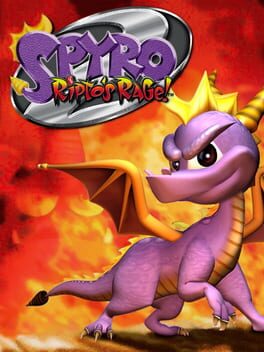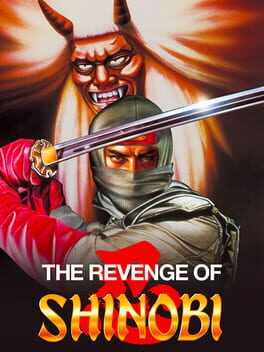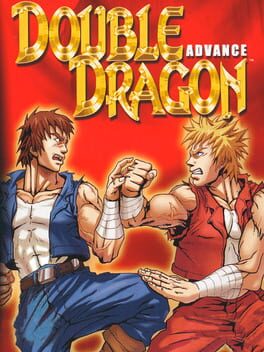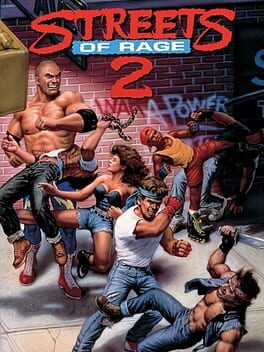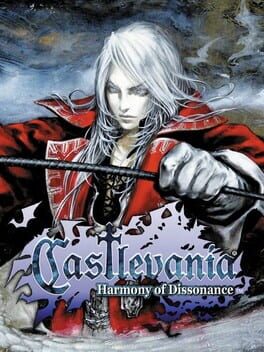Motheus
Assim como boa parte dos jogos de plataforma que vieram após Mario 64, Spyro bebeu nas fontes abertas pela obra da Nintendo, e logo de cara foi o melhor jogo do gênero no Psone, com seu sucessor, Spyro 2: Rypto’s Rage, avançando em praticamente todas as frentes.
No aspecto técnico a margem para avanço não era tão grande, pois o primeiro jogo já era muito bem feito tecnicamente, com gráficos e sons muito bons, que envelheceram bem se compararmos com outros jogos da época. Spyro 2 ainda assim apresenta uma evolução, sensível, é verdade, mas ainda assim uma evolução.
A direção artística continua ótima, com uma trilha sonora muito boa, uma direção de dublagem bem feita dentro da proposta do jogo e especialmente na construção do mundo, ou melhor, dos mundos. Eles continuam coloridos e carismáticos, mas agora estão mais variados e principalmente, mais orgânicos. No primeiro jogo praticamente a presença de elementos vivos era mais esparsa e praticamente toda ela era hostil, mas em Spyro 2 os mundos estão mais cheios de vida, sendo habitados não só por inimigos mas também por elementos amigáveis. Nesse aspecto, mais personagens interagem com Spyro durante a jornada, cada qual com personalidades bem construídas e executadas. Além disso, o antagonista, Rypto, é mais presente na trama que o visto no jogo anterior, e ele agrega positivamente ao jogo, com uma presença marcante no mundo da obra. Uma coisa que é interessante notar é que a influência dele só existe em certos pontos do jogo, pois há fases em que as questões existentes são próprias delas, com subtramas independentes da principal, o que dá maior profundidade ao universo do jogo.
A maior variedade conceitual se traduz efetivamente em uma maior variedade prática, com diversos desafios diferentes ao longo das fases, fugindo da repetitividade e agregando positivamente à campanha. Além disso, cada fase possuí minigames diversos, geralmente implementados de maneira coerente com o mundo que estão inseridos, adicionando novas mecânicas ou aproveitando as já existentes.
No entanto, o “geralmente” na frase anterior não foi usado à toa: houve certo exagero na quantidade de desafios adicionais, o que acarretou em minigames que não são tão bem executados quanto outros, com menções especiais negativas a um que envolve coletar pedras que são do chão em uma competição com outro personagem e a outro de escoltar um alquimista. Esse excesso representa certa quebra no fluxo do jogo, que ainda que não torne a experiência necessariamente ruim, não ajuda. Outra falha de aplicação é que alguns desses desafios requerem que o protagonista domine movimentos adicionais adquiridos em pontos mais adiantados da jornada, o que falando assim não parece uma falha, mas a questão é que se esse minigame em questão for o 3º da fase, mesmo que a fase já tenha sido concluída e os dois desafios adicionais já realizados, ao voltar para a fase com a habilidade necessária o jogo força que os 2 desafios prévios sejam feitos novamente, o que representa um aborrecimento e tanto. Outro aborrecimento são as Skills Points, que são concedidas conforme certos requisitos são preenchidos nas fases, adicionando porcentagem na busca pelos 100%. A questão é que não raro algumas delas são irritantes, mas o mais irritante é que em nenhum momento o jogo te indica o que fazer. Para algumas delas até é possível conseguir pelo acaso (destruir tantos objetos X em uma fase), mas outros só com um guia mesmo, como dar 3 voltas em alta velocidade em um determinado percurso (ironicamente na mesma fase do minigame irritante de escoltar o alquimista).
Deixando os aborrecimentos de lado e retomando para as coisas boas, um ponto que Spyro 2 supera de longe seu antecessor é nas batalhas contra os chefes, com um design que utiliza bem as mecânicas do jogo. Ainda que aqui sejam apenas 3, todos possuem dinâmicas bem próprias para lidar, demandando certa atenção, especialmente a última, que se divide em 3 etapas. O combate nos chefes é bem feito, mas nem tanto em outros momentos do jogo, especialmente em ambientes menos espaçosos, em que a câmera se torna um desafio à parte. Fora isso, os controles funcionam muito bem no que o jogo foca, que é a exploração, e o level design que já era bom no primeiro jogo se torna melhor aqui, demandando percepção e inventividade para se alcançar determinados pontos dos cenários.
Mesmo com suas falhas, Spyro 2 não só é um dos pontos altos da série como do gênero em si, ganhando um remake no pacote Reignited Trilogy, mas vale dizer que mesmo a versão original de Psone (que foi a que joguei) é extremamente recomendável e garante um ótimo entretenimento.
No aspecto técnico a margem para avanço não era tão grande, pois o primeiro jogo já era muito bem feito tecnicamente, com gráficos e sons muito bons, que envelheceram bem se compararmos com outros jogos da época. Spyro 2 ainda assim apresenta uma evolução, sensível, é verdade, mas ainda assim uma evolução.
A direção artística continua ótima, com uma trilha sonora muito boa, uma direção de dublagem bem feita dentro da proposta do jogo e especialmente na construção do mundo, ou melhor, dos mundos. Eles continuam coloridos e carismáticos, mas agora estão mais variados e principalmente, mais orgânicos. No primeiro jogo praticamente a presença de elementos vivos era mais esparsa e praticamente toda ela era hostil, mas em Spyro 2 os mundos estão mais cheios de vida, sendo habitados não só por inimigos mas também por elementos amigáveis. Nesse aspecto, mais personagens interagem com Spyro durante a jornada, cada qual com personalidades bem construídas e executadas. Além disso, o antagonista, Rypto, é mais presente na trama que o visto no jogo anterior, e ele agrega positivamente ao jogo, com uma presença marcante no mundo da obra. Uma coisa que é interessante notar é que a influência dele só existe em certos pontos do jogo, pois há fases em que as questões existentes são próprias delas, com subtramas independentes da principal, o que dá maior profundidade ao universo do jogo.
A maior variedade conceitual se traduz efetivamente em uma maior variedade prática, com diversos desafios diferentes ao longo das fases, fugindo da repetitividade e agregando positivamente à campanha. Além disso, cada fase possuí minigames diversos, geralmente implementados de maneira coerente com o mundo que estão inseridos, adicionando novas mecânicas ou aproveitando as já existentes.
No entanto, o “geralmente” na frase anterior não foi usado à toa: houve certo exagero na quantidade de desafios adicionais, o que acarretou em minigames que não são tão bem executados quanto outros, com menções especiais negativas a um que envolve coletar pedras que são do chão em uma competição com outro personagem e a outro de escoltar um alquimista. Esse excesso representa certa quebra no fluxo do jogo, que ainda que não torne a experiência necessariamente ruim, não ajuda. Outra falha de aplicação é que alguns desses desafios requerem que o protagonista domine movimentos adicionais adquiridos em pontos mais adiantados da jornada, o que falando assim não parece uma falha, mas a questão é que se esse minigame em questão for o 3º da fase, mesmo que a fase já tenha sido concluída e os dois desafios adicionais já realizados, ao voltar para a fase com a habilidade necessária o jogo força que os 2 desafios prévios sejam feitos novamente, o que representa um aborrecimento e tanto. Outro aborrecimento são as Skills Points, que são concedidas conforme certos requisitos são preenchidos nas fases, adicionando porcentagem na busca pelos 100%. A questão é que não raro algumas delas são irritantes, mas o mais irritante é que em nenhum momento o jogo te indica o que fazer. Para algumas delas até é possível conseguir pelo acaso (destruir tantos objetos X em uma fase), mas outros só com um guia mesmo, como dar 3 voltas em alta velocidade em um determinado percurso (ironicamente na mesma fase do minigame irritante de escoltar o alquimista).
Deixando os aborrecimentos de lado e retomando para as coisas boas, um ponto que Spyro 2 supera de longe seu antecessor é nas batalhas contra os chefes, com um design que utiliza bem as mecânicas do jogo. Ainda que aqui sejam apenas 3, todos possuem dinâmicas bem próprias para lidar, demandando certa atenção, especialmente a última, que se divide em 3 etapas. O combate nos chefes é bem feito, mas nem tanto em outros momentos do jogo, especialmente em ambientes menos espaçosos, em que a câmera se torna um desafio à parte. Fora isso, os controles funcionam muito bem no que o jogo foca, que é a exploração, e o level design que já era bom no primeiro jogo se torna melhor aqui, demandando percepção e inventividade para se alcançar determinados pontos dos cenários.
Mesmo com suas falhas, Spyro 2 não só é um dos pontos altos da série como do gênero em si, ganhando um remake no pacote Reignited Trilogy, mas vale dizer que mesmo a versão original de Psone (que foi a que joguei) é extremamente recomendável e garante um ótimo entretenimento.
Faz um tempo que compartilhei aqui minha opinião não muito favorável de Metal Slug Advance, e considerando ela, acho no mínimo curioso como a SNK acertou a mão em um jogo anterior ao do GBA e em um hardware inferior.
Mesmo que não tenha tido o sucesso do Game Boy, o Neo Geo Pocket foi um console que entregou verdadeiras pérolas e Metal Slug 1st Mission é uma delas. É impressionante como esse jogo captou a essência da série, com um level design bem feito, gráficos bonitos e com personalidade e uma jogabilidade precisa (ainda que com um probleminha).
Metal Slug 1st Mission possuí uma variedade considerável de fases, mais longas que as dos jogos de arcade, e algumas delas possuem múltiplas rotas, o que acaba direcionando para outras fases, o que adiciona um fator de replay raro na série. Além disso, ao se concluir o jogo uma personagem adicional é desbloqueada, mas isso não implica em uma jogabilidade diferente ou uma campanha à parte, ao contrário do visto na sequência.
Mas algo que de fato adiciona variedade no jogo são as fases que se passam em veículos (um avião e o tanque que dá nome à franquia) e os desdobramentos delas em caso de falhas nessas missões. Quando o avião é abatido, há uma sequência de paraquedas em que se deve soltar e abrir o paraquedas em um tempo determinado, enquanto em uma falha com o Metal Slug o personagem vai para uma cela e deve escapar dela armado apenas de uma faca.
Como de praxe na franquia, os gráficos são bonitos, com animações bem feitas que mostram do que o NGP era capaz, e a direção de arte conseguiu dar uma personalidade aos personagens e ao ambiente do jogo, com cenários que remetem mais a um conflito de guerrilha do que algo em escala global ou interplanetária.
Da parte das críticas, a trilha sonora reimagina bem algumas das faixas conhecidas da série, mas falta variedade. A outra crítica vai para um ponto da jogabilidade: o NGP possuí 3 botões (A, B e Option, que serve como Start), e a série é conhecida por usar 3 botões (ataque, pulo e granadas). A solução encontrada foi usar o botão Option para alternar entre tiro e granadas, ambas acionadas com o botão de ataque. Para pausar o jogo, deve-se apertar e segurar o Option. Não é algo que inviabilize o jogo, com o tempo dá pra se acostumar, mas não dá pra negar que não contribui em deixar os controles dinâmicos.
Com um nível de desafio bem encaixado, jogabilidade adequada (apesar do problema descrito antes), gráficos bem feitos e fator de replay não visto antes na série, Metal Slug 1st Mission proporciona uma experiência agradável a quem quer que for jogá-lo.
Mesmo que não tenha tido o sucesso do Game Boy, o Neo Geo Pocket foi um console que entregou verdadeiras pérolas e Metal Slug 1st Mission é uma delas. É impressionante como esse jogo captou a essência da série, com um level design bem feito, gráficos bonitos e com personalidade e uma jogabilidade precisa (ainda que com um probleminha).
Metal Slug 1st Mission possuí uma variedade considerável de fases, mais longas que as dos jogos de arcade, e algumas delas possuem múltiplas rotas, o que acaba direcionando para outras fases, o que adiciona um fator de replay raro na série. Além disso, ao se concluir o jogo uma personagem adicional é desbloqueada, mas isso não implica em uma jogabilidade diferente ou uma campanha à parte, ao contrário do visto na sequência.
Mas algo que de fato adiciona variedade no jogo são as fases que se passam em veículos (um avião e o tanque que dá nome à franquia) e os desdobramentos delas em caso de falhas nessas missões. Quando o avião é abatido, há uma sequência de paraquedas em que se deve soltar e abrir o paraquedas em um tempo determinado, enquanto em uma falha com o Metal Slug o personagem vai para uma cela e deve escapar dela armado apenas de uma faca.
Como de praxe na franquia, os gráficos são bonitos, com animações bem feitas que mostram do que o NGP era capaz, e a direção de arte conseguiu dar uma personalidade aos personagens e ao ambiente do jogo, com cenários que remetem mais a um conflito de guerrilha do que algo em escala global ou interplanetária.
Da parte das críticas, a trilha sonora reimagina bem algumas das faixas conhecidas da série, mas falta variedade. A outra crítica vai para um ponto da jogabilidade: o NGP possuí 3 botões (A, B e Option, que serve como Start), e a série é conhecida por usar 3 botões (ataque, pulo e granadas). A solução encontrada foi usar o botão Option para alternar entre tiro e granadas, ambas acionadas com o botão de ataque. Para pausar o jogo, deve-se apertar e segurar o Option. Não é algo que inviabilize o jogo, com o tempo dá pra se acostumar, mas não dá pra negar que não contribui em deixar os controles dinâmicos.
Com um nível de desafio bem encaixado, jogabilidade adequada (apesar do problema descrito antes), gráficos bem feitos e fator de replay não visto antes na série, Metal Slug 1st Mission proporciona uma experiência agradável a quem quer que for jogá-lo.
2003
Ninja Five-O remete aos jogos da época dos 8 bits, com foco na mecânica de jogo. O enredo é básico ao extremo: desbaratinar uma organização terrorista cujos líderes usam máscaras que lhes conferem poderes mágicos, e é isso. Pouco sabemos sobre qualquer personagens, protagonistas e antagonistas. Não há diálogos. O protagonista não está em uma jornada grandiosa, nem irá se deparar com seu passado, tampouco passará por uma jornada de crescimento pessoal, redenção ou perdição. Não, ele só está fazendo o dever de um ninja-policial (ou policial-ninja, fica a critério): combater a criminalidade e resgatar inocentes.
Aqui, a história serve como pretexto para a mecânica e também como fundamento para a ambientação não só para o design das fases mas também para as sensações que o jogo propicia. Ninja Five-O é um caso interessante de jogo com uma história rasa mas com uma ambientação extremamente bem feita, calcada na maneira em que a jogabilidade foi executada e em escolhas artísticas, bem aplicadas no visual e nem tanto no sonoro. A construção do mundo em que o jogo se passa se dá muito mais pela ambientação e pela sensação que a mecânica passa do que pela história e a maneira em que essa história é contada.
Em relação à jogabilidade, o conceito proposto pode ser descrito como "Ninja Gaiden encontra Bionic Commando", mas aqui tudo flui com uma liberdade e fluidez pouco vista. A jogabilidade é extremamente gostosa, e a primeira parte é muito competente em mostrar as maneiras possíveis de se locomover, abordar os inimigos e navegar pelo cenário. A principal ferramenta de movimentação do jogo é o gancho, acionado ao apertar o botão de pulo 2 vezes. O gancho pode tanto ir pra cima em linha reta como em diagonal, e tem um alcance consideravelmente maior que em Bionic Commando, mas divide com o jogo da Capcom o princípio de contar com o balanço como impulso para o próximo salto e disparo do gancho. Uma diferença entre Bionic Commando e Ninja Five-O é que enquanto no jogo da Capcom o personagem passa através da plataforma em que se conecta, em Ninja Five-O o gancho é utilizado junto ao balanço para contornar as plataformas, dependendo do quanto o personagem balança e de quanto o gancho está estendido. Quanto mais estendida a corrente com o gancho o personagem maior será o impulso, e quanto maior o impulso, mais velocidade e alcance. A física do jogo é tão bem feita que essa operação é extremamente fluida, ajudando a criar uma sensação de perícia e habilidade que dão uma contribuição essencial para a ambientação que se quer passar, no caso, a de ninjas que se deslocam em e atacam em alta velocidade, em perfeita sintonia com a ideia que a Cultura Pop passa do que são ninjas.
Ainda sobre a relação da jogabilidade contribuir para a ambientação e a ideia do que são ninjas vale mencionar o sistema de pontuação, que possui uma utilidade prática. Ao atingir 50 mil pontos, as barras de energia e especial são totalmente preenchidas. Dependendo da forma que um inimigo é abatido, mais pontos serão dados. O jogo incentiva derrotar inimigos usando a espada sem que eles percebam não só dará mais pontos como preencherá a barra de especial mais rapidamente, recompensando uma abordagem furtiva ou ao menos combates de curta distância. A barra de especial tem uma função dupla; com a barra completa, um ataque de tela cheia será acionado, em que todos os inimigos tela serão derrotados, e em caso de presença de reféns, estes não sofrerão dano. Mesmo em chefes esse ataque causa um dano considerável. Já com a barra parcialmente cheia, acionar esse mecanismo proporcionará invencibilidade ao personagem enquanto houver “carga” na barra, além de fazer com que ele não seja jogado para trás em caso de impacto. Por fim, a última ferramenta de ataque são projéteis, no caso shurikens (que podem ter até três progressões de força, com power ups coletados durante as fases).
Sobre o componente de stealth, os inimigos são capazes de escutar o personagem, adicionando uma camada de imprevisibilidade, no entanto, os critérios para que os inimigos escutem o protagonista se aproximar não são muito claros, o que não inviabiliza esse tipo de abordagem, mas a torna desnecessariamente mais trabalhosa. Ao menos as consequências de ser descoberto não são grandes, mas inegavelmente é uma das (poucas) quebras do jogo.
Voltando para a ambientação que Ninja Five-O proporciona, um ponto importante é a direção artística. Começando pela trilha sonora, que é o quesito mais difícil de avaliar. Ela não é ruim, pelo contrário; as composições se encaixam perfeitamente ao conceito do jogo, lembrando bastante trilhas sonoras de filmes de ação dos anos 80 e início dos 90, especialmente as que envolviam cenas de infiltração no covil inimigo. O que pesa contra ela é o fato de ser repetitiva, com apenas 9 músicas, incluindo as de introdução e de encerramento. Ao longo da campanha, 5 músicas vão ser as mais tocadas, sendo que uma delas é para chefes e a outra é a de game over.
Visualmente, o jogo é bem feito, e os inimigos são uma mescla de filmes de ação dos 80 e 90 e os tokusatsus do mesmo período. O quadro de inimigos é composto por criminosos carecas de terno, mercenários uniformizados, ninjas, armaduras samurais gigantes, além de animais como morcegos, cobras, sapos, etc. Os desenvolvedores realizaram uma abordagem que lembra um Beat’em Up, com os sprites dos adversários são iguais entre si, só mudando as cores, cada um com um padrão de ataque consideravelmente diferente entre si. Os chefes são um capítulo à parte, remetendo ao folclore japonês, passando por kabukis com naginatas, ninjas montados em sapo, e outros com mais liberdades poéticas, como um demônio morcego.
Acompanhado de uma direção de arte competente, Ninja Five-O é muito bom tecnicamente, tendo personagens (protagonista, inimigos e chefes) com animações fluidas, entre as melhores do GBA, cenários com um número razoável de elementos, pequenos detalhes diversos (animações diversas para mortes do protagonista, por exemplo), sons claros de metais batendo/cortando outras coisas, etc.
Apesar de ter sido lançado pela Konami, o jogo foi desenvolvido pela Hudson, conhecida principalmente pela série Bomberman. A importância dessa série para a Hudson pode ser percebida pelo fato de praticamente toda a equipe de desenvolvimento de Ninja Five-O ter exercido alguma função em diversos episódios de Bomberman, e acredito que essa experiência prévia teve influência no resultado final de Ninja Five-O.
Encontrar uma maneira de lidar com os elementos dispostos é o mais próximo de um puzzle que um jogo de ação pode chegar (ou o mais próximo que um jogo de ação pode chegar de um puzzle). Aqui que acredito ser possível fazer um paralelo com Bomberman, em que a visão do cenário é essencial. Na clássica série da Hudson, todo o cenário é visto de uma vez, enquanto em Ninja Five-O é possível controlar a câmera (com um limite de alcance) com o botão de ombro esquerdo. Essa relação “personagem-cenário” pode ser aplicada na maioria dos jogos existentes, mas nos dois jogos da Hudson há camadas a mais com dinâmicas próprias para cada. A interação com cenário é essencial para atacar em ambos, mas enquanto em Bomberman essa interação ocorre por meio das bombas, em Ninja Five-O a interação é pelo movimento, que com a devida perícia pode colocar rapidamente o protagonista no ponto em que se quer chegar.
Ainda que o jogo não mexa na estrutura base ao longo da campanha, a maneira como diferentes elementos são adicionados às fases é exemplar, proporcionando oportunidades para que as habilidades de quem está jogando sejam aprimoradas para que possa ter a compreensão e o domínio dos recursos oferecidos para lidar com a situação apresentada. Vão sendo incorporados aos cenários elementos como lanças-chamas, poços com espinhos, trechos eletrocutados, etc, e o jogo é projetado de forma que o condicionamento do público aos desafios não seja frustrante. Exemplo disso é a forma com que as 6 fases são estruturadas: cada fase é dividida em segmentos (20 distribuídos nas 6 fases), e não há um limite de vidas para se concluir as etapas, e o mesmo se aplica aos chefes. Fica a critério de quem joga repetir o estágio ou a fase completa, caso queira chegar com mais recursos na sessão seguinte.
Ninja Five-O sem dúvida é um jogo curto, o que não é algo exatamente bom, mas por outro lado, essa brevidade evitou que o resultado final ficasse repetitivo. Particularmente gostaria de mais variações, como por exemplo a vista na última fase, em que deve-se fazer uma fuga cronometrada. Imagino que esse segmento não foi algo isolado na concepção do projeto do jogo, mas que por motivos diversos, como falta de tempo ou recursos, não pôde ser explorado mais vezes. Talvez uma sequência poderia proporcionar uma maior variedade de jogabilidades, mas tendo em vista as poucas vendas, a Konami, publicadora do jogo, acabou se entusiasmando muito, o que é uma pena.
Lançado em 2003, Ninja Five-O estava inserido em um período em que a indústria estava experimentando conceitos mais imersivos e com foco em histórias elaboradas e um estreitamento da relação mecânica/narrativa, com Shenmue (99-2000) e Ico (2001) sendo exemplos dessa tendência. Os dois jogos citados são de hardwares superiores ao GBA, mas no próprio portátil da Nintendo há jogos com maior ênfase em contar histórias, como Castlevania: Aria of Sorrow e Mario & Luigi: Superstar Saga, ambos também lançados em 2003. Em todos os aspectos do jogo, é possível ver que a Hudson não se limitou a simplesmente replicar o que foi visto, pelo contrário, expandiu os conceitos vistos na época, proporcionando uma belíssima ode aos jogos dos anos 80.
Aqui, a história serve como pretexto para a mecânica e também como fundamento para a ambientação não só para o design das fases mas também para as sensações que o jogo propicia. Ninja Five-O é um caso interessante de jogo com uma história rasa mas com uma ambientação extremamente bem feita, calcada na maneira em que a jogabilidade foi executada e em escolhas artísticas, bem aplicadas no visual e nem tanto no sonoro. A construção do mundo em que o jogo se passa se dá muito mais pela ambientação e pela sensação que a mecânica passa do que pela história e a maneira em que essa história é contada.
Em relação à jogabilidade, o conceito proposto pode ser descrito como "Ninja Gaiden encontra Bionic Commando", mas aqui tudo flui com uma liberdade e fluidez pouco vista. A jogabilidade é extremamente gostosa, e a primeira parte é muito competente em mostrar as maneiras possíveis de se locomover, abordar os inimigos e navegar pelo cenário. A principal ferramenta de movimentação do jogo é o gancho, acionado ao apertar o botão de pulo 2 vezes. O gancho pode tanto ir pra cima em linha reta como em diagonal, e tem um alcance consideravelmente maior que em Bionic Commando, mas divide com o jogo da Capcom o princípio de contar com o balanço como impulso para o próximo salto e disparo do gancho. Uma diferença entre Bionic Commando e Ninja Five-O é que enquanto no jogo da Capcom o personagem passa através da plataforma em que se conecta, em Ninja Five-O o gancho é utilizado junto ao balanço para contornar as plataformas, dependendo do quanto o personagem balança e de quanto o gancho está estendido. Quanto mais estendida a corrente com o gancho o personagem maior será o impulso, e quanto maior o impulso, mais velocidade e alcance. A física do jogo é tão bem feita que essa operação é extremamente fluida, ajudando a criar uma sensação de perícia e habilidade que dão uma contribuição essencial para a ambientação que se quer passar, no caso, a de ninjas que se deslocam em e atacam em alta velocidade, em perfeita sintonia com a ideia que a Cultura Pop passa do que são ninjas.
Ainda sobre a relação da jogabilidade contribuir para a ambientação e a ideia do que são ninjas vale mencionar o sistema de pontuação, que possui uma utilidade prática. Ao atingir 50 mil pontos, as barras de energia e especial são totalmente preenchidas. Dependendo da forma que um inimigo é abatido, mais pontos serão dados. O jogo incentiva derrotar inimigos usando a espada sem que eles percebam não só dará mais pontos como preencherá a barra de especial mais rapidamente, recompensando uma abordagem furtiva ou ao menos combates de curta distância. A barra de especial tem uma função dupla; com a barra completa, um ataque de tela cheia será acionado, em que todos os inimigos tela serão derrotados, e em caso de presença de reféns, estes não sofrerão dano. Mesmo em chefes esse ataque causa um dano considerável. Já com a barra parcialmente cheia, acionar esse mecanismo proporcionará invencibilidade ao personagem enquanto houver “carga” na barra, além de fazer com que ele não seja jogado para trás em caso de impacto. Por fim, a última ferramenta de ataque são projéteis, no caso shurikens (que podem ter até três progressões de força, com power ups coletados durante as fases).
Sobre o componente de stealth, os inimigos são capazes de escutar o personagem, adicionando uma camada de imprevisibilidade, no entanto, os critérios para que os inimigos escutem o protagonista se aproximar não são muito claros, o que não inviabiliza esse tipo de abordagem, mas a torna desnecessariamente mais trabalhosa. Ao menos as consequências de ser descoberto não são grandes, mas inegavelmente é uma das (poucas) quebras do jogo.
Voltando para a ambientação que Ninja Five-O proporciona, um ponto importante é a direção artística. Começando pela trilha sonora, que é o quesito mais difícil de avaliar. Ela não é ruim, pelo contrário; as composições se encaixam perfeitamente ao conceito do jogo, lembrando bastante trilhas sonoras de filmes de ação dos anos 80 e início dos 90, especialmente as que envolviam cenas de infiltração no covil inimigo. O que pesa contra ela é o fato de ser repetitiva, com apenas 9 músicas, incluindo as de introdução e de encerramento. Ao longo da campanha, 5 músicas vão ser as mais tocadas, sendo que uma delas é para chefes e a outra é a de game over.
Visualmente, o jogo é bem feito, e os inimigos são uma mescla de filmes de ação dos 80 e 90 e os tokusatsus do mesmo período. O quadro de inimigos é composto por criminosos carecas de terno, mercenários uniformizados, ninjas, armaduras samurais gigantes, além de animais como morcegos, cobras, sapos, etc. Os desenvolvedores realizaram uma abordagem que lembra um Beat’em Up, com os sprites dos adversários são iguais entre si, só mudando as cores, cada um com um padrão de ataque consideravelmente diferente entre si. Os chefes são um capítulo à parte, remetendo ao folclore japonês, passando por kabukis com naginatas, ninjas montados em sapo, e outros com mais liberdades poéticas, como um demônio morcego.
Acompanhado de uma direção de arte competente, Ninja Five-O é muito bom tecnicamente, tendo personagens (protagonista, inimigos e chefes) com animações fluidas, entre as melhores do GBA, cenários com um número razoável de elementos, pequenos detalhes diversos (animações diversas para mortes do protagonista, por exemplo), sons claros de metais batendo/cortando outras coisas, etc.
Apesar de ter sido lançado pela Konami, o jogo foi desenvolvido pela Hudson, conhecida principalmente pela série Bomberman. A importância dessa série para a Hudson pode ser percebida pelo fato de praticamente toda a equipe de desenvolvimento de Ninja Five-O ter exercido alguma função em diversos episódios de Bomberman, e acredito que essa experiência prévia teve influência no resultado final de Ninja Five-O.
Encontrar uma maneira de lidar com os elementos dispostos é o mais próximo de um puzzle que um jogo de ação pode chegar (ou o mais próximo que um jogo de ação pode chegar de um puzzle). Aqui que acredito ser possível fazer um paralelo com Bomberman, em que a visão do cenário é essencial. Na clássica série da Hudson, todo o cenário é visto de uma vez, enquanto em Ninja Five-O é possível controlar a câmera (com um limite de alcance) com o botão de ombro esquerdo. Essa relação “personagem-cenário” pode ser aplicada na maioria dos jogos existentes, mas nos dois jogos da Hudson há camadas a mais com dinâmicas próprias para cada. A interação com cenário é essencial para atacar em ambos, mas enquanto em Bomberman essa interação ocorre por meio das bombas, em Ninja Five-O a interação é pelo movimento, que com a devida perícia pode colocar rapidamente o protagonista no ponto em que se quer chegar.
Ainda que o jogo não mexa na estrutura base ao longo da campanha, a maneira como diferentes elementos são adicionados às fases é exemplar, proporcionando oportunidades para que as habilidades de quem está jogando sejam aprimoradas para que possa ter a compreensão e o domínio dos recursos oferecidos para lidar com a situação apresentada. Vão sendo incorporados aos cenários elementos como lanças-chamas, poços com espinhos, trechos eletrocutados, etc, e o jogo é projetado de forma que o condicionamento do público aos desafios não seja frustrante. Exemplo disso é a forma com que as 6 fases são estruturadas: cada fase é dividida em segmentos (20 distribuídos nas 6 fases), e não há um limite de vidas para se concluir as etapas, e o mesmo se aplica aos chefes. Fica a critério de quem joga repetir o estágio ou a fase completa, caso queira chegar com mais recursos na sessão seguinte.
Ninja Five-O sem dúvida é um jogo curto, o que não é algo exatamente bom, mas por outro lado, essa brevidade evitou que o resultado final ficasse repetitivo. Particularmente gostaria de mais variações, como por exemplo a vista na última fase, em que deve-se fazer uma fuga cronometrada. Imagino que esse segmento não foi algo isolado na concepção do projeto do jogo, mas que por motivos diversos, como falta de tempo ou recursos, não pôde ser explorado mais vezes. Talvez uma sequência poderia proporcionar uma maior variedade de jogabilidades, mas tendo em vista as poucas vendas, a Konami, publicadora do jogo, acabou se entusiasmando muito, o que é uma pena.
Lançado em 2003, Ninja Five-O estava inserido em um período em que a indústria estava experimentando conceitos mais imersivos e com foco em histórias elaboradas e um estreitamento da relação mecânica/narrativa, com Shenmue (99-2000) e Ico (2001) sendo exemplos dessa tendência. Os dois jogos citados são de hardwares superiores ao GBA, mas no próprio portátil da Nintendo há jogos com maior ênfase em contar histórias, como Castlevania: Aria of Sorrow e Mario & Luigi: Superstar Saga, ambos também lançados em 2003. Em todos os aspectos do jogo, é possível ver que a Hudson não se limitou a simplesmente replicar o que foi visto, pelo contrário, expandiu os conceitos vistos na época, proporcionando uma belíssima ode aos jogos dos anos 80.
The Revenge of Shinobi tem uma importância histórica inegável, sendo pioneiro em vários aspectos, mas por outro lado ele não envelheceu muito bem, e a medida que se vai avançando no jogo, a experiência fica cada vez menos agradável, e acredito que esse seja um dos primeiros exemplos em que as aparências tenham sido postas à frente da substância, de maneira voluntária ou não.
É sabido que TRoS foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, servindo como vitrine para o poder gráfico e sonoro do console da Sega. Os jogos que ou o antecederam ou saíram aproxidamente no mesmo período eram conversões do arcade, que por mais impressionantes que fossem, não eram experiências duradouras o bastante. Por exemplo, Altered Beast podia ser terminado em menos de 1 hora. Assim sendo, Revenge of Shinobi foi um dos primeiros jogos a serem pensados e construídos para um console de mesa, ou seja, com duração mais longa, maior enfâse na narrativa e mais recursos de jogabilidade, no caso, os quatro ninjutsus que permitiam que os inimigos do cenário fossem instantaneamente destruídos, protegessem o personagem, permitiam saltos mais altos e por fim o que provocava uma explosão que causava grandes danos aos chefes, e ainda que este custasse uma vida, o protagonista voltava com a barra de energia cheia. Assim sendo, caso se estivesse com pouca energia em uma luta contra um chefe e era praticamente certo que a vida seria perdida, esse recurso podia ser acionado, o chefe receberia uma grande quantidade de dano e o personagem voltaria com a vida cheia. Isso adicionava uma camada de estratégia pouco vista nos jogos em geral, fossem de consoles ou arcades.
As possibilidades que o jogo oferecia ao seu público causavam interesse, mas o que realmente chamava a atenção eram os gráficos, fora de série para o período, e até hoje pode-se elogiar seus sprites, mas o que não dá pra deixar passar é qualidade de sua trilha sonora, um marco atemporal. O autor, Yuzo Koshiro, conseguiu mesclar elementos de música tradicional japonesa com o que estava em voga na música pop da época, criando uma obra que está entre as mais marcantes da história. Ok, talvez seja exagero meu (bem provável que seja exagero, sendo sincero), mas vale uma conferida. A trilha sonora é essencial para a ambientação do jogo, que toma vantagem de outra tendência dos anos 80 e 90: ninjas. Esse foi um momento que ninjas tinham moradia fixa no imaginário popular, com uma infinidade de filmes, HQ's e naturalmente, jogos. Pouco importava se correspondiam ou não à figura histórica dos ninjas.
O jogo da Sega trabalha bem o conceito do ninja dos 80, que podia estar tanto em um cenário tradicional japonês como em uma paisagem urbana tipicamente dos EUA, passando por bases militares, complexos industriais, ferros velhos, etc. Era basicamente a ambientação de qualquer tokusatsu do período.
Por ser um chamariz, a equipe de desenvolvimento fez um ótimo trabalho na construção da primeira impressão que o jogo passava ao público. As primeiras fases não só ensinavam efetivamente as mecânicas do jogo como também passavam uma sensação de destreza do personagem, de que os obstáculos poderiam ser superados com raciocínio rápido e precisão. Não que fosse algo sem desafio algum, mas sim um desafio justo.
A medida que o jogo vai avançando, a dificuldade vai aumentando, o que é compreensível e até mesmo esperado, mas o nível de justiça dos desafios vai caindo, o que acaba tornando a experiência bem, mas beeem frustrante. No início, os cenários são abertos e os inimigos estão posicionados de maneira que dão tempo para que se reaja adequadamente. Isso não torna o jogo fácil, mas com uma dificuldade justa. Nas fases seguintes, as fases passam a ocorrer em espaços mais restritos, e além disso não só o posicionamento dos inimigos passa a ficar mais cretino como as características deles passam a ser mais cretinas, e o exemplo mais cristalino disso são os que atacam com armas de fogo, que não contentes em aparecer praticamente na sua cara, atacam com projetéis rápidos, tirando totalmente o tempo de reação.
Por se tratar de um jogo para mostrar as capacidades técnicas do Mega Drive, os sprites dos personagens são grandes, bem grandes, algo incomum para os consoles. Em termos de comparação, sugiro olhar para os sprites de jogos como Castlevania, Ninja Gaiden, Contra, Mega Man, enfim, qualquer outro jogo. A composição "personagem - cenários - obstáculos - inimigos" permite uma visualização clara do desafio, permitindo que se planeje a maneira como esse desafio será lidado. Em TRoS não consegui perceber isso. Tudo fica muito espremido, tirando tempo e espaço para reação, e considerando a posição dos inimigos, isso deixa a equação toda muito frustrante.
Dito tudo isso, The Revenge of Shinobi é um jogo que vale ser conferido por sua proposta de apresentar o potencial de um novo console em um momento em que esse conceito era relativamente novo, além por buscar aperfeiçoar a fórmula de um jogo nascido nos arcades adaptado para os consoles, mas também recomendo a observação dos pontos em que ele erra, pois são mostras dos dilemas do game design do período, dilemas que ainda eram bem novos e que não se tinha ideias muito claras de como lidar com eles, como exemplo mais notório a proporção da dificuldade apresentada. No entanto, não acho possível recomendar The Revenge of the Shinobi por seus méritos como jogo em si
É sabido que TRoS foi um dos primeiros jogos do Mega Drive, servindo como vitrine para o poder gráfico e sonoro do console da Sega. Os jogos que ou o antecederam ou saíram aproxidamente no mesmo período eram conversões do arcade, que por mais impressionantes que fossem, não eram experiências duradouras o bastante. Por exemplo, Altered Beast podia ser terminado em menos de 1 hora. Assim sendo, Revenge of Shinobi foi um dos primeiros jogos a serem pensados e construídos para um console de mesa, ou seja, com duração mais longa, maior enfâse na narrativa e mais recursos de jogabilidade, no caso, os quatro ninjutsus que permitiam que os inimigos do cenário fossem instantaneamente destruídos, protegessem o personagem, permitiam saltos mais altos e por fim o que provocava uma explosão que causava grandes danos aos chefes, e ainda que este custasse uma vida, o protagonista voltava com a barra de energia cheia. Assim sendo, caso se estivesse com pouca energia em uma luta contra um chefe e era praticamente certo que a vida seria perdida, esse recurso podia ser acionado, o chefe receberia uma grande quantidade de dano e o personagem voltaria com a vida cheia. Isso adicionava uma camada de estratégia pouco vista nos jogos em geral, fossem de consoles ou arcades.
As possibilidades que o jogo oferecia ao seu público causavam interesse, mas o que realmente chamava a atenção eram os gráficos, fora de série para o período, e até hoje pode-se elogiar seus sprites, mas o que não dá pra deixar passar é qualidade de sua trilha sonora, um marco atemporal. O autor, Yuzo Koshiro, conseguiu mesclar elementos de música tradicional japonesa com o que estava em voga na música pop da época, criando uma obra que está entre as mais marcantes da história. Ok, talvez seja exagero meu (bem provável que seja exagero, sendo sincero), mas vale uma conferida. A trilha sonora é essencial para a ambientação do jogo, que toma vantagem de outra tendência dos anos 80 e 90: ninjas. Esse foi um momento que ninjas tinham moradia fixa no imaginário popular, com uma infinidade de filmes, HQ's e naturalmente, jogos. Pouco importava se correspondiam ou não à figura histórica dos ninjas.
O jogo da Sega trabalha bem o conceito do ninja dos 80, que podia estar tanto em um cenário tradicional japonês como em uma paisagem urbana tipicamente dos EUA, passando por bases militares, complexos industriais, ferros velhos, etc. Era basicamente a ambientação de qualquer tokusatsu do período.
Por ser um chamariz, a equipe de desenvolvimento fez um ótimo trabalho na construção da primeira impressão que o jogo passava ao público. As primeiras fases não só ensinavam efetivamente as mecânicas do jogo como também passavam uma sensação de destreza do personagem, de que os obstáculos poderiam ser superados com raciocínio rápido e precisão. Não que fosse algo sem desafio algum, mas sim um desafio justo.
A medida que o jogo vai avançando, a dificuldade vai aumentando, o que é compreensível e até mesmo esperado, mas o nível de justiça dos desafios vai caindo, o que acaba tornando a experiência bem, mas beeem frustrante. No início, os cenários são abertos e os inimigos estão posicionados de maneira que dão tempo para que se reaja adequadamente. Isso não torna o jogo fácil, mas com uma dificuldade justa. Nas fases seguintes, as fases passam a ocorrer em espaços mais restritos, e além disso não só o posicionamento dos inimigos passa a ficar mais cretino como as características deles passam a ser mais cretinas, e o exemplo mais cristalino disso são os que atacam com armas de fogo, que não contentes em aparecer praticamente na sua cara, atacam com projetéis rápidos, tirando totalmente o tempo de reação.
Por se tratar de um jogo para mostrar as capacidades técnicas do Mega Drive, os sprites dos personagens são grandes, bem grandes, algo incomum para os consoles. Em termos de comparação, sugiro olhar para os sprites de jogos como Castlevania, Ninja Gaiden, Contra, Mega Man, enfim, qualquer outro jogo. A composição "personagem - cenários - obstáculos - inimigos" permite uma visualização clara do desafio, permitindo que se planeje a maneira como esse desafio será lidado. Em TRoS não consegui perceber isso. Tudo fica muito espremido, tirando tempo e espaço para reação, e considerando a posição dos inimigos, isso deixa a equação toda muito frustrante.
Dito tudo isso, The Revenge of Shinobi é um jogo que vale ser conferido por sua proposta de apresentar o potencial de um novo console em um momento em que esse conceito era relativamente novo, além por buscar aperfeiçoar a fórmula de um jogo nascido nos arcades adaptado para os consoles, mas também recomendo a observação dos pontos em que ele erra, pois são mostras dos dilemas do game design do período, dilemas que ainda eram bem novos e que não se tinha ideias muito claras de como lidar com eles, como exemplo mais notório a proporção da dificuldade apresentada. No entanto, não acho possível recomendar The Revenge of the Shinobi por seus méritos como jogo em si
2000
Inegavelmente Syphon Filter 2 tem um escopo maior que o antecessor, gerando saltos adiante em vários aspectos: uma campanha com 2 CD's, 2 personagens jogáveis, missões ainda mais variadas, enredo mais intrincado (mesmo que usando de clichês dos filmes de ação do período). Além disso, também há uma melhora técnica, com gráficos e animações sensivelmente melhores e uma trilha sonora mais variada e se encaixando perfeitamente no momento em que a trama está se passando. Um recurso inovador para a época em jogos de console é que era possível salvar o jogo durante a missão, e quando a campanha fosse carregada a fase era retomada do último check point, permitindo que não se tivesse que jogar a fase inteira caso surgisse a necessidade de interromper o jogo.
Syphon Filter 2 é um bom retrato da ambição dos desenvolvedores em aumentar o escopo da obra, e na maior parte do jogo ele não só acerta de maneira mais certeira onde seu predecessor também foi bem sucedido, como também têm êxitos em outros aspectos.
Dito isso, fiz questão de salientar "na maior parte do jogo", pois há alguns pontos em que o jogo é claramente mais ambicioso do que os recursos disponíveis, sejam técnicos ou de expertise, não eram suficientes. Há momentos em que o jogo pede certas ações para progressão, e requisita isso de forma pouco clara, ocasionando momentos de frustração. Por exemplo, no final de uma fase deve-se neutralizar um alvo sem matá-lo, mas ele pode matar a protagonista. Até aí tudo bem, mas o jogo não deixa claro que o que é pedido é só seguir o alvo até o final da fase. Pode-se argumentar que seguir o outro personagem até certo ponto seria uma conclusão lógica, mas caso ele seja perdido de vista isso gerará uma falha na missão. Outro momento é quando o protagonista deve escapar de um centro de pesquisa em que ele é levado depois de capturado. É uma missão muito interessante, tornando necessário que o jogador se disfarce de pesquisador, mas como ele só coloca um jaleco branco, não se pode ser pego pelas câmeras ou olhar algum inimigo de frente. Enfim, lá pelas tantas chega-se a um beco sem saída, em que se rodou pelo mapa inteiro sem encontrar uma solução. Pois bem, o jogador deve pegar uma faca em uma maca para abater um guarda, só que não há NENHUMA indicação de que isso deve ser feito. Não que eu espere a resposta na minha cara, mas que pelo menos o jogo dê uma pista disso. O jogo gera uma legenda padrão quando os personagens chegam perto de um objeto de interação, e nesse caso o máximo que ele faz é ampliar a distância em que esse aviso aparece, o que venhamos e convenhamos, é muito pouco.
Outro ponto de irritação do game design é o posicionamento dos inimigos, e aqui há um retrocesso em comparação ao primeiro jogo. Em SF 2 eles aparecem quando atinge-se certo ponto do cenário, e na maior parte das vezes eles aparecem do nada, sem dar o devido tempo para reação, o que torna esses momentos um mero processo de memorização, de tentativa e erro, o que é bem frustrante para um jogo do gênero.
Considerações feitas, Syphon Filter 2 é um jogo melhor que o seu antecessor, mas que por falhas pontuais esse salto acaba não sendo muito grande, o que faz com que eu dê a mesma nota que eu dei pro primeiro, 3.5 (acho que eu dei essa nota), pois 3.75 seria o ideal. Ainda assim, é um jogo interessante, que garante um bom entretenimento na maior parte do tempo e cujas falhas, por mais enervantes que sejam, não tornam a experiência inviável, o que faz com que eu recomende para quem quer que tenha curiosidade sobre jogos de ação do período e a interação que eles faziam com esse gênero no cinema.
Syphon Filter 2 é um bom retrato da ambição dos desenvolvedores em aumentar o escopo da obra, e na maior parte do jogo ele não só acerta de maneira mais certeira onde seu predecessor também foi bem sucedido, como também têm êxitos em outros aspectos.
Dito isso, fiz questão de salientar "na maior parte do jogo", pois há alguns pontos em que o jogo é claramente mais ambicioso do que os recursos disponíveis, sejam técnicos ou de expertise, não eram suficientes. Há momentos em que o jogo pede certas ações para progressão, e requisita isso de forma pouco clara, ocasionando momentos de frustração. Por exemplo, no final de uma fase deve-se neutralizar um alvo sem matá-lo, mas ele pode matar a protagonista. Até aí tudo bem, mas o jogo não deixa claro que o que é pedido é só seguir o alvo até o final da fase. Pode-se argumentar que seguir o outro personagem até certo ponto seria uma conclusão lógica, mas caso ele seja perdido de vista isso gerará uma falha na missão. Outro momento é quando o protagonista deve escapar de um centro de pesquisa em que ele é levado depois de capturado. É uma missão muito interessante, tornando necessário que o jogador se disfarce de pesquisador, mas como ele só coloca um jaleco branco, não se pode ser pego pelas câmeras ou olhar algum inimigo de frente. Enfim, lá pelas tantas chega-se a um beco sem saída, em que se rodou pelo mapa inteiro sem encontrar uma solução. Pois bem, o jogador deve pegar uma faca em uma maca para abater um guarda, só que não há NENHUMA indicação de que isso deve ser feito. Não que eu espere a resposta na minha cara, mas que pelo menos o jogo dê uma pista disso. O jogo gera uma legenda padrão quando os personagens chegam perto de um objeto de interação, e nesse caso o máximo que ele faz é ampliar a distância em que esse aviso aparece, o que venhamos e convenhamos, é muito pouco.
Outro ponto de irritação do game design é o posicionamento dos inimigos, e aqui há um retrocesso em comparação ao primeiro jogo. Em SF 2 eles aparecem quando atinge-se certo ponto do cenário, e na maior parte das vezes eles aparecem do nada, sem dar o devido tempo para reação, o que torna esses momentos um mero processo de memorização, de tentativa e erro, o que é bem frustrante para um jogo do gênero.
Considerações feitas, Syphon Filter 2 é um jogo melhor que o seu antecessor, mas que por falhas pontuais esse salto acaba não sendo muito grande, o que faz com que eu dê a mesma nota que eu dei pro primeiro, 3.5 (acho que eu dei essa nota), pois 3.75 seria o ideal. Ainda assim, é um jogo interessante, que garante um bom entretenimento na maior parte do tempo e cujas falhas, por mais enervantes que sejam, não tornam a experiência inviável, o que faz com que eu recomende para quem quer que tenha curiosidade sobre jogos de ação do período e a interação que eles faziam com esse gênero no cinema.
2004
Esse é um caso em que quase tudo foi feito certo, mas uns poucos erros causaram um estrago que torna a experiência pouco agradável.
Das coisas que foram bem feitas, o Metal Slug Advance é uma proeza técnica, com gráficos e som que mimetizam muito bem a arte conhecida da série. Começando pelo som, é um bom aspecto do jogo, tanto no campo artístico como no técnico, com uma trilha sonora adequada e efeitos de tiros, explosões e as já conhecidas vozez sendo bem reproduzidas no GBA. Não dá pra esperar a qualidade cristalina dos jogos anteriores, mas esse não é um fator para ficar decepcionado.
Os gráficos são um capítulo à parte dada a qualidade deles. Mesmo sem uma animação tão fluída como nos consoles de mesa e arcades, os sprites dos personagens são bem feitos e bonitos. Os cenários não ficam atrás, ainda que seja perceptível que muita coisa foi reaproveitada de jogos anteriores, não no sentido de prestar uma homenagem ao histórico da série, mas sim por escolha técnica, o que tira um pouco do brilho do jogo e acaba reverberando no próprio game design.
Metal Slug sempre foi reconhecido por ter um level design marcante, não se limitando a serem horizontais, e frequentemente fazendo uso de mecânicas (veículos, transformações, interação com o cenário, etc) para tornar a experiência ainda mais dinâmica. Por sua vez, Metal Slug Advance fica atrás de todos os antecessores, mesmo aqueles que vieram no período em que a SNK passava por crise financeira e administrativa (no caso Metal Slug IV e V).
Um level design pouco inspirado tornariam o jogo no mínimo insípido, mas a execução dele é que o torna irritante. O índice de respawn dos inimigos é dos piores já visto, estando a par com o primeiro Ninja Gaiden do NES. É comum derrotar um inimigo, ter de recuar poucos passos e logo depois ele reaparecer do nada e atirando prontamente. E isso ocorre com qualquer inimigo, não importando se são soldados, tanques, helicópteros, monstros ou o que valha. Ter de ficar medindo o quanto se pode avançar ou recuar é extremamente frustrante. Por conta do tamanho diminuto da tela e o tamanho dos sprites, o tempo de reação já não seria dos mais altos, mas com inimigos aparecendo a torto e a direito com o reforço dos que reaparecem depois de terem sido abatidos, a coisa fica perto do insuportável.
Uma coisa que poderia ser um mérito é o fator de replay, pois o jogo coloca uma série de segredos nas fases, rendendo "cartas" sobre vários aspectos da série, como comidas, armas e até mesmo personagens, e eles são obtidos ao se resgatar os já conhecidos prisioneiros, alguns deles estando em lugares pouco óbvios. Boa ideia, péssima execução: para efetivamente obter esses itens é necessário concluir uma fase sem morrer. O sistema de vida aqui é diferente: ao invés do personagem ter múltiplas vidas aqui há uma barra de HP. Quando essa barra chega ao fim, Game Over. Há a possibilidade de usar Continues, mas eles só permitem concluir a fase, os itens e prisioneiros só são obtidos ao terminar a fase sem morrer, uma tarefa ingrata. Caso MSA disponibilizasse mais de uma vida (ainda com a barra de HP) ou um determinado número de Continues disponível por fase, esses problemas seriam mitigados.
Metal Slug Advance é um caso em que as coisas bem feitas acabam se perdendo no meio de falhas cruciais, o que não apenas não aproveita o potencial que o conceito tinha, mas o anula completamente por conta de uma experiência de jogo irritante e frustrante.
Das coisas que foram bem feitas, o Metal Slug Advance é uma proeza técnica, com gráficos e som que mimetizam muito bem a arte conhecida da série. Começando pelo som, é um bom aspecto do jogo, tanto no campo artístico como no técnico, com uma trilha sonora adequada e efeitos de tiros, explosões e as já conhecidas vozez sendo bem reproduzidas no GBA. Não dá pra esperar a qualidade cristalina dos jogos anteriores, mas esse não é um fator para ficar decepcionado.
Os gráficos são um capítulo à parte dada a qualidade deles. Mesmo sem uma animação tão fluída como nos consoles de mesa e arcades, os sprites dos personagens são bem feitos e bonitos. Os cenários não ficam atrás, ainda que seja perceptível que muita coisa foi reaproveitada de jogos anteriores, não no sentido de prestar uma homenagem ao histórico da série, mas sim por escolha técnica, o que tira um pouco do brilho do jogo e acaba reverberando no próprio game design.
Metal Slug sempre foi reconhecido por ter um level design marcante, não se limitando a serem horizontais, e frequentemente fazendo uso de mecânicas (veículos, transformações, interação com o cenário, etc) para tornar a experiência ainda mais dinâmica. Por sua vez, Metal Slug Advance fica atrás de todos os antecessores, mesmo aqueles que vieram no período em que a SNK passava por crise financeira e administrativa (no caso Metal Slug IV e V).
Um level design pouco inspirado tornariam o jogo no mínimo insípido, mas a execução dele é que o torna irritante. O índice de respawn dos inimigos é dos piores já visto, estando a par com o primeiro Ninja Gaiden do NES. É comum derrotar um inimigo, ter de recuar poucos passos e logo depois ele reaparecer do nada e atirando prontamente. E isso ocorre com qualquer inimigo, não importando se são soldados, tanques, helicópteros, monstros ou o que valha. Ter de ficar medindo o quanto se pode avançar ou recuar é extremamente frustrante. Por conta do tamanho diminuto da tela e o tamanho dos sprites, o tempo de reação já não seria dos mais altos, mas com inimigos aparecendo a torto e a direito com o reforço dos que reaparecem depois de terem sido abatidos, a coisa fica perto do insuportável.
Uma coisa que poderia ser um mérito é o fator de replay, pois o jogo coloca uma série de segredos nas fases, rendendo "cartas" sobre vários aspectos da série, como comidas, armas e até mesmo personagens, e eles são obtidos ao se resgatar os já conhecidos prisioneiros, alguns deles estando em lugares pouco óbvios. Boa ideia, péssima execução: para efetivamente obter esses itens é necessário concluir uma fase sem morrer. O sistema de vida aqui é diferente: ao invés do personagem ter múltiplas vidas aqui há uma barra de HP. Quando essa barra chega ao fim, Game Over. Há a possibilidade de usar Continues, mas eles só permitem concluir a fase, os itens e prisioneiros só são obtidos ao terminar a fase sem morrer, uma tarefa ingrata. Caso MSA disponibilizasse mais de uma vida (ainda com a barra de HP) ou um determinado número de Continues disponível por fase, esses problemas seriam mitigados.
Metal Slug Advance é um caso em que as coisas bem feitas acabam se perdendo no meio de falhas cruciais, o que não apenas não aproveita o potencial que o conceito tinha, mas o anula completamente por conta de uma experiência de jogo irritante e frustrante.
A versão definitiva de Double Dragon, com várias revisões e adições que melhoram ainda mais o jogo, tornando o pacote completo um dos melhores beat'em ups que experimentei.
A movimentação pode não ser fluída como nos jogos do gênero que se seguiram, como Streets of Rage e os que a Capcom desenvolveu após Final Fight. Esse comentário pode ser um indicativo que a jogabilidade é ruim, mas não é isso o que acontece, muito pelo contrário.
O jogo oferece muitas possibilidades de ataque, com mãos nuas ou usando armas, e adicionou um mecanismo de defesa que se usado no tempo certo se torna um parry (como em Street Fighter III), acrescentando ainda mais profundidade à obra.
Os gráficos estão muito satisfatórios, com animação bem fluída e sprites muito bem feitos. O som se destaca pela trilha sonora, que é muito bem feita, e pelo som um tanto quanto caricato que os inimigos fazem ao ser derrotados e que River City Ransom onomatopizou (olha o neologismo) como "Blergh". Os demais efeitos, basicamente do som de pancadas e quedas, fazem apenas o básico.
Os únicos poréns são a duração relativamente curta do jogo e a falta de um valor de replay, coisa que outras versões e jogos anteriores da série colocaram modos como um versus básico ou uma campanha jogando com um dos inimigos, como o icônico Abobo. Ainda assim, considerando o grau do desafio, umas boas horas de entretenimento estão garantidas.
E é justamente essa garantia de entretenimento que me faz recomendar esse jogo para apreciadores do gênero e curiosos em geral.
A movimentação pode não ser fluída como nos jogos do gênero que se seguiram, como Streets of Rage e os que a Capcom desenvolveu após Final Fight. Esse comentário pode ser um indicativo que a jogabilidade é ruim, mas não é isso o que acontece, muito pelo contrário.
O jogo oferece muitas possibilidades de ataque, com mãos nuas ou usando armas, e adicionou um mecanismo de defesa que se usado no tempo certo se torna um parry (como em Street Fighter III), acrescentando ainda mais profundidade à obra.
Os gráficos estão muito satisfatórios, com animação bem fluída e sprites muito bem feitos. O som se destaca pela trilha sonora, que é muito bem feita, e pelo som um tanto quanto caricato que os inimigos fazem ao ser derrotados e que River City Ransom onomatopizou (olha o neologismo) como "Blergh". Os demais efeitos, basicamente do som de pancadas e quedas, fazem apenas o básico.
Os únicos poréns são a duração relativamente curta do jogo e a falta de um valor de replay, coisa que outras versões e jogos anteriores da série colocaram modos como um versus básico ou uma campanha jogando com um dos inimigos, como o icônico Abobo. Ainda assim, considerando o grau do desafio, umas boas horas de entretenimento estão garantidas.
E é justamente essa garantia de entretenimento que me faz recomendar esse jogo para apreciadores do gênero e curiosos em geral.
1992
Um dos melhores Beat'em Up's já feitos. Ótima jogabilidade, personagens bem distintos entre si (e todos funcionais), gráficos bonitos com uma estética interessantíssima e pra completar, uma das melhores trilhas sonoras presentes em um game. As composições, além de serem muito boas, refletem com maestria o espírito do período, e sempre são adequadas à cena que se desenrola.
Por ser um jogo que foi pensado para um console, SoR 2 não tem uma dificuldade planejada do jeito mais sádico possível, visando tirar fichas dos jogadores. O desafio é intenso, mas justo, e é perfeitamente possível terminar o jogo sem a companhia de outra pessoa, ainda que jogar em 2 agregue muito ao entretenimento. Tudo aqui é tão bem executado que a duração da campanha é na medida, não tentando colocar caldo no feijão e deixando as coisas repetitivas.
No geral, Streets of Rage é mais do que recomendável, e vai render horas bem agradáveis para quem quer que o pegue.
Por ser um jogo que foi pensado para um console, SoR 2 não tem uma dificuldade planejada do jeito mais sádico possível, visando tirar fichas dos jogadores. O desafio é intenso, mas justo, e é perfeitamente possível terminar o jogo sem a companhia de outra pessoa, ainda que jogar em 2 agregue muito ao entretenimento. Tudo aqui é tão bem executado que a duração da campanha é na medida, não tentando colocar caldo no feijão e deixando as coisas repetitivas.
No geral, Streets of Rage é mais do que recomendável, e vai render horas bem agradáveis para quem quer que o pegue.
The King of Fighters 95 é um dos pontos altos da SNK pré-96, em que refinou a fórmula vista em outros jogos de luta de empresa, ficando abaixo apenas de verdadeiras obras-primas do gênero, como Samurai Shodown II.
O jogo é uma melhora considerável frente ao seu antecessor, King of Fighters 94, que por sua vez já apresentava inovações para a época. Em KoF 95 é possível editar os trios de lutadores, ao contrário do jogo anterior, e isso agrega muito ao gameplay, sobretudo no multiplayer, que também foi beneficiado pelo aprimoramento das mecânicas de jogo e do equilíbrio entre os personagens. Um defeito grave do episódio de 94 é que quem quer que encaixasse uma voadora com soco/chute forte já se encaminhava para a vitória, pois esse ataque combinado com outro soco/chute forte + especial-vulgo-magia deixava o adversário tonto, bastando repetir o ciclo, o que já não acontece em KoF 95.
A placa MVS da SNK (e sua derivação caseira, o Neo Geo) permitia verdadeiras maravilhas técnicas em 2D, e King of Fighters 95 não é exceção. Os sprites dos personagens envelheceram incrivelmente bem, com animações fluidas (melhores que em 94), o mesmo se aplicando para os cenários. A MVS também possuía um sistema de som admirável, propiciando efeitos sonoros muito bons. Pegando o gancho do som, a SNK sempre entregou trilhas sonoras de excelência e KoF 95 não foge à regra, e isso é ainda mais perceptível nas versões em CD, que possuem músicas arranjadas com maior qualidade técnica.
A maior falha do jogo está em sua curva de dificuldade, que cresce exponencialmente do nada nas duas últimas lutas, que a bem de verdade podem ser consideradas apenas uma. Explica-se: na nada fácil puta contra o sub-chefe, caso o jogador consiga vencê-la com um lutador restando, terá de se virar pra vencer um dos chefes mais difíceis da HISTÓRIA dos jogos de luta só com esse boneco. É uma ideia tão cretina que mesmo a SNK, já conhecida por conceber chefes finais extremamente difíceis, largou de mão para os próximos jogos.
Pode-se dizer que The King of Fighters 95 é o último capítulo de uma época da empresa, pois tudo o que veio de 96 pra frente mudou substancialmente, e King of Fighters 96 serviu como modelo pra série por pelo menos uma década. Isso pode parecer dizer que KoF 95 agora é só uma página da história dos jogos de luta, mas na verdade ele se sustenta por si só, inclusive com pontos em que é superior aos jogos seguintes (não tem os danos absurdos de personagens a base de agarrões de 96, nem os combos infinitos fáceis e abreviações de comandos de 97, a esquiva pra trás ridícula de 99 e não é o infame 01). Uma nota de 3.75 seria justo, mas como ele não chega em 4, uma pontuação de 3.5 é adequada.
Ah, e procurem a versão de PS 2, presente na coletânea Orochi Collection, que é a definitiva. Caso não se importe em ter a trilha arranjada (e vejam bem, a versão original também é muito boa) a de Arcade/Neo Geo também é indicada.
O jogo é uma melhora considerável frente ao seu antecessor, King of Fighters 94, que por sua vez já apresentava inovações para a época. Em KoF 95 é possível editar os trios de lutadores, ao contrário do jogo anterior, e isso agrega muito ao gameplay, sobretudo no multiplayer, que também foi beneficiado pelo aprimoramento das mecânicas de jogo e do equilíbrio entre os personagens. Um defeito grave do episódio de 94 é que quem quer que encaixasse uma voadora com soco/chute forte já se encaminhava para a vitória, pois esse ataque combinado com outro soco/chute forte + especial-vulgo-magia deixava o adversário tonto, bastando repetir o ciclo, o que já não acontece em KoF 95.
A placa MVS da SNK (e sua derivação caseira, o Neo Geo) permitia verdadeiras maravilhas técnicas em 2D, e King of Fighters 95 não é exceção. Os sprites dos personagens envelheceram incrivelmente bem, com animações fluidas (melhores que em 94), o mesmo se aplicando para os cenários. A MVS também possuía um sistema de som admirável, propiciando efeitos sonoros muito bons. Pegando o gancho do som, a SNK sempre entregou trilhas sonoras de excelência e KoF 95 não foge à regra, e isso é ainda mais perceptível nas versões em CD, que possuem músicas arranjadas com maior qualidade técnica.
A maior falha do jogo está em sua curva de dificuldade, que cresce exponencialmente do nada nas duas últimas lutas, que a bem de verdade podem ser consideradas apenas uma. Explica-se: na nada fácil puta contra o sub-chefe, caso o jogador consiga vencê-la com um lutador restando, terá de se virar pra vencer um dos chefes mais difíceis da HISTÓRIA dos jogos de luta só com esse boneco. É uma ideia tão cretina que mesmo a SNK, já conhecida por conceber chefes finais extremamente difíceis, largou de mão para os próximos jogos.
Pode-se dizer que The King of Fighters 95 é o último capítulo de uma época da empresa, pois tudo o que veio de 96 pra frente mudou substancialmente, e King of Fighters 96 serviu como modelo pra série por pelo menos uma década. Isso pode parecer dizer que KoF 95 agora é só uma página da história dos jogos de luta, mas na verdade ele se sustenta por si só, inclusive com pontos em que é superior aos jogos seguintes (não tem os danos absurdos de personagens a base de agarrões de 96, nem os combos infinitos fáceis e abreviações de comandos de 97, a esquiva pra trás ridícula de 99 e não é o infame 01). Uma nota de 3.75 seria justo, mas como ele não chega em 4, uma pontuação de 3.5 é adequada.
Ah, e procurem a versão de PS 2, presente na coletânea Orochi Collection, que é a definitiva. Caso não se importe em ter a trilha arranjada (e vejam bem, a versão original também é muito boa) a de Arcade/Neo Geo também é indicada.
Harmony of Dissonance conserta várias falhas do seu antecessor, Circle of the Moon, porém acrescenta novas que, no saldo geral, ainda o deixam em uma posição melhor que o jogo anterior.
A equipe de desenvolvimento elaborou um level design melhor, com um mapas mais horizontais, em contraposição às áreas mais verticais de Circle of the Moon. Essa característica dos mapas aproveita bem a presença de botões de dash, o que torna a exploração mais dinâmica. Assim com no pioneiro da série no GBA, o mapa aqui também é bem aberto, fazendo com que muitas áreas do castelo sejam acessíveis relativamente cedo. Isso causa momentos em que se chega a áreas que não deveriam ser acessadas naquela etapa, mas aqui é menos frequente, mas ainda enerva um cadinho. Uma coisa que cabe salientar é que aquele típico começo devagar de Metroidvanias aqui é um pouco mais arrastado. Da metade em diante o ritmo melhora consideravelmente, e a presença de portais que ligam diferentes partes do castelo ajudam a tornar a exploração mais dinâmica.
Outro acerto foi na dificuldade, mais em par com Symphony of the Night, mas um pouco mais difícil pelo espaçamento dos save points, que creio eu é devido ao jogo ser portátil, permitindo que o jogador salve a qualquer instante. E os controles colaboram positivamente em tornar o desafio agradável, sendo fluídos e contato com um sistema bem legal de magias, que incentiva a experimentação das mais variadas combinações. Também há um shoppinho para adquirir itens, uma mudança bem vinda em comparação com CotM, mas mesmo em se tratando de algo simples, a Konami consegui complicar as coisas de um jeito absurdo, estabelecendo critérios para a lojinha aparecer nos locais designados, tais como ter um número X de corações ou estar num nível de número par ou ímpar. Além de ser desnecessário, em momento algum o jogo deixa essa informação clara, muito pelo contrário, pois os indícios dessa funcionalidade são extremamente crípticos. Só fiquei sabendo depois que terminei o jogo, quando consultei um FAQ por curiosidade.
Da parte gráfica, o jogo é bonito, com gráficos claros, ao contrário dos tons escuros do episódio anterior. Os sprites dos protagonistas e dos inimigos são bem feitos, e a variedade desses últimos é impressionante, considerando o armazenamento no cartucho do GBA. O mesmo se aplica aos os cenários, que além de bonitos graficamente possuem uma direção de arte que os distinguem entre si.
Agora, das coisas não muito boas, a primeira que será notada é a trilha sonora. Não que as músicas não sejam boas composições, mas a escolha em priorizar os gráficos fez com que a qualidade do som ficasse bem ruim. Outra coisa que vai demorar um pouco mais para dar as caras mas que também gerará aborrecimento é o fato de haver dois mapas. Isso já foi feito em SotN, e bem feito, coisa que não acontece aqui. Na obra de Psone, o segundo castelo era de ponta cabeça, o que alterava significativamente a paisagem e como o jogo se desenrolava. Mas em Harmony of Dissonance o segundo mapa é rigorosamente o mesmo, só com umas alterações aqui e acolá. Verdade seja dita, a ambientação muda consideravelmente, mas isso não torna as coisas melhores nem mascara que foi uma tentativa de colocar mais água no feijão.
Após terminar o jogo com o final verdadeiro, dois modos são liberados: uma nova campanha com o outro personagem, semelhante à vista com Richter no jogo de Psone (e que acho melhor executada aqui, pois os atributos do personagem progridem) e um Boss Rush que conta com um pequeno extra: inserindo o código Konami na tela em que o logo da empresa aparece, é possível jogar com a versão de Simon Belmont do Castlevania II, com sprite de época e tudo.
Harmony of Dissonance não é o melhor Castlevania já visto, mas é mais competente que o jogo anterior, mas isso não é o bastante para colocá-lo entre os melhores Metroidvanias vistos, até mesmo no próprio GBA. Vale a recomendação para quem é fã da série, do gênero ou simplesmente está curioso.
A equipe de desenvolvimento elaborou um level design melhor, com um mapas mais horizontais, em contraposição às áreas mais verticais de Circle of the Moon. Essa característica dos mapas aproveita bem a presença de botões de dash, o que torna a exploração mais dinâmica. Assim com no pioneiro da série no GBA, o mapa aqui também é bem aberto, fazendo com que muitas áreas do castelo sejam acessíveis relativamente cedo. Isso causa momentos em que se chega a áreas que não deveriam ser acessadas naquela etapa, mas aqui é menos frequente, mas ainda enerva um cadinho. Uma coisa que cabe salientar é que aquele típico começo devagar de Metroidvanias aqui é um pouco mais arrastado. Da metade em diante o ritmo melhora consideravelmente, e a presença de portais que ligam diferentes partes do castelo ajudam a tornar a exploração mais dinâmica.
Outro acerto foi na dificuldade, mais em par com Symphony of the Night, mas um pouco mais difícil pelo espaçamento dos save points, que creio eu é devido ao jogo ser portátil, permitindo que o jogador salve a qualquer instante. E os controles colaboram positivamente em tornar o desafio agradável, sendo fluídos e contato com um sistema bem legal de magias, que incentiva a experimentação das mais variadas combinações. Também há um shoppinho para adquirir itens, uma mudança bem vinda em comparação com CotM, mas mesmo em se tratando de algo simples, a Konami consegui complicar as coisas de um jeito absurdo, estabelecendo critérios para a lojinha aparecer nos locais designados, tais como ter um número X de corações ou estar num nível de número par ou ímpar. Além de ser desnecessário, em momento algum o jogo deixa essa informação clara, muito pelo contrário, pois os indícios dessa funcionalidade são extremamente crípticos. Só fiquei sabendo depois que terminei o jogo, quando consultei um FAQ por curiosidade.
Da parte gráfica, o jogo é bonito, com gráficos claros, ao contrário dos tons escuros do episódio anterior. Os sprites dos protagonistas e dos inimigos são bem feitos, e a variedade desses últimos é impressionante, considerando o armazenamento no cartucho do GBA. O mesmo se aplica aos os cenários, que além de bonitos graficamente possuem uma direção de arte que os distinguem entre si.
Agora, das coisas não muito boas, a primeira que será notada é a trilha sonora. Não que as músicas não sejam boas composições, mas a escolha em priorizar os gráficos fez com que a qualidade do som ficasse bem ruim. Outra coisa que vai demorar um pouco mais para dar as caras mas que também gerará aborrecimento é o fato de haver dois mapas. Isso já foi feito em SotN, e bem feito, coisa que não acontece aqui. Na obra de Psone, o segundo castelo era de ponta cabeça, o que alterava significativamente a paisagem e como o jogo se desenrolava. Mas em Harmony of Dissonance o segundo mapa é rigorosamente o mesmo, só com umas alterações aqui e acolá. Verdade seja dita, a ambientação muda consideravelmente, mas isso não torna as coisas melhores nem mascara que foi uma tentativa de colocar mais água no feijão.
Após terminar o jogo com o final verdadeiro, dois modos são liberados: uma nova campanha com o outro personagem, semelhante à vista com Richter no jogo de Psone (e que acho melhor executada aqui, pois os atributos do personagem progridem) e um Boss Rush que conta com um pequeno extra: inserindo o código Konami na tela em que o logo da empresa aparece, é possível jogar com a versão de Simon Belmont do Castlevania II, com sprite de época e tudo.
Harmony of Dissonance não é o melhor Castlevania já visto, mas é mais competente que o jogo anterior, mas isso não é o bastante para colocá-lo entre os melhores Metroidvanias vistos, até mesmo no próprio GBA. Vale a recomendação para quem é fã da série, do gênero ou simplesmente está curioso.
1999
Com clara inspiração nos filmes de ação dos anos 90 e 2000, Syphon Filter entrega uma experiência de ação constante, rápida e intensa, com partes de stealth aqui e acolá.
O jogo oferece uma ótima ambientação, com bons gráficos e um som bem construído, já que tiros e explosões são efeitos que ocorrem com certa frequência. A atuação de voz segue um roteiro repleto de frases de efeito, com uma execução boa para a época, vale dizer. Da parte da trilha sonora, essa envelheceu melhor, com composições que atendem à ambientação da trama, com temas mais do que adequados para momentos lentos, agitados e para os desenrolares do enredo, contribuindo positivamente com a narrativa. É uma boa trilha, mas tirando o tema principal, não achei particularmente memorável.
Dos gráficos, eles são bem feitos, com bons efeitos de explosão, e há alguns recursos que dão um toque a mais, como os vidros quebrando durante as trocas de tiros. Há uma grande variedade de cenários, passando por locais urbanos, bases militares, um castelo (sim, um castelo), museus, além de se passarem em diferentes partes do dia e em climas variados, como a missão noturna em uma base militar russa coberta de neve. Os modelos humanos são competentes, e com uma variedade coerente à do cenário, ou seja, vai ter boneco com traje de segurança e outros com uniforme militar com a devida camuflagem. A animação não é ruim, mas poderia ser melhor, pois todos os personagens quando correm parecem que empregam um esforço muito maior do que a velocidade com que de fato estão se movendo, problema agravado com o protagonista, pois o jogador o vê praticamente o tempo inteiro.
Em termos de jogabilidade, pode-se dizer que ela é satisfatória na maior parte do tempo. Era um momento em que ainda se estava aprendendo a desenvolver jogos funcionais em 3D, e era frequente encontrar controles extremamente travados, o que não é o caso aqui. Syphon Filter tem controles bem fluídos para o período, mas que não se saem tão bem quando é necessário circular por ambientes mais apertados. Não é uma jogabilidade perfeita, mas as concessões que pede frente à atualidade não são muitas, tampouco fortes (acho mais aceitável que controles tanque, por exemplo).
Das ideias bem executadas, há o caso do conceito de travar a mira em um alvo, visto a princípio em um jogo totalmente diferente que saiu pouco antes, no caso, Legend of Zelda: Ocarina of Time. Outra ideia inovadora foi a presença de um botão situacional (aqui o triângulo), que executa funções como escalar objetos, acionar dispositivos, abrir portas, etc.
Há também uma mira manual, acionada em L1 que funciona muito bem. Segurando do X para se manter agachado, e os gatilhos para se mover para os lados, é possível manter cobertura (em um protótipo da jogabilidade que seria refinada alguns anos depois) para mirar direto na cabeça dos inimigos, o que garante uma morte instantânea. Com o decorrer do jogo, dominar essa ferramenta se torna essencial, pois os adversários passam a usar um colete de balas que é uma verdadeira esponja de danos, fora que quanto menos se atinge esses coletes, mais inteiros eles ficam quando são dropados, o que é um recurso precioso, pois a curva de dificuldade cresce bem, e com certeza o jogador receberá danos.
O level design é das coisas mais interessantes do jogo, com objetivos variados e que mudam com o decorrer dos acontecimentos, e há fases que dão um maior grau de liberdade para o jogador escolher a maneira com a qual vai lidar com os desafios, e a ordem em que fará isso. No âmbito do design não tão bom assim, há as já citadas missões stealth, que achei frustrantes, pois em caso de ser visto, das duas uma: ou surge do NADA uma horda de inimigos digna de um Musou, ou a missão falha e tem de se começar tudo de novo (ou pelo menos do último checkpoint). Algo no mínimo bem punitivo para um erro que pode ser pequeno.
Já que mencionei altos e baixos, isso também se aplica para as lutas contra os chefes. Algumas são bem feitas, mas outras nem tanto, sobretudo a última, em que tive de assistir uma gameplay para se ter uma ideia do que fazer.
Pegando esse gancho dos chefes, é válido falar em como eles estão inseridos na trama da obra. É um enredo que envolve uma ameaça terrorista de um grupo autônomo, sem ligação (oficial, diga-se de passagem) com nenhum governo e é composto por terroristas de várias partes do mundo, o que faz com que eles sejam dublados com sotaques estereotipados. Algo do momento, ressalte-se.
Syphon Filter garante uma experiência legal, e com algumas concessões, alguém que o jogue hoje além de ter umas boas horinhas de entretenimento terá contato com um jogo que dialoga diretamente com o universo do cinema, em um período em que formas de linguagem e estética cinematográficas se tornavam mais presentes na indústria de games. A meu ver, o jogo tem qualidades o bastante para valer por si só, indo além do campo da curiosidade histórica por conta das ideias interessantes que executa.
O jogo oferece uma ótima ambientação, com bons gráficos e um som bem construído, já que tiros e explosões são efeitos que ocorrem com certa frequência. A atuação de voz segue um roteiro repleto de frases de efeito, com uma execução boa para a época, vale dizer. Da parte da trilha sonora, essa envelheceu melhor, com composições que atendem à ambientação da trama, com temas mais do que adequados para momentos lentos, agitados e para os desenrolares do enredo, contribuindo positivamente com a narrativa. É uma boa trilha, mas tirando o tema principal, não achei particularmente memorável.
Dos gráficos, eles são bem feitos, com bons efeitos de explosão, e há alguns recursos que dão um toque a mais, como os vidros quebrando durante as trocas de tiros. Há uma grande variedade de cenários, passando por locais urbanos, bases militares, um castelo (sim, um castelo), museus, além de se passarem em diferentes partes do dia e em climas variados, como a missão noturna em uma base militar russa coberta de neve. Os modelos humanos são competentes, e com uma variedade coerente à do cenário, ou seja, vai ter boneco com traje de segurança e outros com uniforme militar com a devida camuflagem. A animação não é ruim, mas poderia ser melhor, pois todos os personagens quando correm parecem que empregam um esforço muito maior do que a velocidade com que de fato estão se movendo, problema agravado com o protagonista, pois o jogador o vê praticamente o tempo inteiro.
Em termos de jogabilidade, pode-se dizer que ela é satisfatória na maior parte do tempo. Era um momento em que ainda se estava aprendendo a desenvolver jogos funcionais em 3D, e era frequente encontrar controles extremamente travados, o que não é o caso aqui. Syphon Filter tem controles bem fluídos para o período, mas que não se saem tão bem quando é necessário circular por ambientes mais apertados. Não é uma jogabilidade perfeita, mas as concessões que pede frente à atualidade não são muitas, tampouco fortes (acho mais aceitável que controles tanque, por exemplo).
Das ideias bem executadas, há o caso do conceito de travar a mira em um alvo, visto a princípio em um jogo totalmente diferente que saiu pouco antes, no caso, Legend of Zelda: Ocarina of Time. Outra ideia inovadora foi a presença de um botão situacional (aqui o triângulo), que executa funções como escalar objetos, acionar dispositivos, abrir portas, etc.
Há também uma mira manual, acionada em L1 que funciona muito bem. Segurando do X para se manter agachado, e os gatilhos para se mover para os lados, é possível manter cobertura (em um protótipo da jogabilidade que seria refinada alguns anos depois) para mirar direto na cabeça dos inimigos, o que garante uma morte instantânea. Com o decorrer do jogo, dominar essa ferramenta se torna essencial, pois os adversários passam a usar um colete de balas que é uma verdadeira esponja de danos, fora que quanto menos se atinge esses coletes, mais inteiros eles ficam quando são dropados, o que é um recurso precioso, pois a curva de dificuldade cresce bem, e com certeza o jogador receberá danos.
O level design é das coisas mais interessantes do jogo, com objetivos variados e que mudam com o decorrer dos acontecimentos, e há fases que dão um maior grau de liberdade para o jogador escolher a maneira com a qual vai lidar com os desafios, e a ordem em que fará isso. No âmbito do design não tão bom assim, há as já citadas missões stealth, que achei frustrantes, pois em caso de ser visto, das duas uma: ou surge do NADA uma horda de inimigos digna de um Musou, ou a missão falha e tem de se começar tudo de novo (ou pelo menos do último checkpoint). Algo no mínimo bem punitivo para um erro que pode ser pequeno.
Já que mencionei altos e baixos, isso também se aplica para as lutas contra os chefes. Algumas são bem feitas, mas outras nem tanto, sobretudo a última, em que tive de assistir uma gameplay para se ter uma ideia do que fazer.
Pegando esse gancho dos chefes, é válido falar em como eles estão inseridos na trama da obra. É um enredo que envolve uma ameaça terrorista de um grupo autônomo, sem ligação (oficial, diga-se de passagem) com nenhum governo e é composto por terroristas de várias partes do mundo, o que faz com que eles sejam dublados com sotaques estereotipados. Algo do momento, ressalte-se.
Syphon Filter garante uma experiência legal, e com algumas concessões, alguém que o jogue hoje além de ter umas boas horinhas de entretenimento terá contato com um jogo que dialoga diretamente com o universo do cinema, em um período em que formas de linguagem e estética cinematográficas se tornavam mais presentes na indústria de games. A meu ver, o jogo tem qualidades o bastante para valer por si só, indo além do campo da curiosidade histórica por conta das ideias interessantes que executa.
1993
Golden Axe III tem a melhor jogabilidade da série, com controles fluídos e comandos variados, que eventualmente se assemelham à jogos de luta. Dá pra ver a influência de Streets of Rage I e II nas mecânicas aqui, e voltar para os Golden Axe anteriores gera um estranhamento com os controles mais atravancados deles.
Mas mesmo assim vale mais a pena voltar para os antecessores do que jogar esse aqui. Tudo que Golden Axe III oferece de bom se perde no meio de gráficos bem feios, piores até que o do primeiro jogo, de 89. Além disso, as fases sem inspiração, de uma palidez ímpar, que mesmo que permitam múltiplos caminhos não anima muito, pois se saí de uma fase sem graça para outra sem sal. Outra coisa que não ajuda muito é a repetição de inimigos, no caso 4 regulares e 3 chefes que depois viram oponentes comuns. As únicas coisas que mudam são as cores e um padrãozinho diferente aqui e acolá. A falta de criatividade também é vista nas montarias, também repetitivas, com uma sendo virtualmente inútil.
A trilha sonora é mais inspirada e bem executada nesse hardware querido que costuma sofrer nesse quesito, mas ainda fica atrás das presentes nos antecessores.
Recomendo só para quem for MUITO fã do gênero e tiver curiosidade sobre como os controles trabalham aqui. Fora isso, melhor deixar passar.
Mas mesmo assim vale mais a pena voltar para os antecessores do que jogar esse aqui. Tudo que Golden Axe III oferece de bom se perde no meio de gráficos bem feios, piores até que o do primeiro jogo, de 89. Além disso, as fases sem inspiração, de uma palidez ímpar, que mesmo que permitam múltiplos caminhos não anima muito, pois se saí de uma fase sem graça para outra sem sal. Outra coisa que não ajuda muito é a repetição de inimigos, no caso 4 regulares e 3 chefes que depois viram oponentes comuns. As únicas coisas que mudam são as cores e um padrãozinho diferente aqui e acolá. A falta de criatividade também é vista nas montarias, também repetitivas, com uma sendo virtualmente inútil.
A trilha sonora é mais inspirada e bem executada nesse hardware querido que costuma sofrer nesse quesito, mas ainda fica atrás das presentes nos antecessores.
Recomendo só para quem for MUITO fã do gênero e tiver curiosidade sobre como os controles trabalham aqui. Fora isso, melhor deixar passar.
1992
É normal ter um estranhamento Final Fantasy V, muito pelo que se viu depois dele, mas também por ele ser mais parecido com os três primeiros do que com seu antecessor direto (IV).
O enredo é simples, lembrando os três primeiros FF, e é bem amarradinho, com personagens principais e secundários bem construídos (impossível não amar Gilgamesh aqui), com direito a várias cenas adicionais que ajudam na construção deles, com uma fixação pouco usual com cenas noturnas. A exceção fica com o antagonista, que é meio raso mesmo em comparação aos predecessores do NES.
Da parte técnica, gráficos, som e direção de arte são o padrão Square, então tudo vai estar nos conformes da beleza. A pixel art é bem bonita, e os personagens têm diversas roupinhas conforme a classe que está atribuída e que fazem referência à outros jogos da série. Acho eu que é um dos primeiros exemplos de fan service.
Ainda na parte técnica, fica o destaque para a mecânica do jogo, em que se retoma o sistema de Jobs. São várias ocupações que os personagens podem desempenhar, cada qual com atributos bem distintos, permitindo um alto grau de customização do grupo, propiciando uma gama imensa de experimentação. Quando uma habilidade é aprendida por um boneco, ela pode ser utilizada em outro Job, o que ajuda na já citada experimentação. No entanto, com o decorrer do jogo, algumas funções e habilidades ficam claramente obsoletas, limitando muito as escolhas possíveis e tirando o brilho do fundamento mecânico do jogo. Senti isso mais ou menos com uns 30% faltando para o fim.
Terminei a campanha regular em umas 70 e poucas horas, e joguei a versão de GBA, que tem uma tradução bacana (sem adição de um suposto sotaque de marujo para um personagem), um bestiário com informações bem úteis além de jobs e uma dungeon adicional após o final campanha normal, que garante mais jobs extra e lutas contra chefes ainda mais cretinos.
Final Fantasy V não tem a fama do seu antecessor e do sucessor imediatos, pois além de ser meio diferente a Square trouxe ele pro Ocidente de um jeito não muito habitual. De todo jeito recomendo com gosto, e acho a versão do GBA a mais aconselhável, por todo o conteúdo extra.
O enredo é simples, lembrando os três primeiros FF, e é bem amarradinho, com personagens principais e secundários bem construídos (impossível não amar Gilgamesh aqui), com direito a várias cenas adicionais que ajudam na construção deles, com uma fixação pouco usual com cenas noturnas. A exceção fica com o antagonista, que é meio raso mesmo em comparação aos predecessores do NES.
Da parte técnica, gráficos, som e direção de arte são o padrão Square, então tudo vai estar nos conformes da beleza. A pixel art é bem bonita, e os personagens têm diversas roupinhas conforme a classe que está atribuída e que fazem referência à outros jogos da série. Acho eu que é um dos primeiros exemplos de fan service.
Ainda na parte técnica, fica o destaque para a mecânica do jogo, em que se retoma o sistema de Jobs. São várias ocupações que os personagens podem desempenhar, cada qual com atributos bem distintos, permitindo um alto grau de customização do grupo, propiciando uma gama imensa de experimentação. Quando uma habilidade é aprendida por um boneco, ela pode ser utilizada em outro Job, o que ajuda na já citada experimentação. No entanto, com o decorrer do jogo, algumas funções e habilidades ficam claramente obsoletas, limitando muito as escolhas possíveis e tirando o brilho do fundamento mecânico do jogo. Senti isso mais ou menos com uns 30% faltando para o fim.
Terminei a campanha regular em umas 70 e poucas horas, e joguei a versão de GBA, que tem uma tradução bacana (sem adição de um suposto sotaque de marujo para um personagem), um bestiário com informações bem úteis além de jobs e uma dungeon adicional após o final campanha normal, que garante mais jobs extra e lutas contra chefes ainda mais cretinos.
Final Fantasy V não tem a fama do seu antecessor e do sucessor imediatos, pois além de ser meio diferente a Square trouxe ele pro Ocidente de um jeito não muito habitual. De todo jeito recomendo com gosto, e acho a versão do GBA a mais aconselhável, por todo o conteúdo extra.
2005
Jogo com controles criativos que funcionam em torno da mecânica de perfurar coisas com um robô-furadeira (R gira a broca em sentido horário, L no sentido anti-horário). O level design é muito bom e aproveita bem a mecânica da broca, e o mesmo se aplica para as batalhas contra os chefes, que são bem variadas.
Os gráficos são bonitos, com personagens carismáticos e ambientes variados, com uma trilha sonora cativante (ainda que uma faixa em específico se repita um pouco, o que me incomodou um cadinho).
O jogo em si não tem uma dificuldade muito alta, e durante a campanha regular é raro ocorrer um game-over. A coisa muda no pós-jogo, caso queira fazer 100%, em que obter todos os tesourinhos demanda um uso preciso e criativo das ferramentas do jogo. É um desafio bem difícil e igualmente satisfatório.
Gostei bastante e recomendo com convicção.
Os gráficos são bonitos, com personagens carismáticos e ambientes variados, com uma trilha sonora cativante (ainda que uma faixa em específico se repita um pouco, o que me incomodou um cadinho).
O jogo em si não tem uma dificuldade muito alta, e durante a campanha regular é raro ocorrer um game-over. A coisa muda no pós-jogo, caso queira fazer 100%, em que obter todos os tesourinhos demanda um uso preciso e criativo das ferramentas do jogo. É um desafio bem difícil e igualmente satisfatório.
Gostei bastante e recomendo com convicção.
Alô Comunidade dos Mods, tá aqui uma oportunidade legal, hein. Castlevania: Circle of the Moon é um bom jogo, com ideias muito interessantes, trilha sonora excepcional (como de costume), gráficos bonitos (ainda que escuros), level design bem feito (até certo ponto), tudo o que daria um belo pacote. Mas tudo isso não foi muito bem executado pela Konami, e os problemas que o jogo apresenta comprometem toda a experiência.
Lá no começo do texto mencionei que o jogo apresenta ideias interessantes. Pois bem, há o sistema DSS, que são cartas que quando equipadas dão atributos especiais, sejam de ataque ou defesa, como um foguinho no chicote ou o boneco se tornar de pedra, logo, mais resistente. Tais cartas são obtidas derrotando certos inimigos, e é meio aleatório quando se consegue tais cartas. Ou seja, o jogo têm uma experiência de replay muito boa, pois uma sessão geralmente será diferente da outra, considerando que as cartas sejam obtidas em ordem diferente. Ótima ideia! Mas como eu disse, a execução não é muito boa.
As cartas são obtidas derrotando certos inimigos, mas isso é totalmente na base da sorte, o que torna necessário ficar entrando e saindo de uma sala e derrotar o mesmo inimigo a esmo pra obter essa bendita carta. Detalhe: há uma enciclopédia dos inimigos, mas ela não informa quais deles cedem tais cartas, e algumas delas são MUITO necessárias pra se progredir, pois a dificuldade é MUITO alta, e aí é que entra outra questão do jogo.
Jogos difíceis não são um problema em si, desde que a dificuldade deles seja construída naturalmente, o que não é o caso desse Castlevania aqui. É comum em Metroidvanias haver um shopinho para adquirir outras armas, itens e afins. Aqui não é o caso. Em relação às armas, nem é tanto um problema, dado o DNS, mas os itens, ah, os itens são um capítulo a parte. Todo e qualquer item é obtido derrotando inimigos, inclusive poções de cura e afins. Algo chato, de fato, mal pensado, mas que em teoria não inviabilizaria a experiência. A questão é que os itens não progridem junto com o jogo. Por exemplo, o personagem evolui, aumentando indicadores como HP e MP, o mesmo se aplica aos inimigos. Mas os itens continuam os mesmos o jogo inteiro. Aquela poção que repõe míseros 20HP's (pouco até mesmo pro começo do jogo) é a única disponível, e detalhe, há uma limitação de inventório. Ainda que os locais de Save reponham HP e MP, é uma baita de uma cretinice lutar contra um Drácula da vida (não finjam surpresa, esse é um evento que fatalmente ocorre em praticamente todo Castlevania). E boa sorte ao trafegar pelo mapa e ficar longe de um ponto de Save. Calha de conseguir uma carta rara, ficar com HP baixo e não ter recursos o bastante pra lidar com isso não por ter jogado mal, mas simplesmente pq quem projetou o jogo não quis.
Agora que entrei no tópico de progressão do mapa, aqui entra outra coisa mal executada. É algo normal em um Metroidvania encontrar um ponto em que não dá pra se progredir sem uma habilidade que será adquirida. Até aqui tudo bem. O problema de Circle of the Moon é que isso acontece muito, muito mesmo. Uma coisa é passar uma falsa sensação de amplitude de um mapa, em que a progressão é basicamente linear e o jogo mascara isso mal, isso quando mascara. Agora esse Castlevania aqui é o extremo oposto, te dando um monte de opções, mas chega na hora H pra te dizer que não, vc não pode prosseguir por aqui. Seria legal se houvesse alguma indicação no mapa de portas fechadas, rochas, barreiras de metal, mas só por ter começado a frase com a palavra "seria" dá pra perceber que não é o caso.
Tenho certeza que alguém tenha feito e disponibilizado na rede mundial de computadores um Mod desse jogo, resolvendo esses problemas. E não precisa de muito. Um mapa com informações. Itens que progridam junto com o jogo. Inventário ilimitado, ou consideravelmente expandido, ao menos. E das cartas, uma boa seria se elas estivessem espalhadas pelo mapa, e pra garantir que cada sessão do jogo seja única, que as cartas nesses locais mudassem a casa Novo Jogo.
Caso Castlevania: Circle of the Moon fosse mais amigável/justo e tornasse a experiência menos propícia a uma aleatoriedade totalmente arbitrária, eu o colocaria entre os melhores da série, junto com Symphony of the Night, pois todo o resto está lá. Mesmo com todos esses problemas, não é um jogo ruim, o material base é muito bom, mas as más decisões tomadas acabam sabotando tudo de bom que o game traz, o quê de certa forma é triste, pois é um trabalho com várias boas ideias, mas que acaba tropeçando nas próprias pernas.
Lá no começo do texto mencionei que o jogo apresenta ideias interessantes. Pois bem, há o sistema DSS, que são cartas que quando equipadas dão atributos especiais, sejam de ataque ou defesa, como um foguinho no chicote ou o boneco se tornar de pedra, logo, mais resistente. Tais cartas são obtidas derrotando certos inimigos, e é meio aleatório quando se consegue tais cartas. Ou seja, o jogo têm uma experiência de replay muito boa, pois uma sessão geralmente será diferente da outra, considerando que as cartas sejam obtidas em ordem diferente. Ótima ideia! Mas como eu disse, a execução não é muito boa.
As cartas são obtidas derrotando certos inimigos, mas isso é totalmente na base da sorte, o que torna necessário ficar entrando e saindo de uma sala e derrotar o mesmo inimigo a esmo pra obter essa bendita carta. Detalhe: há uma enciclopédia dos inimigos, mas ela não informa quais deles cedem tais cartas, e algumas delas são MUITO necessárias pra se progredir, pois a dificuldade é MUITO alta, e aí é que entra outra questão do jogo.
Jogos difíceis não são um problema em si, desde que a dificuldade deles seja construída naturalmente, o que não é o caso desse Castlevania aqui. É comum em Metroidvanias haver um shopinho para adquirir outras armas, itens e afins. Aqui não é o caso. Em relação às armas, nem é tanto um problema, dado o DNS, mas os itens, ah, os itens são um capítulo a parte. Todo e qualquer item é obtido derrotando inimigos, inclusive poções de cura e afins. Algo chato, de fato, mal pensado, mas que em teoria não inviabilizaria a experiência. A questão é que os itens não progridem junto com o jogo. Por exemplo, o personagem evolui, aumentando indicadores como HP e MP, o mesmo se aplica aos inimigos. Mas os itens continuam os mesmos o jogo inteiro. Aquela poção que repõe míseros 20HP's (pouco até mesmo pro começo do jogo) é a única disponível, e detalhe, há uma limitação de inventório. Ainda que os locais de Save reponham HP e MP, é uma baita de uma cretinice lutar contra um Drácula da vida (não finjam surpresa, esse é um evento que fatalmente ocorre em praticamente todo Castlevania). E boa sorte ao trafegar pelo mapa e ficar longe de um ponto de Save. Calha de conseguir uma carta rara, ficar com HP baixo e não ter recursos o bastante pra lidar com isso não por ter jogado mal, mas simplesmente pq quem projetou o jogo não quis.
Agora que entrei no tópico de progressão do mapa, aqui entra outra coisa mal executada. É algo normal em um Metroidvania encontrar um ponto em que não dá pra se progredir sem uma habilidade que será adquirida. Até aqui tudo bem. O problema de Circle of the Moon é que isso acontece muito, muito mesmo. Uma coisa é passar uma falsa sensação de amplitude de um mapa, em que a progressão é basicamente linear e o jogo mascara isso mal, isso quando mascara. Agora esse Castlevania aqui é o extremo oposto, te dando um monte de opções, mas chega na hora H pra te dizer que não, vc não pode prosseguir por aqui. Seria legal se houvesse alguma indicação no mapa de portas fechadas, rochas, barreiras de metal, mas só por ter começado a frase com a palavra "seria" dá pra perceber que não é o caso.
Tenho certeza que alguém tenha feito e disponibilizado na rede mundial de computadores um Mod desse jogo, resolvendo esses problemas. E não precisa de muito. Um mapa com informações. Itens que progridam junto com o jogo. Inventário ilimitado, ou consideravelmente expandido, ao menos. E das cartas, uma boa seria se elas estivessem espalhadas pelo mapa, e pra garantir que cada sessão do jogo seja única, que as cartas nesses locais mudassem a casa Novo Jogo.
Caso Castlevania: Circle of the Moon fosse mais amigável/justo e tornasse a experiência menos propícia a uma aleatoriedade totalmente arbitrária, eu o colocaria entre os melhores da série, junto com Symphony of the Night, pois todo o resto está lá. Mesmo com todos esses problemas, não é um jogo ruim, o material base é muito bom, mas as más decisões tomadas acabam sabotando tudo de bom que o game traz, o quê de certa forma é triste, pois é um trabalho com várias boas ideias, mas que acaba tropeçando nas próprias pernas.