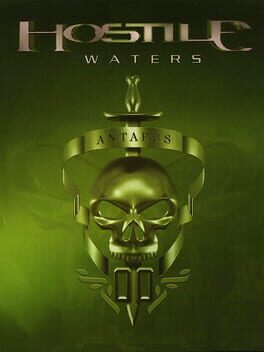Palas
(Eu não dirijo, pode descreditar tudo que disser daqui pra frente.)
Dos três grandes prazeres pra se ter em um jogo de carrinho, parece que o terceiro deles é o menos notado ou comentado. E isso é uma pena — parece que está reservado aos jogos de carrinho um lugar ao mesmo tempo muito especial e muito ingrato nas estantes de todos nós. A maior parte de donos de um console Nintendo® tem Mario Kart e adora Mario Kart. Todo mundo adora Mario Kart. Todo mundo adora um jogo de corrida. Você, lendo aqui, pode pensar em Need for Speed Underground 2, Gran Turismo 5, Top Gear 3000, Rock n’ Roll Racing, Daytona USA — existe um jogo de corrida para aquecer cada coração.
E, no entanto, ninguém prefere jogos de carrinho.Não deve ser difícil encontrar por aí aficionados por jogos de corrida da mesma maneira que você encontra viciados em jogos de luta ou tiro em primeira pessoa. Existem subculturas pulsantes de “fabricação” de carros para jogos que não os têm normalmente, como a galera que coloca Fusca em Midtown Madness. Existe uma cena impressionante de pessoas que jogam e veiculam suas muitas horas de Euro Truck Simulator por streaming, simulando, para todos os efeitos, a paixão que um caminhoneiro tem pelas viagens que faz. Tem até uma população que faz roleplay de taxista no GTA.
Não é disso que estou falando — isso são nichos intensos, mas não representam uma predileção geral por jogos de corrida como você até acaba vendo por jogos de tiro ou de luta. Jogos de corrida, no entanto e pelo menos pros habitantes da região metropolitana do dislu.do, parecem ser sempre a segunda escolha da sua estante. E isso se deve à atenção que se dá aos dois primeiros grandes prazeres desse tipo de jogo.
O primeiro é o de vencer. Ele é simples, você pode achá-lo em qualquer jogo. É o prazer de cruzar a linha de chegada antes dos seus concorrentes e culmina tudo que você fez naquela corrida até ali. Essas sensações de alívio e euforia simultâneas são especiais nos bons jogos de corrida porque não tem conversa: se você venceu, você venceu e não adianta botar a culpa em um casco azul ou em uma batida na largada, por mais que os jogos favoreçam esses momentos. Não tem conversa porque, nos jogos com bom prazer de vencer, existe uma margem de erro, uma tensão constante vinda da noção de que é possível se recuperar de uma falha ou reverter um aparente resultado ruim. E, se você tem essa margem, seus competidores também têm; no fim, se você ganhar, não há o que tire seu mérito.
Mas esse é um prazer que dura uma fração de segundo. A vitória dura um segundo e a derrota dura para sempre, é o que dizem (ninguém nunca disse isso. Pode patentear no meu nome, seu Praxedes, mas pega minha assinatura da internet aí que eu não tenho caneta comigo). Deve ser alguma coisa fisiológica no jeito que você solta a respiração ou na cor dourada do 1st no meio da tela. E até aí, de fato, é um prazer igual ao vermelho do K.O. ou do som de um chefão explodindo. Depois disso, vem uma calmaria, em que você lembra das jogadas que fez para chegar até ali.
E esse é o segundo grande prazer — o de dirigir. Especificamente, esse é um prazer de execução, muito parecido com o prazer de fazer gols de falta. Você já fez um gol de falta? A bola estufar a rede é o prazer de uma vitória, mas a trajetória do seu pé até o gol é um prazer por si, porque existe uma mistura de expectativa, de frio na barriga esperando o goleiro espalmar com a certeza de que a execução foi perfeita. Você está controlando a bola com a mente naqueles segundos e, nas sucessivas frações em que tudo parece dar certo, você sente que algo que já não está mais no seu controle está crescendo, apesar de você e também por sua causa.
Esse é um prazer que também existe em muitos outros jogos. É a mesma coisa de quando você põe em prática seu plano de fuga em um jogo de furtividade; são os instantes depois de você recarregar sua arma e partir para cima dos inimigos, parecendo de alguma maneira um passo à frente dos adversários e matando todo mundo; é o turno derradeiro de um jogo de estratégia, em que você arrisca tudo e manda todas as suas unidades atacarem. Você pressente, enquanto executa, que aquilo que você está fazendo é mágico e você está dentro daquilo que em alguns jogos se chama momentum ou combo.
Então, em um jogo de corrida, você tem aqueles momentos em que você está fazendo em uma curva fechada e pressente que vai sair dela acelerando limpo. Você tem os momentos em que você pressente que vai ultrapassar um oponente em uma reta, já que você está mais rápido que ele. Alguns jogos capitalizam em cima desse prazer de execução muito bem: a barrinha de nitro lá que enche conforme você executa jogadas interessantes, a tremida no controle enquanto você está fazendo algo arriscado ou a possibilidade de ver que o casco verde que você jogou vai, sim, acertar o cidadão na sua frente.
Mas esse prazer dura alguns segundos. É estimulante e viciante, certamente, e te leva a se arriscar cada vez mais. Mas depois que a curva é feita, depois que você está em primeiro e está em uma reta em que ninguém pode te alcançar — aí, sim, nesses lapsos de calmaria que duram o quanto você quiser mesmo em meio à tensão de uma corrida, reside o terceiro prazer de jogos de carrinho. Ele é o mais simples, também: é o prazer de estar em um carro.
Você sabia? O comportamento acústico do interior de um carro é bem específico e complexo. Devido aos paralelismos quebrados na “anatomia” de um automóvel, assim como os materiais usados para fazer bancos e coisas que tais, a sonoridade de um carro é um tanto seca e limpa. O som de fora não entra muito; o som de dentro não sai nem reverbera muito. É uma cápsula, feita para dar conforto acústico aos passageiros. Mas é confortável demais, eu diria.
Tem algo de amniótico em ficar dentro de um carro parado na garagem da sua casa. Quando não existiam ainda celulares com música, o que eu fazia era pegar os CDs que tinha no carro dos meus pais, mais alguns outros que meus amigos gravavam pra mim, e tocá-los no rádio. Já fez isso? Faz isso. É diferente de escutar em um fone, é diferente de escutar em uma caixa de som, seja ela grande ou pequena. É mais pacífico do que isso.
Por exemplo — vamos falar de Network Q RAC Rally Championship.
Não é assim tão comum, jogos de corrida sem corrida. Existe, é claro, um modo de corrida tradicional ali — mas o principal, e eu nunca nem acompanhei rally pra saber se é assim mesmo, é só você e a pista. Se por acaso você encontrar outros carros, primeiro que você provavelmente vai topar com eles e capotar os dois; segundo que eles não têm nada a ver com sua corrida. São oponentes, mas estão em outra categoria ou estão em um tempo diferente do seu. Só o que conta para o seu resultado é seu tempo naquele percurso.
Então são corridas muito sozinhas e existe uma em particular, Pundershaw, que dura vinte minutos. Quer dizer, eu falei vinte minutos? São vinte minutos com os carros mais rápidos; podem chegar a quarenta com o pequenininho Škoda Felicia se ele estiver quebrado. E aí surge até a pergunta: por que alguém escolheria o carro mais devagar sabendo que é o carro mais devagar? Fora competir em outra categoria, é claro. Ainda mais aqui: é um percurso longuíssimo, incrivelmente difícil, cansativo, em que as (absolutamente fantásticas) músicas chegam a repetir no rádio.
Mas o jogo captura muito bem o prazer de estar em um carro não apesar disso, mas justamente por isso. Você só consegue se concentrar um pouco de cada vez, então o resto, por mais tenso que seja, consiste em ver a paisagem mudar, ouvir o barulho sintetizado do motor e sustentar a velocidade máxima. É absolutamente pacífico.
E é por isso que jogos de corrida que se passam de dia são melhores que jogos de corrida que se passam à noite. Ou, pelo menos, pistas de dia são melhores que pistas de noite, pra jogos que têm as duas coisas.
Essa é uma opinião impopular, eu sei. Todo mundo prefere o Need for Speed Underground 2 ao Need for Speed Undercover. Vai ver as condições pra essa sensação amniótica são diferentes para cada um, mas eu garanto que ela está lá nos dois jogos. Vai ver eu prefiro o Need for Speed Undercover porque eu costumava fazer isso de ficar horas dentro do carro fazendo nada em particular no fim da tarde, depois de chegar da escola — e Tri-City, a cidade do jogo (o nome é idiota, mas existe), aparece pra você sempre à tarde.
Não só isso, mas você tem um mundo aberto do qual você acessa corridas e para o qual você vai depois delas, sem transições. Isso intensifica essa sensação pacífica de estar em um carro, correndo ou parado, porque você tem um tempo ainda dirigindo em alta velocidade depois de vencer, percorrendo pistas vazias.
Naturalmente, as músicas escolhidas para o jogo também são dispostas de maneira a evocar um estilo de vida, não só pelo estilo delas, mas também por tocarem aleatoriamente, como em um rádio ou CD. Não têm todo o charme da acústica do interior de um carro, mas não precisa: em jogos que priorizam o prazer de estar em um carro, seu quarto ou sua sala se tornam esse ambiente pacífico. À sua volta, dentro e fora do jogo, existe vida, existem outros carros, existe barulho, cheiros e pessoas pulsando. Mas você, você não — você está isolado de tudo isso, correndo a muitos quilômetros por hora sem nenhuma direção em particular.
E eu compreendo que jogos de corrida à noite podem ter algo parecido. Não é incomum, a ideia de casais viajando juntos à noite ou o pai dando uma volta no quarteirão com o filho bebê no banco de trás, tentando fazê-lo dormir. A estrada vazia à noite é igualmente pacífica. Mas, de todo modo, isso precisa ser evocado, precisa se dar em todos os momentos durante uma corrida. É uma decisão consciente, colocar esse tipo de sentimento dentro de um jogo.
Principalmente porque o prazer de estar em um carro vem à tona talvez no momento de maior tensão: o relaxamento que vem de estar na velocidade máxima e se certificar de que não há mais o que se fazer no momento é igual ao relaxamento que vem de estar parado. Você sabe o caminho, você tem um plano. Mas, enquanto você não cobra a próxima falta, estar ali já é gostoso o suficiente.
Dos três grandes prazeres pra se ter em um jogo de carrinho, parece que o terceiro deles é o menos notado ou comentado. E isso é uma pena — parece que está reservado aos jogos de carrinho um lugar ao mesmo tempo muito especial e muito ingrato nas estantes de todos nós. A maior parte de donos de um console Nintendo® tem Mario Kart e adora Mario Kart. Todo mundo adora Mario Kart. Todo mundo adora um jogo de corrida. Você, lendo aqui, pode pensar em Need for Speed Underground 2, Gran Turismo 5, Top Gear 3000, Rock n’ Roll Racing, Daytona USA — existe um jogo de corrida para aquecer cada coração.
E, no entanto, ninguém prefere jogos de carrinho.Não deve ser difícil encontrar por aí aficionados por jogos de corrida da mesma maneira que você encontra viciados em jogos de luta ou tiro em primeira pessoa. Existem subculturas pulsantes de “fabricação” de carros para jogos que não os têm normalmente, como a galera que coloca Fusca em Midtown Madness. Existe uma cena impressionante de pessoas que jogam e veiculam suas muitas horas de Euro Truck Simulator por streaming, simulando, para todos os efeitos, a paixão que um caminhoneiro tem pelas viagens que faz. Tem até uma população que faz roleplay de taxista no GTA.
Não é disso que estou falando — isso são nichos intensos, mas não representam uma predileção geral por jogos de corrida como você até acaba vendo por jogos de tiro ou de luta. Jogos de corrida, no entanto e pelo menos pros habitantes da região metropolitana do dislu.do, parecem ser sempre a segunda escolha da sua estante. E isso se deve à atenção que se dá aos dois primeiros grandes prazeres desse tipo de jogo.
O primeiro é o de vencer. Ele é simples, você pode achá-lo em qualquer jogo. É o prazer de cruzar a linha de chegada antes dos seus concorrentes e culmina tudo que você fez naquela corrida até ali. Essas sensações de alívio e euforia simultâneas são especiais nos bons jogos de corrida porque não tem conversa: se você venceu, você venceu e não adianta botar a culpa em um casco azul ou em uma batida na largada, por mais que os jogos favoreçam esses momentos. Não tem conversa porque, nos jogos com bom prazer de vencer, existe uma margem de erro, uma tensão constante vinda da noção de que é possível se recuperar de uma falha ou reverter um aparente resultado ruim. E, se você tem essa margem, seus competidores também têm; no fim, se você ganhar, não há o que tire seu mérito.
Mas esse é um prazer que dura uma fração de segundo. A vitória dura um segundo e a derrota dura para sempre, é o que dizem (ninguém nunca disse isso. Pode patentear no meu nome, seu Praxedes, mas pega minha assinatura da internet aí que eu não tenho caneta comigo). Deve ser alguma coisa fisiológica no jeito que você solta a respiração ou na cor dourada do 1st no meio da tela. E até aí, de fato, é um prazer igual ao vermelho do K.O. ou do som de um chefão explodindo. Depois disso, vem uma calmaria, em que você lembra das jogadas que fez para chegar até ali.
E esse é o segundo grande prazer — o de dirigir. Especificamente, esse é um prazer de execução, muito parecido com o prazer de fazer gols de falta. Você já fez um gol de falta? A bola estufar a rede é o prazer de uma vitória, mas a trajetória do seu pé até o gol é um prazer por si, porque existe uma mistura de expectativa, de frio na barriga esperando o goleiro espalmar com a certeza de que a execução foi perfeita. Você está controlando a bola com a mente naqueles segundos e, nas sucessivas frações em que tudo parece dar certo, você sente que algo que já não está mais no seu controle está crescendo, apesar de você e também por sua causa.
Esse é um prazer que também existe em muitos outros jogos. É a mesma coisa de quando você põe em prática seu plano de fuga em um jogo de furtividade; são os instantes depois de você recarregar sua arma e partir para cima dos inimigos, parecendo de alguma maneira um passo à frente dos adversários e matando todo mundo; é o turno derradeiro de um jogo de estratégia, em que você arrisca tudo e manda todas as suas unidades atacarem. Você pressente, enquanto executa, que aquilo que você está fazendo é mágico e você está dentro daquilo que em alguns jogos se chama momentum ou combo.
Então, em um jogo de corrida, você tem aqueles momentos em que você está fazendo em uma curva fechada e pressente que vai sair dela acelerando limpo. Você tem os momentos em que você pressente que vai ultrapassar um oponente em uma reta, já que você está mais rápido que ele. Alguns jogos capitalizam em cima desse prazer de execução muito bem: a barrinha de nitro lá que enche conforme você executa jogadas interessantes, a tremida no controle enquanto você está fazendo algo arriscado ou a possibilidade de ver que o casco verde que você jogou vai, sim, acertar o cidadão na sua frente.
Mas esse prazer dura alguns segundos. É estimulante e viciante, certamente, e te leva a se arriscar cada vez mais. Mas depois que a curva é feita, depois que você está em primeiro e está em uma reta em que ninguém pode te alcançar — aí, sim, nesses lapsos de calmaria que duram o quanto você quiser mesmo em meio à tensão de uma corrida, reside o terceiro prazer de jogos de carrinho. Ele é o mais simples, também: é o prazer de estar em um carro.
Você sabia? O comportamento acústico do interior de um carro é bem específico e complexo. Devido aos paralelismos quebrados na “anatomia” de um automóvel, assim como os materiais usados para fazer bancos e coisas que tais, a sonoridade de um carro é um tanto seca e limpa. O som de fora não entra muito; o som de dentro não sai nem reverbera muito. É uma cápsula, feita para dar conforto acústico aos passageiros. Mas é confortável demais, eu diria.
Tem algo de amniótico em ficar dentro de um carro parado na garagem da sua casa. Quando não existiam ainda celulares com música, o que eu fazia era pegar os CDs que tinha no carro dos meus pais, mais alguns outros que meus amigos gravavam pra mim, e tocá-los no rádio. Já fez isso? Faz isso. É diferente de escutar em um fone, é diferente de escutar em uma caixa de som, seja ela grande ou pequena. É mais pacífico do que isso.
Por exemplo — vamos falar de Network Q RAC Rally Championship.
Não é assim tão comum, jogos de corrida sem corrida. Existe, é claro, um modo de corrida tradicional ali — mas o principal, e eu nunca nem acompanhei rally pra saber se é assim mesmo, é só você e a pista. Se por acaso você encontrar outros carros, primeiro que você provavelmente vai topar com eles e capotar os dois; segundo que eles não têm nada a ver com sua corrida. São oponentes, mas estão em outra categoria ou estão em um tempo diferente do seu. Só o que conta para o seu resultado é seu tempo naquele percurso.
Então são corridas muito sozinhas e existe uma em particular, Pundershaw, que dura vinte minutos. Quer dizer, eu falei vinte minutos? São vinte minutos com os carros mais rápidos; podem chegar a quarenta com o pequenininho Škoda Felicia se ele estiver quebrado. E aí surge até a pergunta: por que alguém escolheria o carro mais devagar sabendo que é o carro mais devagar? Fora competir em outra categoria, é claro. Ainda mais aqui: é um percurso longuíssimo, incrivelmente difícil, cansativo, em que as (absolutamente fantásticas) músicas chegam a repetir no rádio.
Mas o jogo captura muito bem o prazer de estar em um carro não apesar disso, mas justamente por isso. Você só consegue se concentrar um pouco de cada vez, então o resto, por mais tenso que seja, consiste em ver a paisagem mudar, ouvir o barulho sintetizado do motor e sustentar a velocidade máxima. É absolutamente pacífico.
E é por isso que jogos de corrida que se passam de dia são melhores que jogos de corrida que se passam à noite. Ou, pelo menos, pistas de dia são melhores que pistas de noite, pra jogos que têm as duas coisas.
Essa é uma opinião impopular, eu sei. Todo mundo prefere o Need for Speed Underground 2 ao Need for Speed Undercover. Vai ver as condições pra essa sensação amniótica são diferentes para cada um, mas eu garanto que ela está lá nos dois jogos. Vai ver eu prefiro o Need for Speed Undercover porque eu costumava fazer isso de ficar horas dentro do carro fazendo nada em particular no fim da tarde, depois de chegar da escola — e Tri-City, a cidade do jogo (o nome é idiota, mas existe), aparece pra você sempre à tarde.
Não só isso, mas você tem um mundo aberto do qual você acessa corridas e para o qual você vai depois delas, sem transições. Isso intensifica essa sensação pacífica de estar em um carro, correndo ou parado, porque você tem um tempo ainda dirigindo em alta velocidade depois de vencer, percorrendo pistas vazias.
Naturalmente, as músicas escolhidas para o jogo também são dispostas de maneira a evocar um estilo de vida, não só pelo estilo delas, mas também por tocarem aleatoriamente, como em um rádio ou CD. Não têm todo o charme da acústica do interior de um carro, mas não precisa: em jogos que priorizam o prazer de estar em um carro, seu quarto ou sua sala se tornam esse ambiente pacífico. À sua volta, dentro e fora do jogo, existe vida, existem outros carros, existe barulho, cheiros e pessoas pulsando. Mas você, você não — você está isolado de tudo isso, correndo a muitos quilômetros por hora sem nenhuma direção em particular.
E eu compreendo que jogos de corrida à noite podem ter algo parecido. Não é incomum, a ideia de casais viajando juntos à noite ou o pai dando uma volta no quarteirão com o filho bebê no banco de trás, tentando fazê-lo dormir. A estrada vazia à noite é igualmente pacífica. Mas, de todo modo, isso precisa ser evocado, precisa se dar em todos os momentos durante uma corrida. É uma decisão consciente, colocar esse tipo de sentimento dentro de um jogo.
Principalmente porque o prazer de estar em um carro vem à tona talvez no momento de maior tensão: o relaxamento que vem de estar na velocidade máxima e se certificar de que não há mais o que se fazer no momento é igual ao relaxamento que vem de estar parado. Você sabe o caminho, você tem um plano. Mas, enquanto você não cobra a próxima falta, estar ali já é gostoso o suficiente.
2017
Não sei o que a internet tem te dito, mas o fator comum em todos os bons jogos de Sonic é o fato de que, neles, o Sonic muito provavelmente te odeia. Quando você fica parado por muito tempo, ele olha irritado pra você e, de repente, pode até ir embora do jogo; quando você está correndo em uma direção e vira para o outro lado do nada, ele derrapa, meio perplexo; se você for até a ponta de um penhasco, ele se desequilibra, absolutamente desesperado; se você for atingido por um inimigo, ele cai pra trás, surpreso por ter sido atingido; quando você morre, ele cai pra fora da tela, igualmente confuso com o que está acontecendo.
Isso é um traço de personalidade muito bonitinho presente em todos os jogos bons de Sonic — ele não se comporta exatamente como um avatar seu. Ele está ali, cobrando que você jogue direito, decida direito pra onde você quer ir e provavelmente pensando “ah, mas AGORA que eu estou correndo você decide mudar de direção! ‘Pera aí, cacete, você vai estourar meu joelho!!”. Mas a questão mais importante não é o traço de personalidade.
Em todos jogos bons de Sonic, você fica parado; em todos os jogos bons de Sonic, você se vê na necessidade repentina de parar tudo que você está fazendo e voltar; você fica incerto com o que tem além do penhasco em que você está, pula mesmo assim e é atingido por um espinho.
Em todos os bons jogos de Sonic, você morre.
A história de Sonic Mania é mais longa e complicada do que esse tweet te faria imaginar: são dez anos de trajetória de Christian Whitehead & companhia antes de fazer Sonic Mania, nos confins de fóruns de internet que têm uma conferência anual de jogos de Sonic feitos por fãs. A relação estabelecida com a SEGA é de longa data e, com a “causa perdida de Sonic”, mais ainda. Isso significa que quando você vê a Green Hill como a primeira fase de Sonic Mania, o apelo não é para a nostalgia: é um apelo para a vingança. Oitocentas Green Hill depois, essa é a Green Hill trabalhada por uma comunidade durante quase quinze anos — não como quem diz “essa é a Green Hill de que eu me lembro”, mas sim “essa é a Green Hill que eu quero que seja lembrada daqui pra frente”.
Existem grandes homenagens a várias fases e jogos antigos de Sonic durante Sonic Mania. Referências e ideias que, antes, só tinham sido aplicadas em jogos de Master System e Game Gear. Mas talvez eu tenha usado a palavra errada — não são homenagens, porque não estão ali com o propósito de lembrar ninguém de nada. Estão ali com o propósito de te fazer jogar. Fazem parte de um sistema bastante complexo de ambientes, interações de habilidades com o cenário e escolhas a se fazer para chegar até o fim da fase. De maneira geral, os níveis de Sonic Mania são bastante ambiciosos, existindo neles vários caminhos e vários segredos, muita coisa para se fazer e, portanto, certa dificuldade em traçar o caminho que você fez para se chegar até onde você está. Isso faz com que jogar com o Sonic (o boneco que se irrita quando você fica parado) seja um exercício constante de se jogar e ver no que dá. Essa é uma sensação específica de jogos de Sonic que os desenvolvedores resolveram potencializar, entrecortando muitos caminhos e enumerando seções em que você deve escolher, quase arbitrariamente, para onde ir — e é isso que evoca uma sensação maior de que você pode fazer o que quiser, que sua interação com o cenário, soltar um spindash para chegar até lá em cima e descobrir sabe-se lá o quê, é muito mais fluida do que qualquer manual de Game Design poderia indicar.
O que também ajuda nesse ritmo é a constância com que você muda de objetivo. Vez por outra, você encontra aneis gigantes que te levam para Special Stages que, por sua vez, podem ou não te dar Chaos Emeralds (provavelmente não vão dar; são difíceis). Ao encontrar um checkpoint e ter aneis suficientes, você pode acessar Bonus Stages, que nada mais são do que as Special Stages de Sonic 3 & Knuckles, e pegar medalhas — medalhas essas que, por sua vez, destravam bônus no menu do jogo. Tudo isso conflita e complementa o objetivo principal, de pegar aneis, bater em robôs e chegar até o fim da fase. Esses são grandes estímulos para você correr pela fase e acessar áreas diferentes como se brincar de rolar e pular fosse suficiente.
Mas não é nada disso que vai te fazer acessar áreas diferentes. O motor real do jogo, o que motiva escolhas, te obriga a usar diferentes habilidades e mesmo a ficar parado é seu sofrimento.
Os desenvolvedores de Sonic Mania sabem exatamente o que faz um jogador de Sonic sofrer: você constantemente passa em alta velocidade por seções em que existem vários monitores suculentos que te dariam várias vantagens, mas você está em alta velocidade e não pode ou não acha que vale a pena parar e voltar só para pegar um escudo elétrico ou dez aneis. Você constantemente pode ver aneis gigantes ou monitores ainda mais suculentos, como uma vida ou o que torna mais fácil recuperar aneis caso você seja atingido, atrás de paredes que você não tem ideia de como transpor. Você constantemente vê seções acima de você que parecem ter muito menos badniks do que você está enfrentando. Mas nada disso importaria se você não precisasse desesperadamente de mais aneis, de menos inimigos, de mais vantagens.
Porque você está em perigo o tempo todo.
Quando você não tem aneis, você está sob risco iminente de morrer. Quando o tempo se aproxima de dez minutos, você está sob risco iminente de morrer. Você sabe que ao final de cada fase há um chefão, então você precisa escolher entre confiar que consegue derrotar o chefão (quase) sem aneis ou procurar mais aneis e correr o risco de tomar dez minutos de fase na sua cara. Essa é uma escolha constante em Sonic Mania. Tudo te atinge, você muito provavelmente não é bom o bastante para passar ileso das fases e não existem aneis suficientes para você ficar tranquilo o tempo inteiro.
Aí você morre. Invariavelmente.
É a partir dessa falha, de voltar para o checkpoint anterior e de reconhecer o perigo e saber onde ele está e saber que você não consegue passar dele sem ser atingido, que você busca outros caminhos ou se força a aprender outro truque, outra maneira de interagir com o cenário. Você aprende a frear e fazer o Sonic derrapar. Essa pervasividade dos perigos e do seu próprio poder de transpô-los — já que depende só de você — está presente nos melhores jogos de Sonic e foi capturada em Sonic Mania. O que vai acontecer a seguir está sujeito ao momento — pode ser que um escudo de fogo te salve da ponte com espinhos ao queimá-la, mas te joga em outro caminho; pode ser que você pule para uma plataforma mais acima e erre o tempo do badnik que está lá atirando bolinhas, de forma que ele te atinge; pode ser que você acerte o tempo do seu spindash, de maneira que você consegue acertar um badnik no meio da queda e seja jogado para cima de novo. Nada disso é aleatório. É tudo culpa ou mérito seu. Você que quis se jogar. Você que sabe do perigo que corre.
Ninguém mandou.
Em trazer de volta esse despeito, Sonic Mania é o melhor Sonic que poderia ser feito por fãs em 2017. Mas não se engane: não é o jogo de Sonic que “devia ter saído no Saturn”, muito menos “o primeiro jogo bom de Sonic por trazer de volta as ideias boas dos clássicos e jogar fora as ruins”. Sonic Mania é exatamente o jogo que fãs fariam depois de dez anos de trajetória e de ausência cada vez mais gritante do legado de Sonic, o que deu cabimento às Opiniões Controversas que você vai ver por aí.
Sonic Mania só poderia ter saído em 2017. Ainda bem que saiu.
Isso é um traço de personalidade muito bonitinho presente em todos os jogos bons de Sonic — ele não se comporta exatamente como um avatar seu. Ele está ali, cobrando que você jogue direito, decida direito pra onde você quer ir e provavelmente pensando “ah, mas AGORA que eu estou correndo você decide mudar de direção! ‘Pera aí, cacete, você vai estourar meu joelho!!”. Mas a questão mais importante não é o traço de personalidade.
Em todos jogos bons de Sonic, você fica parado; em todos os jogos bons de Sonic, você se vê na necessidade repentina de parar tudo que você está fazendo e voltar; você fica incerto com o que tem além do penhasco em que você está, pula mesmo assim e é atingido por um espinho.
Em todos os bons jogos de Sonic, você morre.
A história de Sonic Mania é mais longa e complicada do que esse tweet te faria imaginar: são dez anos de trajetória de Christian Whitehead & companhia antes de fazer Sonic Mania, nos confins de fóruns de internet que têm uma conferência anual de jogos de Sonic feitos por fãs. A relação estabelecida com a SEGA é de longa data e, com a “causa perdida de Sonic”, mais ainda. Isso significa que quando você vê a Green Hill como a primeira fase de Sonic Mania, o apelo não é para a nostalgia: é um apelo para a vingança. Oitocentas Green Hill depois, essa é a Green Hill trabalhada por uma comunidade durante quase quinze anos — não como quem diz “essa é a Green Hill de que eu me lembro”, mas sim “essa é a Green Hill que eu quero que seja lembrada daqui pra frente”.
Existem grandes homenagens a várias fases e jogos antigos de Sonic durante Sonic Mania. Referências e ideias que, antes, só tinham sido aplicadas em jogos de Master System e Game Gear. Mas talvez eu tenha usado a palavra errada — não são homenagens, porque não estão ali com o propósito de lembrar ninguém de nada. Estão ali com o propósito de te fazer jogar. Fazem parte de um sistema bastante complexo de ambientes, interações de habilidades com o cenário e escolhas a se fazer para chegar até o fim da fase. De maneira geral, os níveis de Sonic Mania são bastante ambiciosos, existindo neles vários caminhos e vários segredos, muita coisa para se fazer e, portanto, certa dificuldade em traçar o caminho que você fez para se chegar até onde você está. Isso faz com que jogar com o Sonic (o boneco que se irrita quando você fica parado) seja um exercício constante de se jogar e ver no que dá. Essa é uma sensação específica de jogos de Sonic que os desenvolvedores resolveram potencializar, entrecortando muitos caminhos e enumerando seções em que você deve escolher, quase arbitrariamente, para onde ir — e é isso que evoca uma sensação maior de que você pode fazer o que quiser, que sua interação com o cenário, soltar um spindash para chegar até lá em cima e descobrir sabe-se lá o quê, é muito mais fluida do que qualquer manual de Game Design poderia indicar.
O que também ajuda nesse ritmo é a constância com que você muda de objetivo. Vez por outra, você encontra aneis gigantes que te levam para Special Stages que, por sua vez, podem ou não te dar Chaos Emeralds (provavelmente não vão dar; são difíceis). Ao encontrar um checkpoint e ter aneis suficientes, você pode acessar Bonus Stages, que nada mais são do que as Special Stages de Sonic 3 & Knuckles, e pegar medalhas — medalhas essas que, por sua vez, destravam bônus no menu do jogo. Tudo isso conflita e complementa o objetivo principal, de pegar aneis, bater em robôs e chegar até o fim da fase. Esses são grandes estímulos para você correr pela fase e acessar áreas diferentes como se brincar de rolar e pular fosse suficiente.
Mas não é nada disso que vai te fazer acessar áreas diferentes. O motor real do jogo, o que motiva escolhas, te obriga a usar diferentes habilidades e mesmo a ficar parado é seu sofrimento.
Os desenvolvedores de Sonic Mania sabem exatamente o que faz um jogador de Sonic sofrer: você constantemente passa em alta velocidade por seções em que existem vários monitores suculentos que te dariam várias vantagens, mas você está em alta velocidade e não pode ou não acha que vale a pena parar e voltar só para pegar um escudo elétrico ou dez aneis. Você constantemente pode ver aneis gigantes ou monitores ainda mais suculentos, como uma vida ou o que torna mais fácil recuperar aneis caso você seja atingido, atrás de paredes que você não tem ideia de como transpor. Você constantemente vê seções acima de você que parecem ter muito menos badniks do que você está enfrentando. Mas nada disso importaria se você não precisasse desesperadamente de mais aneis, de menos inimigos, de mais vantagens.
Porque você está em perigo o tempo todo.
Quando você não tem aneis, você está sob risco iminente de morrer. Quando o tempo se aproxima de dez minutos, você está sob risco iminente de morrer. Você sabe que ao final de cada fase há um chefão, então você precisa escolher entre confiar que consegue derrotar o chefão (quase) sem aneis ou procurar mais aneis e correr o risco de tomar dez minutos de fase na sua cara. Essa é uma escolha constante em Sonic Mania. Tudo te atinge, você muito provavelmente não é bom o bastante para passar ileso das fases e não existem aneis suficientes para você ficar tranquilo o tempo inteiro.
Aí você morre. Invariavelmente.
É a partir dessa falha, de voltar para o checkpoint anterior e de reconhecer o perigo e saber onde ele está e saber que você não consegue passar dele sem ser atingido, que você busca outros caminhos ou se força a aprender outro truque, outra maneira de interagir com o cenário. Você aprende a frear e fazer o Sonic derrapar. Essa pervasividade dos perigos e do seu próprio poder de transpô-los — já que depende só de você — está presente nos melhores jogos de Sonic e foi capturada em Sonic Mania. O que vai acontecer a seguir está sujeito ao momento — pode ser que um escudo de fogo te salve da ponte com espinhos ao queimá-la, mas te joga em outro caminho; pode ser que você pule para uma plataforma mais acima e erre o tempo do badnik que está lá atirando bolinhas, de forma que ele te atinge; pode ser que você acerte o tempo do seu spindash, de maneira que você consegue acertar um badnik no meio da queda e seja jogado para cima de novo. Nada disso é aleatório. É tudo culpa ou mérito seu. Você que quis se jogar. Você que sabe do perigo que corre.
Ninguém mandou.
Em trazer de volta esse despeito, Sonic Mania é o melhor Sonic que poderia ser feito por fãs em 2017. Mas não se engane: não é o jogo de Sonic que “devia ter saído no Saturn”, muito menos “o primeiro jogo bom de Sonic por trazer de volta as ideias boas dos clássicos e jogar fora as ruins”. Sonic Mania é exatamente o jogo que fãs fariam depois de dez anos de trajetória e de ausência cada vez mais gritante do legado de Sonic, o que deu cabimento às Opiniões Controversas que você vai ver por aí.
Sonic Mania só poderia ter saído em 2017. Ainda bem que saiu.
Você pode argumentar que isso é de nascença ou que é construído ao longo de anos de mercado e indústria, mas nós esperamos determinado conjunto de estruturas em um videogame que nos possibilite entender, com tanto menos sinalização quanto possível, quem somos, de onde viemos, para onde vamos e como chegar lá. Isso existe em vários níveis e damos vários nomes pra coisas que queremos e não sabemos tão bem por quê: “intuitivo”, “satisfatório”, “acolhedor”, “acessível”, “gratificante” — podemos achar palavras eternamente, mas elas sempre vão significar alguma coisa entre “gostosinho de começar”, “gostosinho de continuar” e “gostosinho de terminar”.
Hostile Waters: Antaeus Rising não é nenhum desses.
Não é gostosinho de começar porque é um jogo estranho à primeira vista. Tudo que você achar na rede mundial de computadores sobre ele vai dar muita atenção para sua mistura de gêneros: é relativamente fácil explicá-lo como “o encontro do RTS com o third-person shooter veicular, asterisco, que nem Carrier Command, asterisco, Carrier Command é um jogo híbrido de RTS com third person shooter veicular”. Mais fácil, pelo menos, do que explicar o que acontece de fato no jogo, porque o começo dele não tem nada de estratégia nem de atirar em ninguém. Na verdade, a fase tutorial do jogo não tem absolutamente nenhum dos comandos que você vai usar pelo resto do jogo.
O que acontece é o seguinte: estamos em 2032, ano em que não há mais guerras, nem nações, nem fome no mundo. A humanidade está vivendo uma utopia desde a última guerra, em 2012, graças ao desenvolvimento de uma tecnologia que permite decompor qualquer tipo de matéria em energia e recompor energia em qualquer tipo matéria, o que significa que pode-se transformar lixo em comida, armas em flores e prisões em hospitais em questão de segundos.
No entanto, um conjunto de pessoas senis que não gostaram da ideia de paraíso comunista fugiu para um arquipélago no Pacífico e pretende reconquistar o mundo através do capitalismo e da guerra. O Governo Mundial, que já sabia que algo assim poderia acontecer, traça um esquema para deter os planos dessa organização maligna: reativar Antaeus, um navio de guerra portador dessa tecnologia milagrosa, que estava no solo oceânico para casos de emergência e casualmente ali por perto no Pacífico, para que ele possa criar outras máquinas de guerra e servir de base para missões de destruição desse núcleo de pessoas ruins (que, aliás, se chama Cabal).
Bom, e daí? E daí que esse nunca foi um plano de emergência muito bom, porque um navio que veio do fundo do mar está obviamente só o cadarço do Kichute e precisa urgentemente de reparos em todos os seus sistemas. E daí que a primeira fase consiste, portanto, em angariar energia para reativar os sistemas do navio e o jogo começa, então, não na sua base: ele começa em um helicóptero que só serve para carregar objetos de uma ilha próxima para o sistema de desagregação de matéria do navio. E tudo bem, você é apresentado a dois tipos de veículo (esse helicóptero aí e o Scarab, um tanque que não pode atacar, mas consegue transformar objetos próximos em energia). Mas ainda não existem veículos de combate, sistemas de comando para unidades autônomas nem, bom, unidades autônomas propriamente ditas.
Então é difícil chamar essa primeira fase de tutorial. Você vai ser apresentado a sistemas, veículos, armas e dinâmicas totalmente novos praticamente a cada fase, tornando o jogo um gigantesco tutorial de si mesmo. Isso tira completamente o sentimento de domínio sobre o jogo que compõe uma dinâmica normal de desafio e aposta entre você e um jogo, ou o que você pode depreender ali em cima de “gostosinho de continuar”. A curva de aprendizado do jogo, se você quiser chamar assim, absolutamente nunca estabiliza e muitos elementos são introduzidos ao contrário de uma lógica normal.
Por exemplo: na segunda fase, você é introduzido ao sistema de soulcatch, um chip que te permite atribuir inteligência artifical aos veículos que você constrói, tornando eles autônomos. Esses chips contêm almas de soldados mortos durante a guerra de 2012 e esses soldados voltam como foram: especialistas em um tipo de veículo ou arma. Você vai ganhando soldados adicionais durante o jogo, mas começa com três — Borden, Patton e Ransom.
Ransom claramente prefere pilotar helicópteros, já que ele reclama se você o colocar em qualquer outro tipo de veículo, e tem o hábito de tentar matar todo mundo que vir pela frente, mesmo que isso signifique atacar baterias anti-aéreas e contra as suas ordens (por isso ele morreu em primeiro lugar); Borden pode parar tudo o que está fazendo para destruir edifícios se der um cinco minutos nela (e frequentemente dá um cinco minutos nela); Patton, no entanto e no começo, não faz nada muito bem e reclama de tudo que você der pra ele. E isso é muito esquisito, já que ele especificamente reclama que as armas que você dá têm pouco poder de fogo e os veículos que você tem são muito fracos. E isso te leva a falar “o que você quer que eu FAÇA, filho da puta?”, já que a culpa não é sua.
O que você descobre só na décima terceira fase é que existe uma arma e um veículo de que o Patton gosta, e ele se torna essencial para o time com esses recursos novos. Isso depois de ganhar várias armas que, na prática, só têm utilidade na fase em que foram introduzidas e para objetivos incrivelmente específicos, como matar uma pessoa a dois quilômetros de distância (uma pessoa; estamos falando de um jogo em que todo o combate é veicular).
Então quer dizer, você passa ONZE fases, mais da metade do jogo, subaproveitando a inteligência artificial dele. E não porque você não sabe usá-lo, mas porque o jogo quer. De um ponto de vista puramente acadêmico, das convenções do bom game design, isso não faz absolutamente nenhum sentido.
(Antes de continuar e entrar na terceira parte desse texto, deixa eu adicionar que esse sistema de soulcatch, especialmente progredindo dessa maneira, gera dinâmicas muito humanas entre os soldados: eles comentam os erros uns dos outros e têm rixas particulares. Borden e Korolev parecem se odiar por algo que aconteceu na guerra, mas isso nunca é explicado; Kroker e Lazare não se bicam e chegam a comemorar se o outro estiver passando dificuldade em batalha. E você também passa a ter mais simpatia por uns do que por outros. Pau no cu do Lazare, por exemplo)
Essa progressão amalucada, às avessas, se mantém até a última fase: nela, você ganha um caça. É uma adição estranhíssima ao seu arsenal, já que estamos em um ponto do jogo em que unidades aéreas são as menos eficientes — artilharias anti-aéreas estão infinitamente mais fortes do que é possível lidar sem uma estratégia específica para abatê-las, estratégia essa que é impossível nessa fase por ela ser um corredor polonês de vinte minutos para o navio. A essa altura, você já desenvolveu uma necessidade emocional de proteger Antaeus de todo o mal, então essa fase (uma missão suicida, inclusive) não permite estratégias elaboradas só para poder usar um caça extremamente frágil e que só pode ser controlado por você.
E tudo faria muito sentido se existisse algo que servisse para estabilizar essa curva. Se existisse algum tipo de endgame estável em que você pode testar todos os seus veículos e armas. Um multiplayer, de repente. Não existe. Hostile Waters acaba depois da décima nona fase, com pouca cerimônia e um gosto estranho na boca. Você cumpriu sua missão e salvou o mundo. Agora, tchau.
Essa última missão faria mais sentido na progressão do jogo se fosse um último recurso também como mecânica, como é na história — se você estivesse despido, quebrado, tendo que raspar o fundo da lata para achar energia e construir veículos frágeis. Os criadores do jogo sabiam disso, pois é assim que o jogo começa. Antaeus começa extremamente vulnerável, mas termina soberana. O jogo termina quando você, Antaeus e seus sistemas de comando estão no auge. Em nenhuma fase do jogo fora a última existem dez inteligências artificiais para controlar as dez unidades possíveis de serem construídas. Então por quê? Por que o jogo se autossabota desse jeito? Por que ele não virou um clássico, com suas inovações mecânicas tão bem trabalhadas?
A resposta é tão estranha quanto Hostile Waters: é porque o jogo quis. Não os desenvolvedores, não os jogadores, não os distribuidores. O jogo se fez assim, se fez autofágico e só se afirma em sua forma mais pura nesse processo. Toda a progressão do jogo está subjugada à história e essa história está subjugada a um conceito. Esse conceito é claro e está no motto de Hostile Waters: pugio in averso belli, isto é, “o punhal que evita a guerra”. Antaeus é o punhal que mata o rei belicista, evitando a morte de milhões pela guerra. Essa é uma estratégia suja, um subterfúgio. Todas as missões em Hostile Waters são subterfúgios, as táticas que você usa são todas subterfúgios. Não existe combate limpo aqui, conceitualmente, por mais que você enfrente helicópteros com helicópteros e tanques com tanques.
Hostile Waters é um jogo inerentemente sujo. É o que precisa ser para salvar o mundo sem nenhum vestígio de honra. Antaeus nasceu e morreu; você não tem por que continuar usando os sistemas depois disso. Afinal, guerra é ruim e devemos evitá-la a todo custo, ainda que esse custo atinja a nós mesmos em primeiro lugar.
Hostile Waters: Antaeus Rising não é nenhum desses.
Não é gostosinho de começar porque é um jogo estranho à primeira vista. Tudo que você achar na rede mundial de computadores sobre ele vai dar muita atenção para sua mistura de gêneros: é relativamente fácil explicá-lo como “o encontro do RTS com o third-person shooter veicular, asterisco, que nem Carrier Command, asterisco, Carrier Command é um jogo híbrido de RTS com third person shooter veicular”. Mais fácil, pelo menos, do que explicar o que acontece de fato no jogo, porque o começo dele não tem nada de estratégia nem de atirar em ninguém. Na verdade, a fase tutorial do jogo não tem absolutamente nenhum dos comandos que você vai usar pelo resto do jogo.
O que acontece é o seguinte: estamos em 2032, ano em que não há mais guerras, nem nações, nem fome no mundo. A humanidade está vivendo uma utopia desde a última guerra, em 2012, graças ao desenvolvimento de uma tecnologia que permite decompor qualquer tipo de matéria em energia e recompor energia em qualquer tipo matéria, o que significa que pode-se transformar lixo em comida, armas em flores e prisões em hospitais em questão de segundos.
No entanto, um conjunto de pessoas senis que não gostaram da ideia de paraíso comunista fugiu para um arquipélago no Pacífico e pretende reconquistar o mundo através do capitalismo e da guerra. O Governo Mundial, que já sabia que algo assim poderia acontecer, traça um esquema para deter os planos dessa organização maligna: reativar Antaeus, um navio de guerra portador dessa tecnologia milagrosa, que estava no solo oceânico para casos de emergência e casualmente ali por perto no Pacífico, para que ele possa criar outras máquinas de guerra e servir de base para missões de destruição desse núcleo de pessoas ruins (que, aliás, se chama Cabal).
Bom, e daí? E daí que esse nunca foi um plano de emergência muito bom, porque um navio que veio do fundo do mar está obviamente só o cadarço do Kichute e precisa urgentemente de reparos em todos os seus sistemas. E daí que a primeira fase consiste, portanto, em angariar energia para reativar os sistemas do navio e o jogo começa, então, não na sua base: ele começa em um helicóptero que só serve para carregar objetos de uma ilha próxima para o sistema de desagregação de matéria do navio. E tudo bem, você é apresentado a dois tipos de veículo (esse helicóptero aí e o Scarab, um tanque que não pode atacar, mas consegue transformar objetos próximos em energia). Mas ainda não existem veículos de combate, sistemas de comando para unidades autônomas nem, bom, unidades autônomas propriamente ditas.
Então é difícil chamar essa primeira fase de tutorial. Você vai ser apresentado a sistemas, veículos, armas e dinâmicas totalmente novos praticamente a cada fase, tornando o jogo um gigantesco tutorial de si mesmo. Isso tira completamente o sentimento de domínio sobre o jogo que compõe uma dinâmica normal de desafio e aposta entre você e um jogo, ou o que você pode depreender ali em cima de “gostosinho de continuar”. A curva de aprendizado do jogo, se você quiser chamar assim, absolutamente nunca estabiliza e muitos elementos são introduzidos ao contrário de uma lógica normal.
Por exemplo: na segunda fase, você é introduzido ao sistema de soulcatch, um chip que te permite atribuir inteligência artifical aos veículos que você constrói, tornando eles autônomos. Esses chips contêm almas de soldados mortos durante a guerra de 2012 e esses soldados voltam como foram: especialistas em um tipo de veículo ou arma. Você vai ganhando soldados adicionais durante o jogo, mas começa com três — Borden, Patton e Ransom.
Ransom claramente prefere pilotar helicópteros, já que ele reclama se você o colocar em qualquer outro tipo de veículo, e tem o hábito de tentar matar todo mundo que vir pela frente, mesmo que isso signifique atacar baterias anti-aéreas e contra as suas ordens (por isso ele morreu em primeiro lugar); Borden pode parar tudo o que está fazendo para destruir edifícios se der um cinco minutos nela (e frequentemente dá um cinco minutos nela); Patton, no entanto e no começo, não faz nada muito bem e reclama de tudo que você der pra ele. E isso é muito esquisito, já que ele especificamente reclama que as armas que você dá têm pouco poder de fogo e os veículos que você tem são muito fracos. E isso te leva a falar “o que você quer que eu FAÇA, filho da puta?”, já que a culpa não é sua.
O que você descobre só na décima terceira fase é que existe uma arma e um veículo de que o Patton gosta, e ele se torna essencial para o time com esses recursos novos. Isso depois de ganhar várias armas que, na prática, só têm utilidade na fase em que foram introduzidas e para objetivos incrivelmente específicos, como matar uma pessoa a dois quilômetros de distância (uma pessoa; estamos falando de um jogo em que todo o combate é veicular).
Então quer dizer, você passa ONZE fases, mais da metade do jogo, subaproveitando a inteligência artificial dele. E não porque você não sabe usá-lo, mas porque o jogo quer. De um ponto de vista puramente acadêmico, das convenções do bom game design, isso não faz absolutamente nenhum sentido.
(Antes de continuar e entrar na terceira parte desse texto, deixa eu adicionar que esse sistema de soulcatch, especialmente progredindo dessa maneira, gera dinâmicas muito humanas entre os soldados: eles comentam os erros uns dos outros e têm rixas particulares. Borden e Korolev parecem se odiar por algo que aconteceu na guerra, mas isso nunca é explicado; Kroker e Lazare não se bicam e chegam a comemorar se o outro estiver passando dificuldade em batalha. E você também passa a ter mais simpatia por uns do que por outros. Pau no cu do Lazare, por exemplo)
Essa progressão amalucada, às avessas, se mantém até a última fase: nela, você ganha um caça. É uma adição estranhíssima ao seu arsenal, já que estamos em um ponto do jogo em que unidades aéreas são as menos eficientes — artilharias anti-aéreas estão infinitamente mais fortes do que é possível lidar sem uma estratégia específica para abatê-las, estratégia essa que é impossível nessa fase por ela ser um corredor polonês de vinte minutos para o navio. A essa altura, você já desenvolveu uma necessidade emocional de proteger Antaeus de todo o mal, então essa fase (uma missão suicida, inclusive) não permite estratégias elaboradas só para poder usar um caça extremamente frágil e que só pode ser controlado por você.
E tudo faria muito sentido se existisse algo que servisse para estabilizar essa curva. Se existisse algum tipo de endgame estável em que você pode testar todos os seus veículos e armas. Um multiplayer, de repente. Não existe. Hostile Waters acaba depois da décima nona fase, com pouca cerimônia e um gosto estranho na boca. Você cumpriu sua missão e salvou o mundo. Agora, tchau.
Essa última missão faria mais sentido na progressão do jogo se fosse um último recurso também como mecânica, como é na história — se você estivesse despido, quebrado, tendo que raspar o fundo da lata para achar energia e construir veículos frágeis. Os criadores do jogo sabiam disso, pois é assim que o jogo começa. Antaeus começa extremamente vulnerável, mas termina soberana. O jogo termina quando você, Antaeus e seus sistemas de comando estão no auge. Em nenhuma fase do jogo fora a última existem dez inteligências artificiais para controlar as dez unidades possíveis de serem construídas. Então por quê? Por que o jogo se autossabota desse jeito? Por que ele não virou um clássico, com suas inovações mecânicas tão bem trabalhadas?
A resposta é tão estranha quanto Hostile Waters: é porque o jogo quis. Não os desenvolvedores, não os jogadores, não os distribuidores. O jogo se fez assim, se fez autofágico e só se afirma em sua forma mais pura nesse processo. Toda a progressão do jogo está subjugada à história e essa história está subjugada a um conceito. Esse conceito é claro e está no motto de Hostile Waters: pugio in averso belli, isto é, “o punhal que evita a guerra”. Antaeus é o punhal que mata o rei belicista, evitando a morte de milhões pela guerra. Essa é uma estratégia suja, um subterfúgio. Todas as missões em Hostile Waters são subterfúgios, as táticas que você usa são todas subterfúgios. Não existe combate limpo aqui, conceitualmente, por mais que você enfrente helicópteros com helicópteros e tanques com tanques.
Hostile Waters é um jogo inerentemente sujo. É o que precisa ser para salvar o mundo sem nenhum vestígio de honra. Antaeus nasceu e morreu; você não tem por que continuar usando os sistemas depois disso. Afinal, guerra é ruim e devemos evitá-la a todo custo, ainda que esse custo atinja a nós mesmos em primeiro lugar.
2018
ZeroRanger vai fazer você se sentir exatamente que nem o cara que errou a pergunta de 1 milhão de reais do show do milhão. E vai ser a melhor coisa que vai te acontecer nele.
Quando os últimos pontos de vida do seu personagem mais forte chegam em zero, você já sabia o que ia acontecer. A morte era inevitável àquela altura e, em geral, você sabe o risco calculado que você tomou e deu errado. Mesmo que tenha perseverado, desperdiçado vários itens de cura e ressurreição, morrer tem um gosto de apagar das luzes.
Por isso mesmo, é uma situação você pode diagnosticar antes que aconteça. Carregar de um ponto anterior do jogo é um gesto de resignação não só frente ao momento em que você perdeu, mas a tudo que levou até ali. A morte é o fruto de uma árvore de decisões erradas, de modo que salvar e carregar se tornam uma meta-habilidade dentro de muitos jogos: você precisa aprender a salvar nas horas certas e, principalmente, no lugar certo, antes que seja tarde demais. Você com certeza já passou por isso — a pior morte possível dentro de um jogo é salvar no ponto sem retorno, em vez de carregar. Ficar preso em uma situação irreversível é a única morte real dentro de um jogo, porque é aí que você realmente precisa começar tudo de novo.¹
Vidas, olhando assim, são um acordo no qual você não pode decidir livremente de onde você vai voltar, mas, em troca, saberá que não existem situações irreversíveis. A partir daquele ponto, o jogo te garante que você pode só seguir que, com certeza, existe um jeito de transpor o obstáculo em que você parou da última vez. Seu progresso até ali garante isso.
Em jogos de navinha, a morte é levada mais na esportiva. Tomou tiro? Sua navinha explode, faz um estardalhaço, você toma alguma punição (tipo perder poder e sua sequência de pontuação) e vida que segue. Isto é — enquanto você tiver vidas. Se todas as suas vidas acabarem, a colher de chá acaba e o jogo pergunta se você quer continuar. Muito como salvar é uma meta-habilidade, continues são uma meta-vida. Você pode seguir jogando a partir daquele mesmo ponto, mas perde toda sua pontuação e tudo que marcou seu progresso até ali.
O jogo finge que te engana, porque recomeça de onde você parou e te permite que você chegue até o final; e você, versão zumbificada de si mesmo, finge que acredita. Se você terminar o jogo usando continues, os dois sabem que existe mais coisa que você poderia ter feito. Sua pontuação deixa claro que seu progresso é falso, uma concessão, e quando sua pontuação de fim de jogo é menor que a vez em que você só chegou na terceira fase, surge um sussurro que diz “melhor você tentar de novo”.
Isso faz com que jogos tenham um jeito de marcar sua história nele. Pontuações, troféus, o nível dos seus personagens, quantidade de dinheiro: sempre existe algo que identifica seu caminho.
ZeroRanger pede que você lute contra esse apego.
As meta-vidas são, em ZeroRanger, parte da história e são, em certa medida, a mecânica principal. Sua pontuação gera mais continues, dos quais você absolutamente vai precisar para terminar o jogo pela primeira vez. A falha é imprescindível porque é através dela que você obtém mais chances, para não falhar de novo. Dos seus escombros, surge um novo lutador, capaz de ir mais fases adiante com o mesmo número de continues e, por isso mesmo, pode ganhar mais pontuação em uma jogada. Com mais pontuação, você consegue mais continues. E acredite quando eu digo que, em vez de renegá-los em favor de um jogo “limpo”, você vai precisar deles se quiser terminar o jogo.
Nesse mecanismo, existem duas histórias: a da insistência e a da abnegação. A da insistência, porque tentar de novo é parte integral de vencer, mais do que vencer sem falhar nenhuma vez. A da abnegação, porque desistir também é parte de vencer — de maneiras muito sutis. Por exemplo: aceitar sua maior pontuação, mesmo que com um progresso mais fraco, pode ser mais importante do que usar um continue só para conseguir terminar a fase. Afinal, sua pontuação te dará mais meta-vidas.
Seu melhor esforço tem valor por si só e não pode ser comparado com qualquer outra iniciativa em que você ou outra pessoa “jogar melhor”. Rankings perdem sentido; a competição perde sentido; a facilidade ou dificuldade absoluta do jogo não são importantes. Só importa o modo como você está navegando pela história, pelos padrões de tiros dos inimigos² e o sentimento que te carrega até o próximo nível.
Eu digo sentimento porque existem narrativas emocionais muito palpáveis em ZeroRanger. São códigos construídos ao longo dos anos por jogos de navinha: quando um inimigo está desesperado, seus padrões se tornam caóticos e seus movimentos, mais erráticos. A inversão de padrões calculados (momentos nos quais o jogador tem que olhar mais de fora), para a ausência de padrões, (momentos em que o jogador tem que focar a atenção na área mais perto de si) geram um choque: mesmo que seja até mais fácil, o que está mais à frente desperta uma tensão muito maior.
Mas, em jogos normais, você precisa sobrescrever sua história com uma história melhor. Você precisa, então, se manter mais calmo em situações assim. Com isso, você não vai sucumbir ao desespero do inimigo — afinal, você já conhece a história, e só é novo o que você ainda não viu. ZeroRanger não é um jogo normal: você não precisa sobrescrever nada, só adicionar ao fracasso que você já teve antes. Tudo que você fizer é novo, mesmo que seja uma repetição. Não tem problema abraçar o caos da fase ou do chefão toda vez em que você voltar.
Laranjas são muito importantes para ZeroRanger. Toda vez que você toma um game over, você é recebido por uma telinha com uma frase sobre laranjas antes de o jogo recomeçar. As mensagens são para você, jogador, e são um jeito muito delicado de reconhecer sua existência. O jogo normalmente não se esforça para te chamar para dentro, te colocar como parte dele através de recursos como “quebrar a quarta parede” ou coisas que tais. Essas pequenas frases são recados de um jogo que sabe que você está ali, mas também que não precisa te lembrar disso. É para te abrir um sorriso, mesmo. É o recurso mais simples do mundo, mas, no contexto, tem muita beleza porque tem muitos sorrisos a serem abertos — não como consolo por perder, mas te congratulando por fazer parte desse ciclo de vida e morte.
Tomar riscos e se tornar um jogador melhor, em ZeroRanger, não são uma aposta dobrada, em que você coloca seu progresso à mercê da sua habilidade atual. São passos para entender, finalmente, o valor da perda por si só — e se colocar em direção à abnegação. Em qualquer um dos muitos jogos de navinha a que ZeroRanger faz referência,³ aquele que conseguir zerar de uma vez só, sem perder vidas ou usar continues, terá sido o melhor jogador. Em ZeroRanger, no entanto, terá sido alguém que não jogou nada.
¹ Em Corpse Party, existe um momento em que não lembro o que é que acontece, mas o jogo avisa que se você fizer determinada coisa, você vai morrer. Aí você vai lá e o quê? Faz essa coisa. No que você faz, a porta da sala em que você está se fecha, e nada mais parece acontecer. Você está simplesmente preso, para sempre. Eu acho essa a forma mais sofisticada possível de game over, porque você pode continuar ali o quanto você quiser — mas o jogo acabou. Na verdade verdadeira, a porta não fica fechada para sempre. Mas eu queria que ficasse.
² Sabe que, em jogos de navinha, sua nave está atirando o tempo todo, mas os inimigos (mesmo que sejam naves parecidas) têm padrões de ataque. Será que o seu tiro é uma abstração e, da perspectiva do inimigo, você também tem um padrão de ataque? Touhou sugere que sim, porque existem jogos em que você luta exatamente contra as spellcards que você usava em jogos anteriores. Mas, como a ação principal em Touhou é dançar no padrão dos outros, o padrão que você está materializando não é tão importante. Outros jogos talvez não tomem seus tiros, e tudo que você está fazendo, como abstração. Mas aí, são outra história.
³ Uma parcela dos jogos feitos se dedica a conferir consciência para o fenômeno videogames de modo geral. Não consciência no sentido político, embora também possa ser o caso. Falo de uma coisa mais básica, mesmo: de saber se ver no espelho, se entender no mundo como imagem, manipulável e manipulada pelas lentes que se usa. É uma tarefa difícil: o jogo não está só se reconhecendo, mas também se reconstruindo.
É quase um gênero em si, o das “cartas de amor”, e que ganhou muitos exemplares de uns dez anos pra cá: jogos que reconhecem abertamente suas referências e procuram homenagear um gênero, uma época ou um estilo. Eu não gosto desse termo, “carta de amor”, por um motivo muito simples: cartas de amor têm endereço. Podem ser bem escritas e bonitas, mas se prestam a exaltar o valor em outra coisa. Jogos como ZeroRanger reverenciam os que vieram antes dele, mas o que torna os destinatários dignos daquele amor em especial é a própria “carta de amor”, pesando os valores, a gramática e o modo de jogar que sustentava nesses clássicos contra a materialidade e a sintaxe dos videogames hoje.
Fazer esses jogos é uma atividade crítica tanto quanto é artística ou passional. Você está selecionando jogos e convenções para algo novo e, com isso, fazendo concessões que também dizem respeito às convenções de outros jogos. Então você não está simplesmente prestando homenagem a um gênero — você está criando ele, frente a outro contexto.
Quando os últimos pontos de vida do seu personagem mais forte chegam em zero, você já sabia o que ia acontecer. A morte era inevitável àquela altura e, em geral, você sabe o risco calculado que você tomou e deu errado. Mesmo que tenha perseverado, desperdiçado vários itens de cura e ressurreição, morrer tem um gosto de apagar das luzes.
Por isso mesmo, é uma situação você pode diagnosticar antes que aconteça. Carregar de um ponto anterior do jogo é um gesto de resignação não só frente ao momento em que você perdeu, mas a tudo que levou até ali. A morte é o fruto de uma árvore de decisões erradas, de modo que salvar e carregar se tornam uma meta-habilidade dentro de muitos jogos: você precisa aprender a salvar nas horas certas e, principalmente, no lugar certo, antes que seja tarde demais. Você com certeza já passou por isso — a pior morte possível dentro de um jogo é salvar no ponto sem retorno, em vez de carregar. Ficar preso em uma situação irreversível é a única morte real dentro de um jogo, porque é aí que você realmente precisa começar tudo de novo.¹
Vidas, olhando assim, são um acordo no qual você não pode decidir livremente de onde você vai voltar, mas, em troca, saberá que não existem situações irreversíveis. A partir daquele ponto, o jogo te garante que você pode só seguir que, com certeza, existe um jeito de transpor o obstáculo em que você parou da última vez. Seu progresso até ali garante isso.
Em jogos de navinha, a morte é levada mais na esportiva. Tomou tiro? Sua navinha explode, faz um estardalhaço, você toma alguma punição (tipo perder poder e sua sequência de pontuação) e vida que segue. Isto é — enquanto você tiver vidas. Se todas as suas vidas acabarem, a colher de chá acaba e o jogo pergunta se você quer continuar. Muito como salvar é uma meta-habilidade, continues são uma meta-vida. Você pode seguir jogando a partir daquele mesmo ponto, mas perde toda sua pontuação e tudo que marcou seu progresso até ali.
O jogo finge que te engana, porque recomeça de onde você parou e te permite que você chegue até o final; e você, versão zumbificada de si mesmo, finge que acredita. Se você terminar o jogo usando continues, os dois sabem que existe mais coisa que você poderia ter feito. Sua pontuação deixa claro que seu progresso é falso, uma concessão, e quando sua pontuação de fim de jogo é menor que a vez em que você só chegou na terceira fase, surge um sussurro que diz “melhor você tentar de novo”.
Isso faz com que jogos tenham um jeito de marcar sua história nele. Pontuações, troféus, o nível dos seus personagens, quantidade de dinheiro: sempre existe algo que identifica seu caminho.
ZeroRanger pede que você lute contra esse apego.
As meta-vidas são, em ZeroRanger, parte da história e são, em certa medida, a mecânica principal. Sua pontuação gera mais continues, dos quais você absolutamente vai precisar para terminar o jogo pela primeira vez. A falha é imprescindível porque é através dela que você obtém mais chances, para não falhar de novo. Dos seus escombros, surge um novo lutador, capaz de ir mais fases adiante com o mesmo número de continues e, por isso mesmo, pode ganhar mais pontuação em uma jogada. Com mais pontuação, você consegue mais continues. E acredite quando eu digo que, em vez de renegá-los em favor de um jogo “limpo”, você vai precisar deles se quiser terminar o jogo.
Nesse mecanismo, existem duas histórias: a da insistência e a da abnegação. A da insistência, porque tentar de novo é parte integral de vencer, mais do que vencer sem falhar nenhuma vez. A da abnegação, porque desistir também é parte de vencer — de maneiras muito sutis. Por exemplo: aceitar sua maior pontuação, mesmo que com um progresso mais fraco, pode ser mais importante do que usar um continue só para conseguir terminar a fase. Afinal, sua pontuação te dará mais meta-vidas.
Seu melhor esforço tem valor por si só e não pode ser comparado com qualquer outra iniciativa em que você ou outra pessoa “jogar melhor”. Rankings perdem sentido; a competição perde sentido; a facilidade ou dificuldade absoluta do jogo não são importantes. Só importa o modo como você está navegando pela história, pelos padrões de tiros dos inimigos² e o sentimento que te carrega até o próximo nível.
Eu digo sentimento porque existem narrativas emocionais muito palpáveis em ZeroRanger. São códigos construídos ao longo dos anos por jogos de navinha: quando um inimigo está desesperado, seus padrões se tornam caóticos e seus movimentos, mais erráticos. A inversão de padrões calculados (momentos nos quais o jogador tem que olhar mais de fora), para a ausência de padrões, (momentos em que o jogador tem que focar a atenção na área mais perto de si) geram um choque: mesmo que seja até mais fácil, o que está mais à frente desperta uma tensão muito maior.
Mas, em jogos normais, você precisa sobrescrever sua história com uma história melhor. Você precisa, então, se manter mais calmo em situações assim. Com isso, você não vai sucumbir ao desespero do inimigo — afinal, você já conhece a história, e só é novo o que você ainda não viu. ZeroRanger não é um jogo normal: você não precisa sobrescrever nada, só adicionar ao fracasso que você já teve antes. Tudo que você fizer é novo, mesmo que seja uma repetição. Não tem problema abraçar o caos da fase ou do chefão toda vez em que você voltar.
Laranjas são muito importantes para ZeroRanger. Toda vez que você toma um game over, você é recebido por uma telinha com uma frase sobre laranjas antes de o jogo recomeçar. As mensagens são para você, jogador, e são um jeito muito delicado de reconhecer sua existência. O jogo normalmente não se esforça para te chamar para dentro, te colocar como parte dele através de recursos como “quebrar a quarta parede” ou coisas que tais. Essas pequenas frases são recados de um jogo que sabe que você está ali, mas também que não precisa te lembrar disso. É para te abrir um sorriso, mesmo. É o recurso mais simples do mundo, mas, no contexto, tem muita beleza porque tem muitos sorrisos a serem abertos — não como consolo por perder, mas te congratulando por fazer parte desse ciclo de vida e morte.
Tomar riscos e se tornar um jogador melhor, em ZeroRanger, não são uma aposta dobrada, em que você coloca seu progresso à mercê da sua habilidade atual. São passos para entender, finalmente, o valor da perda por si só — e se colocar em direção à abnegação. Em qualquer um dos muitos jogos de navinha a que ZeroRanger faz referência,³ aquele que conseguir zerar de uma vez só, sem perder vidas ou usar continues, terá sido o melhor jogador. Em ZeroRanger, no entanto, terá sido alguém que não jogou nada.
¹ Em Corpse Party, existe um momento em que não lembro o que é que acontece, mas o jogo avisa que se você fizer determinada coisa, você vai morrer. Aí você vai lá e o quê? Faz essa coisa. No que você faz, a porta da sala em que você está se fecha, e nada mais parece acontecer. Você está simplesmente preso, para sempre. Eu acho essa a forma mais sofisticada possível de game over, porque você pode continuar ali o quanto você quiser — mas o jogo acabou. Na verdade verdadeira, a porta não fica fechada para sempre. Mas eu queria que ficasse.
² Sabe que, em jogos de navinha, sua nave está atirando o tempo todo, mas os inimigos (mesmo que sejam naves parecidas) têm padrões de ataque. Será que o seu tiro é uma abstração e, da perspectiva do inimigo, você também tem um padrão de ataque? Touhou sugere que sim, porque existem jogos em que você luta exatamente contra as spellcards que você usava em jogos anteriores. Mas, como a ação principal em Touhou é dançar no padrão dos outros, o padrão que você está materializando não é tão importante. Outros jogos talvez não tomem seus tiros, e tudo que você está fazendo, como abstração. Mas aí, são outra história.
³ Uma parcela dos jogos feitos se dedica a conferir consciência para o fenômeno videogames de modo geral. Não consciência no sentido político, embora também possa ser o caso. Falo de uma coisa mais básica, mesmo: de saber se ver no espelho, se entender no mundo como imagem, manipulável e manipulada pelas lentes que se usa. É uma tarefa difícil: o jogo não está só se reconhecendo, mas também se reconstruindo.
É quase um gênero em si, o das “cartas de amor”, e que ganhou muitos exemplares de uns dez anos pra cá: jogos que reconhecem abertamente suas referências e procuram homenagear um gênero, uma época ou um estilo. Eu não gosto desse termo, “carta de amor”, por um motivo muito simples: cartas de amor têm endereço. Podem ser bem escritas e bonitas, mas se prestam a exaltar o valor em outra coisa. Jogos como ZeroRanger reverenciam os que vieram antes dele, mas o que torna os destinatários dignos daquele amor em especial é a própria “carta de amor”, pesando os valores, a gramática e o modo de jogar que sustentava nesses clássicos contra a materialidade e a sintaxe dos videogames hoje.
Fazer esses jogos é uma atividade crítica tanto quanto é artística ou passional. Você está selecionando jogos e convenções para algo novo e, com isso, fazendo concessões que também dizem respeito às convenções de outros jogos. Então você não está simplesmente prestando homenagem a um gênero — você está criando ele, frente a outro contexto.
2012
1993
Capaz que você nem perceba da primeira vez que chegar em um Good Future em Sonic CD (o que, em todo caso, é capaz que nem aconteça da primeira vez que você zere), mas todo futuro de Sonic CD é muito, muito estranho.
Senão repare.
Especialmente se você, seja lá por que motivo for, estiver jogando a versão americana, porque a música é toda feita para ser atmosférica. O Spencer Nilsen e o Dave Young acho que entenderam a mesma coisa que eu entendi só agora há pouco, enquanto o Naofumi Hataya estava mais preocupado em fazer música boa mesmo. Mas toda vez que você chegar no terceiro ato de uma fase faça o esforço de olhar em volta. Eu digo faça o esforço porque, enquanto os primeiros e segundos atos em cada fase te obrigam a olhar em volta e procurar ou aneis para completar 50 e acessar a fase especial ou procurar placas de Passado e Futuro, assim como te obrigam a ser mais cauteloso e procurar seções propícias a te dar velocidade suficiente por tempo suficiente pra viajar no tempo, os terceiros atos são questão de ir lá e matar o chefão, só.
Mas nem caia no papinho das fases especiais. É bonito em tese, você poder zerar o jogo de dois jeitos completamente diferentes, embora traçando as mesmas fases — mas, na prática, as fases especiais de Sonic CD (da quarta em diante mais ainda) são impossíveis para todo mundo que não é do clube dos Viciados em Jogar Sonic com Excelência, clube que tem hoje uns dois membros e 100% deles têm artrose. Faz o que eu tô te falando — vai para o futuro em cada uma das fases — qualquer um deles, mas ir em todos os ruins e depois em todos os bons é melhor para ver do que eu tô falando aqui.
Palmtree Panic, no presente, é uma Primeira Fase de Sonic Clássico — uma colina cheia de árvores, mas não coberta de vegetação nem nada, com padrões geométricos no chão e um céu azul bonitão, limpo, tal. O Bad Future é uma versão dessa paisagem escrita pelo Katsuhiro Otomo, porque tudo é decrépito e quebrado e tem uns canos levando água suja pra algum lugar e tudo tem uma cor escura, feia. O Good Future é a mistura do Deep Forest com o Daft Punk — as plantas estão todas lá, aparentemente saudabilíssimas, mas misturadas com máquinas e motes de água limpa que tornam a fase ainda mais colorida e agradável que no presente.
E é isso. A técnica é basicamente essa pra todas as fases. Você tem o presente como padrão e, em comparação a ele, o Bad Future é decadente, os motivos são opacos (o que dá a sensação sufocante de que tem muito mais coisa na tela) e existe uma sensação terrível de que as máquinas estão agindo sozinhas para nenhum motivo em particular, como se estivesse tudo abandonado e desfuncional; o Good Future é cheio de motivos transparentes ou cristalinos, como vidros, cristais, água etc., que passam uma noção de que tudo é arejado, harmonioso e bonito — sendo que existe uma percepção de que as coisas (água, especialmente) estão funcionando pelo prazer de funcionar, simplesmente porque é natural para elas fluir, rodar, existir daquele jeito.
Isso que é esquisito.
Você imaginaria que os futuros são completamente diferentes, mas fundamentalmente os futuros são iguais — você frequentemente vê andaimes, coisas por fazer, coisas inacabadas em todos os tempos. Você vê coisas sendo construídas, mas não vê ninguém construindo. Você percebe que todas as fases são muito vívidas, mas não tem ninguém vivendo nelas. Na Palmtree Panic, beleza, você pode até imaginar que no Bad Future o Robotnik meteu o louco e está explorando os recursos naturais pra fazer uns robôs do mal e não se importa com a natureza, afinal ele é a União Soviética, mas quando você chega na Metallic Madness e vê que tudo está tão arruinado quanto, a coisa perde o sentido.
Os badniks estão quebrados também, a própria base do Robotnik é insustentável e o futuro é mais um pós-apocalipse em que nada funciona do que uma distopia do jeito como nos acostumamos a ver na ficção, em que a coisa funciona só para alguns enquanto os outros estão na merda ou funciona de um jeito muito terrível. E isso se traduz no jogo-como-mecânica, também: as fases são, em geral, mais fáceis, exatamente porque as ameaças estão todas indo pro cacete e os peixes filhos da puta da Tidal Tempest que jogam uns tirinhos das costas já não conseguem fazer isso, as aranhas da Quartz Quadrant não conseguem jogar teia em você, essas coisas. E pior, eles ainda tentam.
Quando você percebe isso e vai pros Good Futures, a sensação de isolamento só piora: tudo funciona e é muito bonito, mas não parece ser pra ninguém. Você pode imaginar que existem pessoas usufruindo dessa água limpa e dessa roda gigante na Stardust Speedway, mas essas pessoas são fantasmas. Para todos os efeitos, o futuro cresceu para virar uma paisagem bonita e só. É especialmente desconcertante porque mesmo que o futuro seja bom, mesmo que tudo seja perfeito, as fases ainda estão especialmente desenhadas para matar você.
Quer dizer, os chefões de Sonic CD têm essa característica especial: eles usam de um jeito muito particular tudo que a fase te apresentou até então e você deve usar essas coisas a seu favor. Não gostou de trupicar pra lá e pra cá na Collision Chaos? Uma pena, porque o chefão é literalmente um jogo de pinball e você deve chegar ao topo pra vencer. Não consegue controlar o tempo do Sonic quando ele sai voando do chão da Wacky Workbench? Se fodeu, porque o chefão consiste justamente em usar essa mecânica. Quer dizer, isso tudo faz muito sentido em um futuro dominado pelo Robotnik, mesmo que tudo tenha ido pro caralho. Mas num futuro em que você conseguiu pará-lo, isso tudo passa uma sensação muito estranha. Uma sensação de que na real o futuro não importa — aquilo é entre você e o Robotnik, mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços ou que todos vivam felizes dentro de sistemas que não servem pra nada além de serem perfeitos em si mesmos.
Os futuros em Sonic CD são uma miragem.
Não existe substância neles. Ambos são uma coisa que serve a si mesma e não estão embasados em utopia ou distopia moral — são utopias ou distopias puramente estéticas, versões de paisagens que conhecemos estendidas a um infinito positivo, transparente e estável ou um infinito negativo, opaco e autodestrutivo — mas cuja autodestruição é exatamente o processo pelo qual ele se perpetua. Então quer dizer: os futuros não “pertencem” ao Sonic ou ao Robotnik, não representam nada. Se você quiser, você pode interpretar como futuros em que a tecnologia foi usada a favor ou contra a natureza, mas não dá para entender o princípio por trás dessa diferença porque, de um jeito ou de outro, você ainda tem que ir atrás do cuzão do Robotnik, ganhar do Metal Sonic na corrida, essas coisas. O mundo não diz respeito a você, mesmo que suas ações desencadeiem uma coisa ou outra — e, da mesma forma, você e Robotnik estão fora desse esquema.
Só que esse estranhamento é o artifício mais importante de Sonic CD. Porque, entende, ao apresentar um mundo que existe sozinho e existe apenas pra existir — por ser uma miragem — você se torna incapaz de julgar o que tem dentro dele e, aí sim, sua aventura se torna realmente algo seu. Você não deve nada pro mundo e ele não deve nada pra você, mas existe algo que você quer dentro dele, que é derrotar o maluco dos robôs e o robô que corre que nem você. O mundo, em vez de ser mundo, se torna um palco com proporções muito fortes — ou é a realização absoluta ou a ruína absoluta. E, por não estarem presas à moral, essas utopias ou distopias não estão presas a uma discussão sobre alguma coisa. A Utopia de Morus, por exemplo, introduzia princípios morais que eram considerados elevados ali naquela época (e que, hoje, já não valem em alguns casos) e a questão de se aquilo tudo funciona mesmo ou não fica no ar, como é o caso em todas as utopias — a socialista dos primeiros tempos, a comunista pós-ditadura do proletariado, a libertária etc. Você tem os princípios, mas não a imagem. Em Sonic CD, você tem a imagem, mas não os princípios. Essa abordagem permite que você retrate coisas bonitas, que tocam o coração dos jogadores, sem no entanto entregar o que você quer dizer com aquilo.
Cloudbank, por exemplo, é uma utopia em Transistor. É uma cidade que visivelmente funciona para o bem das pessoas, com princípios morais elevados e bases de sustentação social, política e mesmo existencial bastante sólidas. Isto é, era, porque Transistor se passa exatamente com Cloudbank sendo subvertida na sua matriz, deixando de existir em todos os níveis. Você pode discordar da Camerata, achar que os caras são reaças, que a Sybil é linda inconsequente e tudo o mais, mas o caso é que os princípios da utopia existiam e funcionavam, mas falharam. Não é uma utopia contingente e não vai virar uma distopia — simplesmente os princípios foram traídos em algum ponto, por mais que funcionassem e noventa e nove vírgula noventa e nove por cento das pessoas fossem supostamente felizes. E mais — você não vê isso. Você só vê as coisas se deteriorando, mas não elas funcionando.
E isso é mais forte como princípio que como imagem, embora nos façam imaginar como era tudo antes de CERTAS PESSOAS colocarem tudo a perder. Mas é muito intelectual, assim como todas as utopias já foram. As de Sonic CD, assim como as distopias também, são mais viscerais justamente por serem miragens. Elas são, realmente, lugares para estarmos, não materializações de ideias ou pensamentos que estão em discussão hoje em dia. Os futuros de Sonic CD são estranhos porque não fazem parte de nós, admitem que nossos princípios vão mudar e toda nossa noção de tudo vai acabar caindo por terra intelectualmente — mas ali, naquele jogo, as utopias ou distopias de Sonic CD serão sempre coisas muito bonitas ou muito feias e autossuficientes.
Precisamos de mais futuros como os de Sonic CD.
Senão repare.
Especialmente se você, seja lá por que motivo for, estiver jogando a versão americana, porque a música é toda feita para ser atmosférica. O Spencer Nilsen e o Dave Young acho que entenderam a mesma coisa que eu entendi só agora há pouco, enquanto o Naofumi Hataya estava mais preocupado em fazer música boa mesmo. Mas toda vez que você chegar no terceiro ato de uma fase faça o esforço de olhar em volta. Eu digo faça o esforço porque, enquanto os primeiros e segundos atos em cada fase te obrigam a olhar em volta e procurar ou aneis para completar 50 e acessar a fase especial ou procurar placas de Passado e Futuro, assim como te obrigam a ser mais cauteloso e procurar seções propícias a te dar velocidade suficiente por tempo suficiente pra viajar no tempo, os terceiros atos são questão de ir lá e matar o chefão, só.
Mas nem caia no papinho das fases especiais. É bonito em tese, você poder zerar o jogo de dois jeitos completamente diferentes, embora traçando as mesmas fases — mas, na prática, as fases especiais de Sonic CD (da quarta em diante mais ainda) são impossíveis para todo mundo que não é do clube dos Viciados em Jogar Sonic com Excelência, clube que tem hoje uns dois membros e 100% deles têm artrose. Faz o que eu tô te falando — vai para o futuro em cada uma das fases — qualquer um deles, mas ir em todos os ruins e depois em todos os bons é melhor para ver do que eu tô falando aqui.
Palmtree Panic, no presente, é uma Primeira Fase de Sonic Clássico — uma colina cheia de árvores, mas não coberta de vegetação nem nada, com padrões geométricos no chão e um céu azul bonitão, limpo, tal. O Bad Future é uma versão dessa paisagem escrita pelo Katsuhiro Otomo, porque tudo é decrépito e quebrado e tem uns canos levando água suja pra algum lugar e tudo tem uma cor escura, feia. O Good Future é a mistura do Deep Forest com o Daft Punk — as plantas estão todas lá, aparentemente saudabilíssimas, mas misturadas com máquinas e motes de água limpa que tornam a fase ainda mais colorida e agradável que no presente.
E é isso. A técnica é basicamente essa pra todas as fases. Você tem o presente como padrão e, em comparação a ele, o Bad Future é decadente, os motivos são opacos (o que dá a sensação sufocante de que tem muito mais coisa na tela) e existe uma sensação terrível de que as máquinas estão agindo sozinhas para nenhum motivo em particular, como se estivesse tudo abandonado e desfuncional; o Good Future é cheio de motivos transparentes ou cristalinos, como vidros, cristais, água etc., que passam uma noção de que tudo é arejado, harmonioso e bonito — sendo que existe uma percepção de que as coisas (água, especialmente) estão funcionando pelo prazer de funcionar, simplesmente porque é natural para elas fluir, rodar, existir daquele jeito.
Isso que é esquisito.
Você imaginaria que os futuros são completamente diferentes, mas fundamentalmente os futuros são iguais — você frequentemente vê andaimes, coisas por fazer, coisas inacabadas em todos os tempos. Você vê coisas sendo construídas, mas não vê ninguém construindo. Você percebe que todas as fases são muito vívidas, mas não tem ninguém vivendo nelas. Na Palmtree Panic, beleza, você pode até imaginar que no Bad Future o Robotnik meteu o louco e está explorando os recursos naturais pra fazer uns robôs do mal e não se importa com a natureza, afinal ele é a União Soviética, mas quando você chega na Metallic Madness e vê que tudo está tão arruinado quanto, a coisa perde o sentido.
Os badniks estão quebrados também, a própria base do Robotnik é insustentável e o futuro é mais um pós-apocalipse em que nada funciona do que uma distopia do jeito como nos acostumamos a ver na ficção, em que a coisa funciona só para alguns enquanto os outros estão na merda ou funciona de um jeito muito terrível. E isso se traduz no jogo-como-mecânica, também: as fases são, em geral, mais fáceis, exatamente porque as ameaças estão todas indo pro cacete e os peixes filhos da puta da Tidal Tempest que jogam uns tirinhos das costas já não conseguem fazer isso, as aranhas da Quartz Quadrant não conseguem jogar teia em você, essas coisas. E pior, eles ainda tentam.
Quando você percebe isso e vai pros Good Futures, a sensação de isolamento só piora: tudo funciona e é muito bonito, mas não parece ser pra ninguém. Você pode imaginar que existem pessoas usufruindo dessa água limpa e dessa roda gigante na Stardust Speedway, mas essas pessoas são fantasmas. Para todos os efeitos, o futuro cresceu para virar uma paisagem bonita e só. É especialmente desconcertante porque mesmo que o futuro seja bom, mesmo que tudo seja perfeito, as fases ainda estão especialmente desenhadas para matar você.
Quer dizer, os chefões de Sonic CD têm essa característica especial: eles usam de um jeito muito particular tudo que a fase te apresentou até então e você deve usar essas coisas a seu favor. Não gostou de trupicar pra lá e pra cá na Collision Chaos? Uma pena, porque o chefão é literalmente um jogo de pinball e você deve chegar ao topo pra vencer. Não consegue controlar o tempo do Sonic quando ele sai voando do chão da Wacky Workbench? Se fodeu, porque o chefão consiste justamente em usar essa mecânica. Quer dizer, isso tudo faz muito sentido em um futuro dominado pelo Robotnik, mesmo que tudo tenha ido pro caralho. Mas num futuro em que você conseguiu pará-lo, isso tudo passa uma sensação muito estranha. Uma sensação de que na real o futuro não importa — aquilo é entre você e o Robotnik, mesmo que o mundo esteja caindo aos pedaços ou que todos vivam felizes dentro de sistemas que não servem pra nada além de serem perfeitos em si mesmos.
Os futuros em Sonic CD são uma miragem.
Não existe substância neles. Ambos são uma coisa que serve a si mesma e não estão embasados em utopia ou distopia moral — são utopias ou distopias puramente estéticas, versões de paisagens que conhecemos estendidas a um infinito positivo, transparente e estável ou um infinito negativo, opaco e autodestrutivo — mas cuja autodestruição é exatamente o processo pelo qual ele se perpetua. Então quer dizer: os futuros não “pertencem” ao Sonic ou ao Robotnik, não representam nada. Se você quiser, você pode interpretar como futuros em que a tecnologia foi usada a favor ou contra a natureza, mas não dá para entender o princípio por trás dessa diferença porque, de um jeito ou de outro, você ainda tem que ir atrás do cuzão do Robotnik, ganhar do Metal Sonic na corrida, essas coisas. O mundo não diz respeito a você, mesmo que suas ações desencadeiem uma coisa ou outra — e, da mesma forma, você e Robotnik estão fora desse esquema.
Só que esse estranhamento é o artifício mais importante de Sonic CD. Porque, entende, ao apresentar um mundo que existe sozinho e existe apenas pra existir — por ser uma miragem — você se torna incapaz de julgar o que tem dentro dele e, aí sim, sua aventura se torna realmente algo seu. Você não deve nada pro mundo e ele não deve nada pra você, mas existe algo que você quer dentro dele, que é derrotar o maluco dos robôs e o robô que corre que nem você. O mundo, em vez de ser mundo, se torna um palco com proporções muito fortes — ou é a realização absoluta ou a ruína absoluta. E, por não estarem presas à moral, essas utopias ou distopias não estão presas a uma discussão sobre alguma coisa. A Utopia de Morus, por exemplo, introduzia princípios morais que eram considerados elevados ali naquela época (e que, hoje, já não valem em alguns casos) e a questão de se aquilo tudo funciona mesmo ou não fica no ar, como é o caso em todas as utopias — a socialista dos primeiros tempos, a comunista pós-ditadura do proletariado, a libertária etc. Você tem os princípios, mas não a imagem. Em Sonic CD, você tem a imagem, mas não os princípios. Essa abordagem permite que você retrate coisas bonitas, que tocam o coração dos jogadores, sem no entanto entregar o que você quer dizer com aquilo.
Cloudbank, por exemplo, é uma utopia em Transistor. É uma cidade que visivelmente funciona para o bem das pessoas, com princípios morais elevados e bases de sustentação social, política e mesmo existencial bastante sólidas. Isto é, era, porque Transistor se passa exatamente com Cloudbank sendo subvertida na sua matriz, deixando de existir em todos os níveis. Você pode discordar da Camerata, achar que os caras são reaças, que a Sybil é linda inconsequente e tudo o mais, mas o caso é que os princípios da utopia existiam e funcionavam, mas falharam. Não é uma utopia contingente e não vai virar uma distopia — simplesmente os princípios foram traídos em algum ponto, por mais que funcionassem e noventa e nove vírgula noventa e nove por cento das pessoas fossem supostamente felizes. E mais — você não vê isso. Você só vê as coisas se deteriorando, mas não elas funcionando.
E isso é mais forte como princípio que como imagem, embora nos façam imaginar como era tudo antes de CERTAS PESSOAS colocarem tudo a perder. Mas é muito intelectual, assim como todas as utopias já foram. As de Sonic CD, assim como as distopias também, são mais viscerais justamente por serem miragens. Elas são, realmente, lugares para estarmos, não materializações de ideias ou pensamentos que estão em discussão hoje em dia. Os futuros de Sonic CD são estranhos porque não fazem parte de nós, admitem que nossos princípios vão mudar e toda nossa noção de tudo vai acabar caindo por terra intelectualmente — mas ali, naquele jogo, as utopias ou distopias de Sonic CD serão sempre coisas muito bonitas ou muito feias e autossuficientes.
Precisamos de mais futuros como os de Sonic CD.