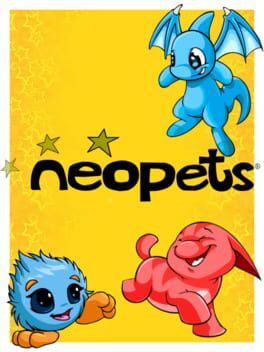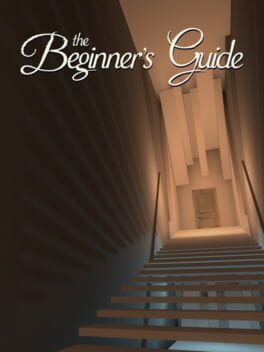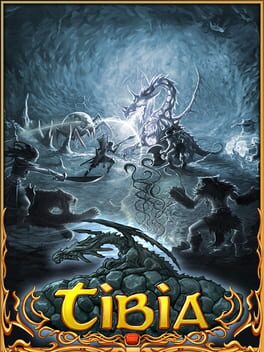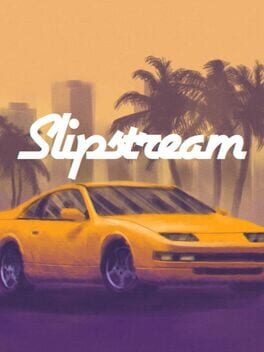Palas
2006
2021
Eu achei que nunca ia ter nada a dizer sobre Inscryption, mas ver um review que disse que Kaycee's Mod diminuía o jogo me fez pensar bastante sobre ele de novo. E eu fiquei muito impressionado com o quanto o jogo mastiga a si mesmo.
Tudo bem, todo jogo que se propõe a brincar com os limites da brincadeira (os tais jogos "meta") são autofágicos. Tanto que boa parte deles termina se autodestruindo (ZeroRanger, Undertale, Nier: Automata, Doki Doki Literature Club, etc). Mas Inscryption faz isso em vários níveis, e se debruça muito sobre o esquecimento. Ele se faz dos escombros do que jogou fora, trata de jogos abandonados, trata de personagens que só podem existir destruindo uns aos outros. Faz tanta questão de se autoimolar que Kaycee's Mod acaba sendo o único jeito de continuar o processo: renegar o processo de renegar, e voltar a ser um jogo sem (tanta) auto-consciência.
Tudo bem, todo jogo que se propõe a brincar com os limites da brincadeira (os tais jogos "meta") são autofágicos. Tanto que boa parte deles termina se autodestruindo (ZeroRanger, Undertale, Nier: Automata, Doki Doki Literature Club, etc). Mas Inscryption faz isso em vários níveis, e se debruça muito sobre o esquecimento. Ele se faz dos escombros do que jogou fora, trata de jogos abandonados, trata de personagens que só podem existir destruindo uns aos outros. Faz tanta questão de se autoimolar que Kaycee's Mod acaba sendo o único jeito de continuar o processo: renegar o processo de renegar, e voltar a ser um jogo sem (tanta) auto-consciência.
1999
Imagina que massa se o mundo funcionasse igual neopets
você tá aí suave de repente SURGE uma fada pela janela e fala
"VAI NA 25 E COMPRA UM TACO DE SINUCA. AGORA. VOCÊ TEM MEIA HORA"
você abre o rappi mas a fada pega seu celular taca na parede
"NÃO. ASSIM NÃO VALE. TEM QUE IR LÁ"
"pra que você quer isso pqp"
"VAI FILHO DA PUTA"
você tá aí suave de repente SURGE uma fada pela janela e fala
"VAI NA 25 E COMPRA UM TACO DE SINUCA. AGORA. VOCÊ TEM MEIA HORA"
você abre o rappi mas a fada pega seu celular taca na parede
"NÃO. ASSIM NÃO VALE. TEM QUE IR LÁ"
"pra que você quer isso pqp"
"VAI FILHO DA PUTA"
1994
Shareware games have always had sway over my heart in a way no other kind of game anywhere can have. It's something about how they force themselves into the most concise loop possible, yet point toward the possibility of breaking out of it, leaving the rest to your imagination. I'll be bold: no full game has ever met the potential of its shareware version.
2019
(Atenção: mentira à frente) Uma das coisas em que eu mais penso é na maneira em que vão fazer pastiche de nós no futuro. Em particular, nossa relação com a Internet. (Atenção: verdade à frente) Às vezes parece que estamos todos em uma histeria coletiva. Não tem como retratar o que estamos vivendo, a não ser pelo Bingo da Amizade do Hermes e Renato.
Mas o que dá um alento é ter certeza de que a maneira como vão rir da gente no futuro — mesmo que seja com carinho — só vai refletir a histeria coletiva deles. Algum dado vai passar, deixar transparecer a maluquice de povos mais avançados. É inevitável e provavelmente nem a segunda vinda de Cristo pode interromper esse ciclo de pastiche e paranoias geracionais. Vão rir do Facebook vendendo nossos dados pra Elma Chips, mas essa risada vai ser sintetizada porque todas as vozes vão ser autotunadas no futuro devido à inexistência de cordas vocais. E aí quem ri por último?
De modo que Hypnospace Outlaw, que se apresenta como uma grande brincadeira com a Web 1.0, diz mais sobre a gente do que sobre nossos antepassados de internet (que também são a gente, por falar nisso). Normalmente no dislu.do a gente gosta de falar do que jogos fazem, não do que jogos dizem. Mas hoje a gente vai abrir uma exceção.
Esse jogo é o seguinte: você se conecta a um sistema operacional chamado HypnOS, ativado por um dispositivo estilo óculos de realidade virtual, feito para se usar enquanto dorme. Na prática, você se conecta a uma versão retro-futurista do Windows 3.0 conectada à internet. Mas você tem uma missão: você foi contratado pela empresa dona desse dispositivo, Merchansoft, para ajudar a regular o hipnoespaço. Então você pode navegar pelos sites pessoais dos usuários, indexados ou não, e reportar ofensas. As ofensas possíveis são:
-Violação de conteúdo (direitos autorais, marca etc.)
-Assédio moral
-Conteúdo Ilegal
-Aplicativos Maliciosos
-Serviços Extra-legais
(Portanto, o sistema VACAS)
Então você recebe missões da Merchansoft e tem que sair por aí procurando transgressões para ganhar HypnoCoins, que é dinheiro que só pode ser usado no hipnoespaço. Você pode usar essa moeda virtual para comprar protetores de tela, papeis de parede, aplicativos, temas, bichinhos virtuais e muitas coisas mais para sua área de trabalho. E aí os casos vão ficando complexos: você tem que desmontar uma gangue hacker, acabar com o ancestral dos torrents, o diabo. É um pouco como se você pudesse virar o Justiceiro da Deep Web, usando o Tor e tendo o poder de deletar quaisquer conteúdos que fossem considerados ofensivos.
Mas não por você: pelo Facebook. É como se o Facebook tivesse comprado a deep web. Não o Tor. A deep web, mesmo. Porque o jogo tem uma linha narrativa, tá. Não vou falar muito dela. Mas logo no começo, você vai desconfiar que tem algo errado com o atual estado das coisas. Existe um ambiente verticalizado em que uma empresa controla os serviços, a economia, o conteúdo e a moral. Essa empresa também tem acesso basicamente ilimitado aos dados dos usuários. Claro que algo está errado. É nisso, não na recriação extremamente detalhada de um ambiente virtual pré-Google, que está o maior humor de Hypnospace Outlaw.
Isso porque é um jogo que ri de nós no passado e de nós no presente — essa narrativa e o modo como a percebemos estão condicionados ao modo como entendemos a internet hoje, não ontem. O jogo te apresenta a um trabalho muito mais parecido com algo que nós todos fazemos, inclusive de graça: reportar conteúdo que odiamos para grandes empresas, confiando a elas nosso bem-estar virtual — porque estamos 100% do tempo absolutamente revoltados, hipersensíveis e querendo consertar um espaço muito maior que nós.
Não que esse seja o comentário do jogo, necessariamente. Mas a maneira como o jogo veio a ser, na época que veio a ser e retratando o que retrata moldam a maneira como nos relacionamos com ele. Então Hypnospace Outlaw é um jogo que traz um carinho pelo passado, uma consciência do presente e um leve, beeeem leve medo do que podemos ver no futuro — quando ainda estaremos rindo de nós mesmos, mas talvez sem se dar conta das mãos que estão dando tapinha nas nossas costas.
Mas o que dá um alento é ter certeza de que a maneira como vão rir da gente no futuro — mesmo que seja com carinho — só vai refletir a histeria coletiva deles. Algum dado vai passar, deixar transparecer a maluquice de povos mais avançados. É inevitável e provavelmente nem a segunda vinda de Cristo pode interromper esse ciclo de pastiche e paranoias geracionais. Vão rir do Facebook vendendo nossos dados pra Elma Chips, mas essa risada vai ser sintetizada porque todas as vozes vão ser autotunadas no futuro devido à inexistência de cordas vocais. E aí quem ri por último?
De modo que Hypnospace Outlaw, que se apresenta como uma grande brincadeira com a Web 1.0, diz mais sobre a gente do que sobre nossos antepassados de internet (que também são a gente, por falar nisso). Normalmente no dislu.do a gente gosta de falar do que jogos fazem, não do que jogos dizem. Mas hoje a gente vai abrir uma exceção.
Esse jogo é o seguinte: você se conecta a um sistema operacional chamado HypnOS, ativado por um dispositivo estilo óculos de realidade virtual, feito para se usar enquanto dorme. Na prática, você se conecta a uma versão retro-futurista do Windows 3.0 conectada à internet. Mas você tem uma missão: você foi contratado pela empresa dona desse dispositivo, Merchansoft, para ajudar a regular o hipnoespaço. Então você pode navegar pelos sites pessoais dos usuários, indexados ou não, e reportar ofensas. As ofensas possíveis são:
-Violação de conteúdo (direitos autorais, marca etc.)
-Assédio moral
-Conteúdo Ilegal
-Aplicativos Maliciosos
-Serviços Extra-legais
(Portanto, o sistema VACAS)
Então você recebe missões da Merchansoft e tem que sair por aí procurando transgressões para ganhar HypnoCoins, que é dinheiro que só pode ser usado no hipnoespaço. Você pode usar essa moeda virtual para comprar protetores de tela, papeis de parede, aplicativos, temas, bichinhos virtuais e muitas coisas mais para sua área de trabalho. E aí os casos vão ficando complexos: você tem que desmontar uma gangue hacker, acabar com o ancestral dos torrents, o diabo. É um pouco como se você pudesse virar o Justiceiro da Deep Web, usando o Tor e tendo o poder de deletar quaisquer conteúdos que fossem considerados ofensivos.
Mas não por você: pelo Facebook. É como se o Facebook tivesse comprado a deep web. Não o Tor. A deep web, mesmo. Porque o jogo tem uma linha narrativa, tá. Não vou falar muito dela. Mas logo no começo, você vai desconfiar que tem algo errado com o atual estado das coisas. Existe um ambiente verticalizado em que uma empresa controla os serviços, a economia, o conteúdo e a moral. Essa empresa também tem acesso basicamente ilimitado aos dados dos usuários. Claro que algo está errado. É nisso, não na recriação extremamente detalhada de um ambiente virtual pré-Google, que está o maior humor de Hypnospace Outlaw.
Isso porque é um jogo que ri de nós no passado e de nós no presente — essa narrativa e o modo como a percebemos estão condicionados ao modo como entendemos a internet hoje, não ontem. O jogo te apresenta a um trabalho muito mais parecido com algo que nós todos fazemos, inclusive de graça: reportar conteúdo que odiamos para grandes empresas, confiando a elas nosso bem-estar virtual — porque estamos 100% do tempo absolutamente revoltados, hipersensíveis e querendo consertar um espaço muito maior que nós.
Não que esse seja o comentário do jogo, necessariamente. Mas a maneira como o jogo veio a ser, na época que veio a ser e retratando o que retrata moldam a maneira como nos relacionamos com ele. Então Hypnospace Outlaw é um jogo que traz um carinho pelo passado, uma consciência do presente e um leve, beeeem leve medo do que podemos ver no futuro — quando ainda estaremos rindo de nós mesmos, mas talvez sem se dar conta das mãos que estão dando tapinha nas nossas costas.
2014
Tem quem entenda que a capacidade de imersão de um jogo é inversamente proporcional à capacidade de clareza desse mesmo jogo quanto às suas mecânicas. Imersão, aqui, seria um certo pacto que permite ao jogador se expressar dentro do jogo, se colocar na pele dos personagens e agir por eles. Esse envolve assegurar que o jogador trate os personagens do jogo como pessoas, visite lugares e os trate como sua casa. E tudo isso, é lógico, depende de esconder os números por trás desses comportamentos. De esconder os fios por trás da marionete.
Essa ideia parte do pressuposto de que o ato material e puro de jogar não é, também, eminentemente humano — e toda mecânica exposta seria uma concessão, um ruído, uma materialização imperfeita de algo muito mais profundo.
Mas por que, então, mesmo na ausência completa de números, pessoas ainda jogam pra ganhar? Pra resolver o jogo?
Sempre que vemos um jogo se destacar como muito humano, isso acontece pela força imparável de seus valores morais elevados e histórias envolventes. Estruturalmente, eles ainda são como todos os outros jogos. Vou pegar de exemplo aqui um que eu conheço bem: Katawa Shoujo.
A ideia geral por trás do jogo é a de que escolher o que você normalmente escolheria em outras visual novels de romance, você vai pra um final ruim. Se você tratar a garota como uma incapaz que precisa da sua ajuda, que é o que normalmente acontece em outros jogos do tipo, você vai tomar no cu. O que é subvertido aqui, então, não é o ato material de jogar, mas os valores que você coloca e retira ao escolher e ver o que acontece. O que os caras talvez não esperavam era que a grande maioria dos jogadores não colocaram seus próprios valores pérfidos e sujos no jogo e pegaram um final ruim por causa disso. Essas histórias existem, é claro. Mas a maioria observou as regras que o jogo colocou para elas e, mesmo que na vida real tenham valores pérfidos e sujos, conseguiram um final bom já na primeira jogada.
Então quer dizer, é bastante comum que jogadores se adaptem às regras e aos valores de um jogo para vencer, pela noção geral de que um final bom é mais verdadeiro do que um final ruim, mesmo que este esteja teoricamente mais alinhado ao que a pessoa é fora do jogo.
Ao subverter valores, mas não regras, Katawa Shoujo se mostrou não tão subversivo assim. Ainda mais, quem prestou atenção pôde observar que nós assimilamos um jogo antes de tentarmos fazer o jogo nos assimilar. Não é que não estejamos seguindo nosso coração. É que nosso coração realmente muda. E isso significa que nós somos sociopatas, como os desenvolvedores de Dream Daddy disseram:
pYTqftN.png
Os caras, em Dream Daddy, tentaram ir mais longe: subverter os valores inerentes ao ato material de jogar. Ou, pelo menos, os valores que eles vêem. Então em Dream Daddy você basicamente escolhe quem você quer pegar pra não alimentar a psicopatia inevitável dos jogadores. E nem sempre o final bom significa que você realmente pegou a pessoa. Em resumo, “vencer” não significa “coisas boas acontecerem”.
E isso nem é muito incomum, mas é importante notar que, embora desvie da estrutura tradicional de um joguinho de namoro, a subversão de Dream Daddy está, em última instância, nos valores. E até aí, a maioria dos joguinhos de namoro ocidentais subvertem valores tradicionais de joguinhos de namoro. Tô usando esse exemplo aqui desse gênero, mas acredito que isso valha pra todos os jogos: valores e mensagens são coisas muito importantes pra nós todos, e isso é absolutamente compreensível.
Tanto que aí quando surge um jogo que tenta reafirmar os valores tradicionais do gênero, também é essa a propaganda que se faz dele. Um jogo de volta às raízes, sem firula etc. etc. Como foi o caso de Huniepop, que tentou ser o dating sim mais dating sim que o orçamento (e provavelmente a lei) permitisse. Mas todos esses jogos e toda essa discussão ignorou o seguinte:
Nossa maior psicopatia está nas coisas pequenas. Em como a gente realmente fala o que o NPC quer ouvir, ou pelo menos busca isso. Em como a gente ajuda o mendigo esperando que ele esteja lá por algum motivo, que o jogo vai saber que você fez uma boa ação e vai te recompensar. Isso parece inevitável. As regras por trás de como esses valores são aceitos, quaisquer que sejam, nunca foram realmente desafiadas.
(Vai ver é por isso que Deus se esconde, que é pra não ter gente enchendo a porra do saco dele procurando justiça por saber ou querer que, afinal, nada seja por acaso mesmo.)
E aí temos Doki Doki Literature Club.
Mas antes, tivemos Kimi to Kanojo to Kanojo no Koi (que eu gostaria de abreviar como KKKK, mas aparentemente se abrevia como Totono). Spoilers à frente, pode pular esse parágrafo: em Totono, vencer significa deletar a existência de uma personagem e de uma rota inteira. Não dentro da história. No jogo, mesmo. Você tem dois interesses amorosos possíveis e ficar com um deles significa nunca mais poder refazer o jogo e ficar com a outra porque ela deixa de existir como um conjunto de números disfarçados de gente. E é horrível, tem cenas desconfortáveis pelas quais você tem que passar porque, pra ficar com uma delas, você tem que passar por todas as cenas, incluindo as desconfortáveis (é uma profecia que se auto-cumpre).
Isso pode ser visto de várias maneiras: como uma tática muito extrema pra fazer a imersão se sobrepor ao sistema, já que a história engole as mecânicas — uma espécie de fronteira final desse ideal humanizador dos jogos, já que o ato material de jogar vira parte da história. também é um triturador de valores que o jogador tenta colocar no jogo, porque não importa muito quem você quer ser: você tem que ganhar, goste ou não, e todos os finais bons para uma personagem são os finais ruins de outra, necessariamente; talvez seja a tentativa mais forte que um jogo já fez pra tentar fazer você sentir algo para além das mecânicas.
Mas você ainda pode simplesmente parar de jogar.
O que talvez Doki Doki Literature Club fez (e, claro, muitos jogos antes dele) foi admitir a natureza mecânica de seu próprio sistema. Vencer se torna um valor dentro de sua própria história. Progredir no jogo e ser, de todo modo, um sociopata — assimilar, portanto, suas regras — é exatamente a maneira como se progride no jogo. E as personagens nunca tentam ser mais do que arquivos em uma pasta. Na verdade, revelando seu conteúdo da maneira mais crua possível (embora não realmente, porque arquivos .chr não existem), Doki Doki Literature Club alterou a maneira como jogadores se relacionam com o jogo. Mesmo que seus valores permaneçam os mesmos.
Talvez a coisa mais humana que um jogo pode fazer é gravar seus números na pele a ferro e fogo. Porque nós queremos tratar certos personagens como gente. Nós queremos que certos números coloquem uma máscara, porque nós, também, estamos usando algo assim. Nós queremos dar vida àquilo que não tem.
Quando estamos jogando, somos atores e espectadores a um só tempo. Existe algo muito humano em atuar, em fazer de conta que algo é real mesmo sabendo que não é e não fazendo esforço para que seja. Esse mundinho que a gente constrói nos torna, além de sociopatas, pigmaleões.
Essa ideia parte do pressuposto de que o ato material e puro de jogar não é, também, eminentemente humano — e toda mecânica exposta seria uma concessão, um ruído, uma materialização imperfeita de algo muito mais profundo.
Mas por que, então, mesmo na ausência completa de números, pessoas ainda jogam pra ganhar? Pra resolver o jogo?
Sempre que vemos um jogo se destacar como muito humano, isso acontece pela força imparável de seus valores morais elevados e histórias envolventes. Estruturalmente, eles ainda são como todos os outros jogos. Vou pegar de exemplo aqui um que eu conheço bem: Katawa Shoujo.
A ideia geral por trás do jogo é a de que escolher o que você normalmente escolheria em outras visual novels de romance, você vai pra um final ruim. Se você tratar a garota como uma incapaz que precisa da sua ajuda, que é o que normalmente acontece em outros jogos do tipo, você vai tomar no cu. O que é subvertido aqui, então, não é o ato material de jogar, mas os valores que você coloca e retira ao escolher e ver o que acontece. O que os caras talvez não esperavam era que a grande maioria dos jogadores não colocaram seus próprios valores pérfidos e sujos no jogo e pegaram um final ruim por causa disso. Essas histórias existem, é claro. Mas a maioria observou as regras que o jogo colocou para elas e, mesmo que na vida real tenham valores pérfidos e sujos, conseguiram um final bom já na primeira jogada.
Então quer dizer, é bastante comum que jogadores se adaptem às regras e aos valores de um jogo para vencer, pela noção geral de que um final bom é mais verdadeiro do que um final ruim, mesmo que este esteja teoricamente mais alinhado ao que a pessoa é fora do jogo.
Ao subverter valores, mas não regras, Katawa Shoujo se mostrou não tão subversivo assim. Ainda mais, quem prestou atenção pôde observar que nós assimilamos um jogo antes de tentarmos fazer o jogo nos assimilar. Não é que não estejamos seguindo nosso coração. É que nosso coração realmente muda. E isso significa que nós somos sociopatas, como os desenvolvedores de Dream Daddy disseram:
pYTqftN.png
Os caras, em Dream Daddy, tentaram ir mais longe: subverter os valores inerentes ao ato material de jogar. Ou, pelo menos, os valores que eles vêem. Então em Dream Daddy você basicamente escolhe quem você quer pegar pra não alimentar a psicopatia inevitável dos jogadores. E nem sempre o final bom significa que você realmente pegou a pessoa. Em resumo, “vencer” não significa “coisas boas acontecerem”.
E isso nem é muito incomum, mas é importante notar que, embora desvie da estrutura tradicional de um joguinho de namoro, a subversão de Dream Daddy está, em última instância, nos valores. E até aí, a maioria dos joguinhos de namoro ocidentais subvertem valores tradicionais de joguinhos de namoro. Tô usando esse exemplo aqui desse gênero, mas acredito que isso valha pra todos os jogos: valores e mensagens são coisas muito importantes pra nós todos, e isso é absolutamente compreensível.
Tanto que aí quando surge um jogo que tenta reafirmar os valores tradicionais do gênero, também é essa a propaganda que se faz dele. Um jogo de volta às raízes, sem firula etc. etc. Como foi o caso de Huniepop, que tentou ser o dating sim mais dating sim que o orçamento (e provavelmente a lei) permitisse. Mas todos esses jogos e toda essa discussão ignorou o seguinte:
Nossa maior psicopatia está nas coisas pequenas. Em como a gente realmente fala o que o NPC quer ouvir, ou pelo menos busca isso. Em como a gente ajuda o mendigo esperando que ele esteja lá por algum motivo, que o jogo vai saber que você fez uma boa ação e vai te recompensar. Isso parece inevitável. As regras por trás de como esses valores são aceitos, quaisquer que sejam, nunca foram realmente desafiadas.
(Vai ver é por isso que Deus se esconde, que é pra não ter gente enchendo a porra do saco dele procurando justiça por saber ou querer que, afinal, nada seja por acaso mesmo.)
E aí temos Doki Doki Literature Club.
Mas antes, tivemos Kimi to Kanojo to Kanojo no Koi (que eu gostaria de abreviar como KKKK, mas aparentemente se abrevia como Totono). Spoilers à frente, pode pular esse parágrafo: em Totono, vencer significa deletar a existência de uma personagem e de uma rota inteira. Não dentro da história. No jogo, mesmo. Você tem dois interesses amorosos possíveis e ficar com um deles significa nunca mais poder refazer o jogo e ficar com a outra porque ela deixa de existir como um conjunto de números disfarçados de gente. E é horrível, tem cenas desconfortáveis pelas quais você tem que passar porque, pra ficar com uma delas, você tem que passar por todas as cenas, incluindo as desconfortáveis (é uma profecia que se auto-cumpre).
Isso pode ser visto de várias maneiras: como uma tática muito extrema pra fazer a imersão se sobrepor ao sistema, já que a história engole as mecânicas — uma espécie de fronteira final desse ideal humanizador dos jogos, já que o ato material de jogar vira parte da história. também é um triturador de valores que o jogador tenta colocar no jogo, porque não importa muito quem você quer ser: você tem que ganhar, goste ou não, e todos os finais bons para uma personagem são os finais ruins de outra, necessariamente; talvez seja a tentativa mais forte que um jogo já fez pra tentar fazer você sentir algo para além das mecânicas.
Mas você ainda pode simplesmente parar de jogar.
O que talvez Doki Doki Literature Club fez (e, claro, muitos jogos antes dele) foi admitir a natureza mecânica de seu próprio sistema. Vencer se torna um valor dentro de sua própria história. Progredir no jogo e ser, de todo modo, um sociopata — assimilar, portanto, suas regras — é exatamente a maneira como se progride no jogo. E as personagens nunca tentam ser mais do que arquivos em uma pasta. Na verdade, revelando seu conteúdo da maneira mais crua possível (embora não realmente, porque arquivos .chr não existem), Doki Doki Literature Club alterou a maneira como jogadores se relacionam com o jogo. Mesmo que seus valores permaneçam os mesmos.
Talvez a coisa mais humana que um jogo pode fazer é gravar seus números na pele a ferro e fogo. Porque nós queremos tratar certos personagens como gente. Nós queremos que certos números coloquem uma máscara, porque nós, também, estamos usando algo assim. Nós queremos dar vida àquilo que não tem.
Quando estamos jogando, somos atores e espectadores a um só tempo. Existe algo muito humano em atuar, em fazer de conta que algo é real mesmo sabendo que não é e não fazendo esforço para que seja. Esse mundinho que a gente constrói nos torna, além de sociopatas, pigmaleões.
2015
2017
Quando a gente é criança, às vezes não vê muito a escola em toda sua dimensão. É como se ela desaparecesse completamente — não só quando vamos embora, mas também quando pensamos nela em qualquer outro tempo.
Os espaços liminares que assombram a escola não são só a imagem dela vazia de noite, mas também a reunião de pais e mestres (quando a escola só tem adultos e só algumas salas estão abertas), o recreio sem a turma que foi a uma excursão naquele dia ou até o dia em que faltamos e temos que imaginar nossa própria ausência. Nossa própria carteira vazia enquanto o resto do mundo corre na normalidade talvez seja a coisa mais estranha que dá para imaginar.
O absoluto inverso, então, é completamente impensável. Ficar na escola para sempre é um contrassenso porque, mesmo pititicos, a gente sabe lá dentro da gente que aquilo é transitório. Professores são substituídos, esperam que passemos de ano, o colega — ou mesmo a gente — muda de escola. Ficar preso no transitório é um pesadelo que nem passa pela cabeça. É o horror.
Minha parte favorita de Detention é um momento muito pequenininho, logo no começo, que diz tudo. Nos primeiros quinze minutos, mais ou menos, você joga com um moleque, que encontra uma menina desacordada no pátio do colégio em um dia de tempestade. Você acorda ela e, juntos, vocês tentam sair da escola. Não dá pra sair, então vocês voltam. Aí depois você joga com a garota, que não tem ideia do que tá fazendo ali, e quando volta pro pátio do colégio, o cidadão com quem você estava é quem está desacordado. Ele está pendurado de cabeça para baixo sobre o palco, rodeado de velas vermelhas.
Bom.
Aí você vai, colhe várias informações para um ritual necessário para prosseguir, e descobre que precisa de sangue. O único jeito de conseguir sangue é cortando o pescoço do menino pendurado e cabe a você colher esse sangue.
Bem.
Tem um momento de susto logo que você faz isso — o menino abre os olhos por uma fração de segundo. Mas ele absolutamente não é importante, ainda que confirme o que você já sabia: tem alguma coisa errada. O horror não está no susto, mas sim em sentir, ver e saber que você está cortando a garganta de alguém para colher seu sangue. Existe nisso um símbolo, cujo significado você descobre mais para frente.
Na verdade, a história é toda feita de metáforas, não para você, mas para a protagonista. Você também é a coragem dela, porque ela precisa descobrir uma verdade muito pior do que os monstros que a assombram. E, junto dela, você também precisa descobrir por que ela está presa na escola para sempre.
Existe uma via de mão dupla entre pesadelo e memória em Detention, e a construção de significado acontece como um joguinho de Jenga, em que você retira algo que estava ali dando sustentação para colocar no topo, tentando evitar que tudo desmorone na sua frente. Esse jogo de refazer uma torre de pecinhas é feito de momentos como esse, do começo. Você precisa se tornar uma pessoa um pouquinho menos pura, admitir para si mesmo que sabe mais do que diz que sabe e enfrentar as consequências disso. O susto não é o que te torna mais resiliente: é praticamente uma recompensa por já ser mais corajoso em primeiro lugar. É a confirmação do seu medo, mas também sua escolha de enfrentá-lo.
Não lembro mais onde eu vi. Acho que foi numa análise curtinha de algum jogo na Steam, esses dias. Mas a frase “jogos de terror não têm que te assustar — eles têm que te tornar mais corajoso” foi dessas que imediatamente ressoam em você e sintetizam várias coisas que estavam já aí dentro fazia muito, só desconexas e adormecidas. A última que tinha tido esse efeito era “tragédia é quando todo mundo tá certo”, e até hoje ela me faz fechar os olhos e balançar a cabeça, ruminando. Então, espero que te sejam úteis também, de alguma forma.
Em primeiro lugar, o pensamento encapsula muito bem o quanto o que acontece no segundo logo antes de você apertar o botão é muito mais importante do que apertar o botão. Se cada botão que você apertar não te fizer uma pessoa pior, poderia um robô estar jogando no seu lugar e não ia fazer diferença. Todas as escolhas em um jogo, todo jeito de revirar o sistema, um algoritmo pode fazer. Na verdade, um algoritmo faz isso mesmo, pra ver se não tem nenhum problema no jogo. Agora, transformar seu sentimento — isso, só você pode fazer. Então tudo bem, o susto pode ser importante. Mas o que eles fazem com você, de verdade? Essa é a resposta: no pior terror, eles nos deixam com medo e nos abandonam; no melhor, eles nos deixam mais corajosos.
Vai ver é por isso que jogamos, no fim das contas. Ninguém quer ser a pessoa que só foi pro céu porque o diabo achou que não ia ter graça fazer cair em tentação.
Os espaços liminares que assombram a escola não são só a imagem dela vazia de noite, mas também a reunião de pais e mestres (quando a escola só tem adultos e só algumas salas estão abertas), o recreio sem a turma que foi a uma excursão naquele dia ou até o dia em que faltamos e temos que imaginar nossa própria ausência. Nossa própria carteira vazia enquanto o resto do mundo corre na normalidade talvez seja a coisa mais estranha que dá para imaginar.
O absoluto inverso, então, é completamente impensável. Ficar na escola para sempre é um contrassenso porque, mesmo pititicos, a gente sabe lá dentro da gente que aquilo é transitório. Professores são substituídos, esperam que passemos de ano, o colega — ou mesmo a gente — muda de escola. Ficar preso no transitório é um pesadelo que nem passa pela cabeça. É o horror.
Minha parte favorita de Detention é um momento muito pequenininho, logo no começo, que diz tudo. Nos primeiros quinze minutos, mais ou menos, você joga com um moleque, que encontra uma menina desacordada no pátio do colégio em um dia de tempestade. Você acorda ela e, juntos, vocês tentam sair da escola. Não dá pra sair, então vocês voltam. Aí depois você joga com a garota, que não tem ideia do que tá fazendo ali, e quando volta pro pátio do colégio, o cidadão com quem você estava é quem está desacordado. Ele está pendurado de cabeça para baixo sobre o palco, rodeado de velas vermelhas.
Bom.
Aí você vai, colhe várias informações para um ritual necessário para prosseguir, e descobre que precisa de sangue. O único jeito de conseguir sangue é cortando o pescoço do menino pendurado e cabe a você colher esse sangue.
Bem.
Tem um momento de susto logo que você faz isso — o menino abre os olhos por uma fração de segundo. Mas ele absolutamente não é importante, ainda que confirme o que você já sabia: tem alguma coisa errada. O horror não está no susto, mas sim em sentir, ver e saber que você está cortando a garganta de alguém para colher seu sangue. Existe nisso um símbolo, cujo significado você descobre mais para frente.
Na verdade, a história é toda feita de metáforas, não para você, mas para a protagonista. Você também é a coragem dela, porque ela precisa descobrir uma verdade muito pior do que os monstros que a assombram. E, junto dela, você também precisa descobrir por que ela está presa na escola para sempre.
Existe uma via de mão dupla entre pesadelo e memória em Detention, e a construção de significado acontece como um joguinho de Jenga, em que você retira algo que estava ali dando sustentação para colocar no topo, tentando evitar que tudo desmorone na sua frente. Esse jogo de refazer uma torre de pecinhas é feito de momentos como esse, do começo. Você precisa se tornar uma pessoa um pouquinho menos pura, admitir para si mesmo que sabe mais do que diz que sabe e enfrentar as consequências disso. O susto não é o que te torna mais resiliente: é praticamente uma recompensa por já ser mais corajoso em primeiro lugar. É a confirmação do seu medo, mas também sua escolha de enfrentá-lo.
Não lembro mais onde eu vi. Acho que foi numa análise curtinha de algum jogo na Steam, esses dias. Mas a frase “jogos de terror não têm que te assustar — eles têm que te tornar mais corajoso” foi dessas que imediatamente ressoam em você e sintetizam várias coisas que estavam já aí dentro fazia muito, só desconexas e adormecidas. A última que tinha tido esse efeito era “tragédia é quando todo mundo tá certo”, e até hoje ela me faz fechar os olhos e balançar a cabeça, ruminando. Então, espero que te sejam úteis também, de alguma forma.
Em primeiro lugar, o pensamento encapsula muito bem o quanto o que acontece no segundo logo antes de você apertar o botão é muito mais importante do que apertar o botão. Se cada botão que você apertar não te fizer uma pessoa pior, poderia um robô estar jogando no seu lugar e não ia fazer diferença. Todas as escolhas em um jogo, todo jeito de revirar o sistema, um algoritmo pode fazer. Na verdade, um algoritmo faz isso mesmo, pra ver se não tem nenhum problema no jogo. Agora, transformar seu sentimento — isso, só você pode fazer. Então tudo bem, o susto pode ser importante. Mas o que eles fazem com você, de verdade? Essa é a resposta: no pior terror, eles nos deixam com medo e nos abandonam; no melhor, eles nos deixam mais corajosos.
Vai ver é por isso que jogamos, no fim das contas. Ninguém quer ser a pessoa que só foi pro céu porque o diabo achou que não ia ter graça fazer cair em tentação.
1994
What is the best game we can give to a friendly alien civilization as a parting gift? Picture this: after exchanging technology, pleasantries and food, we reach the conclusion that we're all sentient, we're all intelligent and we're all playful. They don't, however, have video games -- so they ask for exactly one piece of gaming media they can play on their way back to wherever they came from, so they can entertain themselves.
The UN and relevant authorities will gather to discuss what's a game we can give to an alien to play. One that embodies everything games can be. We'll consider classics that have entertained us for hours on end, such as Chrono Trigger, GTA V or The Legend of Zelda: Breath of the Wild. We'll turn to games that evoke sportsmanship, such as FIFA, Steet Fighter and Free Fire. However, most will agree that the quintessential video game even an alien with no knowledge of our culture or values can enjoy is none other than Tetris. So we'll give them a copy of Tetris.
But that'll have been a mistake: the best game we can give to aliens is Shariki.
We should always remember Shariki, the Russian 1994 DOS game. It's the first game in which you're given a board full of colored balls and you can swap adjacent balls to create vertical or horizontal sets of three color-matching balls. When you do, they disappear and the balls above them fall into place, and new balls come from above. When it's no longer possible to swap adjacent balls to create a vertical or horizontal set of three color-matching balls, you lose and the game restarts. That's it.
The reason why it's the finest example of a video game (for aliens) is that it's almost not a video game. The fact that you lose when you can no longer swap balls goes against every principle of contemporary game design out there -- you can never win such a game and losing is more a matter of luck than any spatial recognition or strategy skill. As a result, the score is also not a direct byproduct of your input, but almost something that unfolds naturally, has an unavoidable yet unpredictable end and that you just so happen to have an input on. If you eliminated the notion of a score, it could simply reshuffle or restart once it happens and it wouldn't really make a difference -- the only factor giving any sense of loss or progress would be the game arbitrarily telling you that you lost when it could simply... not do it. In theory, you can play it forever relying solely on its most basic premises.
Shariki is not so much a game you play as much as it is a thing you do. So that's why it's a genre in itself and why aliens would be able to do anything with it. From Shariki, we got Bejeweled and its hundreds of clones. We also got Candy Crush, Pokémon Shuffle, Paris Hilton's Diamond Quest and Huniepop. They're all great games (even - especially - Paris Hilton's Diamond Quest), but they're all particularly elaborate mods of Shariki, adding systems upon systems to make Shariki fresh, more addicting, more rewarding. Yes, Shariki's a system much like shooting system defines shooter games, running forever defines endless runners and there being cards defines a card game.
And it's the one absurdly influential game we generally forget about. Tetris is always Tetris, you see. Should an alien add any element to Tetris, it'll still be the game in which you pile up blocks until you can no longer pile up blocks. I don't know how many of you are old enough to have had a Brick Game -- a handheld game device that had 9999 games. It got all us fooled, because at least 9990 of them were just Tetris. Invisible Tetris, Sideways Tetris, Double Tetris, you name it. Tetris is a lot like football -- in that it doesn't matter whether the goal is made of slippers or whether you're using beanbags to play. It's still football. Shariki, instead, is more freeform. It's like simply "playing ball".
We've been able to give Shariki not only new skins, but a new life every time we dress it up with different rules and quirks. Its original nine colors make it pretty difficult, and something of a strategy game. Getting one combination in it feels good -- but seeing the game practically play itself in "easier" rulesets (with three or four colors or tile types) feels just as rewarding, except it's completely different. Shariki will always be incomplete: there'll be something to add to it, something to tweak with. And any completely foreign culture might be able to give it its own life, create its own games with it.
Many other games have been played more. There's an interesting case to be made, by the way, about Solitaire possibly being the most played game ever, at the very least up until 2016 -- but that's another story, anyway. Tetris is possibly the one game we as a species will accidentally recreate 100,000 years into the future, when all our digital cultural heritage is lost. There are a lot of games we can define as the quintessential game. Shariki, however, is certainly the best game we can give as a gift to an alien civilization as we wave them goodbye.
The UN and relevant authorities will gather to discuss what's a game we can give to an alien to play. One that embodies everything games can be. We'll consider classics that have entertained us for hours on end, such as Chrono Trigger, GTA V or The Legend of Zelda: Breath of the Wild. We'll turn to games that evoke sportsmanship, such as FIFA, Steet Fighter and Free Fire. However, most will agree that the quintessential video game even an alien with no knowledge of our culture or values can enjoy is none other than Tetris. So we'll give them a copy of Tetris.
But that'll have been a mistake: the best game we can give to aliens is Shariki.
We should always remember Shariki, the Russian 1994 DOS game. It's the first game in which you're given a board full of colored balls and you can swap adjacent balls to create vertical or horizontal sets of three color-matching balls. When you do, they disappear and the balls above them fall into place, and new balls come from above. When it's no longer possible to swap adjacent balls to create a vertical or horizontal set of three color-matching balls, you lose and the game restarts. That's it.
The reason why it's the finest example of a video game (for aliens) is that it's almost not a video game. The fact that you lose when you can no longer swap balls goes against every principle of contemporary game design out there -- you can never win such a game and losing is more a matter of luck than any spatial recognition or strategy skill. As a result, the score is also not a direct byproduct of your input, but almost something that unfolds naturally, has an unavoidable yet unpredictable end and that you just so happen to have an input on. If you eliminated the notion of a score, it could simply reshuffle or restart once it happens and it wouldn't really make a difference -- the only factor giving any sense of loss or progress would be the game arbitrarily telling you that you lost when it could simply... not do it. In theory, you can play it forever relying solely on its most basic premises.
Shariki is not so much a game you play as much as it is a thing you do. So that's why it's a genre in itself and why aliens would be able to do anything with it. From Shariki, we got Bejeweled and its hundreds of clones. We also got Candy Crush, Pokémon Shuffle, Paris Hilton's Diamond Quest and Huniepop. They're all great games (even - especially - Paris Hilton's Diamond Quest), but they're all particularly elaborate mods of Shariki, adding systems upon systems to make Shariki fresh, more addicting, more rewarding. Yes, Shariki's a system much like shooting system defines shooter games, running forever defines endless runners and there being cards defines a card game.
And it's the one absurdly influential game we generally forget about. Tetris is always Tetris, you see. Should an alien add any element to Tetris, it'll still be the game in which you pile up blocks until you can no longer pile up blocks. I don't know how many of you are old enough to have had a Brick Game -- a handheld game device that had 9999 games. It got all us fooled, because at least 9990 of them were just Tetris. Invisible Tetris, Sideways Tetris, Double Tetris, you name it. Tetris is a lot like football -- in that it doesn't matter whether the goal is made of slippers or whether you're using beanbags to play. It's still football. Shariki, instead, is more freeform. It's like simply "playing ball".
We've been able to give Shariki not only new skins, but a new life every time we dress it up with different rules and quirks. Its original nine colors make it pretty difficult, and something of a strategy game. Getting one combination in it feels good -- but seeing the game practically play itself in "easier" rulesets (with three or four colors or tile types) feels just as rewarding, except it's completely different. Shariki will always be incomplete: there'll be something to add to it, something to tweak with. And any completely foreign culture might be able to give it its own life, create its own games with it.
Many other games have been played more. There's an interesting case to be made, by the way, about Solitaire possibly being the most played game ever, at the very least up until 2016 -- but that's another story, anyway. Tetris is possibly the one game we as a species will accidentally recreate 100,000 years into the future, when all our digital cultural heritage is lost. There are a lot of games we can define as the quintessential game. Shariki, however, is certainly the best game we can give as a gift to an alien civilization as we wave them goodbye.
1991
My aunt once told me she regretted giving me a Mater System when I was three. She is just nine years my senior, so it’s not like she had outgrown video games by then. She had no cartridges and could play Sonic the Hedgehog in the console’s memory, which might maybe have been boring to her — but to me, since I’d visit her only on weekends and didn’t know what a video game was, that was the most mesmerizing gadget imaginable. More than that: my concept of imagination was founded by those bright colors and jazzy, if crunched, music. And mesmerized by Sonic I was, which she noticed, and so she ended up giving her hard-earned video game console to me. “Had I known how obsessed you and your brother would become over it, even now,” she said many years later, “I wouldn’t have done it”. She did change my life with that gesture, because I learned the language of games with a Sonic game for the Master System.
This is deeply influential in a number of ways. To this day, the way I’ll approach any new game resembles the childish curiosity with which I approached that game, and a certain set of expectations was created alongside said curiosity. This applies to all of you: the way you first approached games, and what you came to expect from them, as well as your history with them, colors your analyses. So I’m giving you full disclosure: in a very fundamental, irrational level, if you ever disagree with me about games, that might be (among other things) because I learned how to play games with Sonic on the Mater System.
And that game is very peculiar, in that it’s quite a bit more methodical than most other Sonic games: each act in each zone is completely different from all the other acts in all the other zones, and makes it very clear. Each act in each stage has exactly one 1-Up monitor, and hides it differently; getting 100 rings gives you a life, but resets your ring counter; however, carrying 99 rings to the end of the stage brings you 9900 points, and every 50000 points will also give you an extra life. So getting to the end of the game involves a lot of figuring out, which, for a kid that’s pretty bad at the game and dies a lot, is a big deal. It’s very cerebral, in a number of ways, because planning and strategizing your performance just in order to survive becomes very important.
However, there was no way to figure that stuff out other than just trying things out and moving around a stage, because if the only thing I can control and use to interact with the environment is Sonic itself, he’s also some sort of cursor in a computer screen — except he doesn’t always act the way I want, or I end up finding something I didn’t want. This means I had to play the very best I could at every step of the way, because I could never rely on rings to back me up — unlike you Sonic 2 for the Mega Drive snobs could. At the same time, each step was presented as somewhat self-contained, as a challenge that I wouldn’t find anywhere else in the game, not in the same way. This stage is an auto-scroller; this other one is a vertical level, and you’ll die if you fall; this one has this section leading up to a 1-Up monitor, from which it’s arbitrarily and randomly near-impossible to get out alive.
That’s especially true for the Chaos Emeralds. You can see them just by playing normally, but learning how to get there often feels wrong (like getting hurt on purpose to get the emerald in Labyrinth Zone, because you couldn’t yet dream of being good enough to get it with the Invincibility from the monitor earlier still active). So there’s a choreography to it that’s less apparent in other Sonic games, but also an unruliness that’s less apparent in other games in general. As I grew up a little, I had access to other games (still not knowing what a Mega Drive was) and, most importantly, to other platformers. Which were fun and communicated their challenges much more clearly, but then gave me a sense that I was learning to do things as I was told, and the character was no longer a cursor for exploring the game’s system, whereas Sonic never intended to teach me anything.
Having learned how to appreciate this delicate balance, when I got around to discovering every game Sonic had to offer, that’s how I approached them too, and this led me to like the slower-paced or the strange bouncy assholes of later or weirder Sonic stages. So I love Marble Zone, Labyrinth Zone, Sandopolis and the entirety of Sonic CD. Because they feel more like Sonic 1 for the Master System, so they feel more like home.
This is deeply influential in a number of ways. To this day, the way I’ll approach any new game resembles the childish curiosity with which I approached that game, and a certain set of expectations was created alongside said curiosity. This applies to all of you: the way you first approached games, and what you came to expect from them, as well as your history with them, colors your analyses. So I’m giving you full disclosure: in a very fundamental, irrational level, if you ever disagree with me about games, that might be (among other things) because I learned how to play games with Sonic on the Mater System.
And that game is very peculiar, in that it’s quite a bit more methodical than most other Sonic games: each act in each zone is completely different from all the other acts in all the other zones, and makes it very clear. Each act in each stage has exactly one 1-Up monitor, and hides it differently; getting 100 rings gives you a life, but resets your ring counter; however, carrying 99 rings to the end of the stage brings you 9900 points, and every 50000 points will also give you an extra life. So getting to the end of the game involves a lot of figuring out, which, for a kid that’s pretty bad at the game and dies a lot, is a big deal. It’s very cerebral, in a number of ways, because planning and strategizing your performance just in order to survive becomes very important.
However, there was no way to figure that stuff out other than just trying things out and moving around a stage, because if the only thing I can control and use to interact with the environment is Sonic itself, he’s also some sort of cursor in a computer screen — except he doesn’t always act the way I want, or I end up finding something I didn’t want. This means I had to play the very best I could at every step of the way, because I could never rely on rings to back me up — unlike you Sonic 2 for the Mega Drive snobs could. At the same time, each step was presented as somewhat self-contained, as a challenge that I wouldn’t find anywhere else in the game, not in the same way. This stage is an auto-scroller; this other one is a vertical level, and you’ll die if you fall; this one has this section leading up to a 1-Up monitor, from which it’s arbitrarily and randomly near-impossible to get out alive.
That’s especially true for the Chaos Emeralds. You can see them just by playing normally, but learning how to get there often feels wrong (like getting hurt on purpose to get the emerald in Labyrinth Zone, because you couldn’t yet dream of being good enough to get it with the Invincibility from the monitor earlier still active). So there’s a choreography to it that’s less apparent in other Sonic games, but also an unruliness that’s less apparent in other games in general. As I grew up a little, I had access to other games (still not knowing what a Mega Drive was) and, most importantly, to other platformers. Which were fun and communicated their challenges much more clearly, but then gave me a sense that I was learning to do things as I was told, and the character was no longer a cursor for exploring the game’s system, whereas Sonic never intended to teach me anything.
Having learned how to appreciate this delicate balance, when I got around to discovering every game Sonic had to offer, that’s how I approached them too, and this led me to like the slower-paced or the strange bouncy assholes of later or weirder Sonic stages. So I love Marble Zone, Labyrinth Zone, Sandopolis and the entirety of Sonic CD. Because they feel more like Sonic 1 for the Master System, so they feel more like home.
1997
Felizmente, existe um contrassenso no que todo mundo vai te dizer sobre bons MMORPGs. O que os gurus vão te dizer sobre o que um jogo desses precisa pra ser bom tem um segredinho escondido, feito pra ser descoberto não por aqueles que seguem e mesmo superam os gurus, mas por quem se desgarra do rebanho e descobre, sem querer, um jogo ruim — como Tibia.
Esse segredo consiste no seguinte: quanto mais um jogo é bom em estimular exploração, menos exploração existe de fato no jogo. Por exploração eu não me refiro, naturalmente, ao ato de explorar, ipsis litteris. Eu me refiro a uma certa sensação de que o mundo é maior do que você, de que o perigo mora ao lado, de que você está à mercê do que está fora dos quatro cantos da tela. A sensação, afinal, de que o desconhecido já está aqui. É uma sensação análoga ao terror, é parente do desespero, mas vem junto com aquele sentimento de quando você está, afinal de contas, se aventurando.
Tem duas maneiras de te apresentar ao universo: “olha como o universo é grande” e “olha como você é pequeno”.
Se você vem e me diz — veja que enorme, esse mundo! Olha quanta variedade de comida pra você comer, quanto bicho pra você matar, quanto dinheiro pra acumular! Eu vou me sentir parte. Vou pensar do todo pra parte, vou alinhar o que dá pra fazer com o que eu quero. Vou entrar no mar e me esbaldar na água salgada.
Se, no entanto, você disser — olha pra você! Tão frágil, tão pequeno. Olha quanta fome você passa, de quantos jeitos você pode morrer, quão caras são as coisas que você quer! Eu vou me sentir engolido, vou encaixar o que eu quero no que dá pra fazer. Eu vou ter medo da água, vou colocar o pé antes pra saber se ela não é venenosa. Ou, no mínimo, gelada.
A aventura de uma trilha em uma enorme reserva controlada é muito diferente daquela em um pedaço esquecido de mato. Quando você entra em um bueiro de rato pela primeira vez, você não sabe quão grande ele pode ser. Dois ratos te matam com cem mordidas, mas três ratos te matam com vinte. O jogo não sabe que você desceu em um buraco sem corda — e o jogo não quer saber. Ninguém pediu pra você estar ali. Você foi porque estava com fome, porque é pobre, porque precisa.
Não sei se existe algum jogo hoje em dia que te avise que existe algum perigo em volta, mas não te diga qual é o perigo ou por que isso está acontecendo com você nesse momento. Se o fazem fazem pra causar medo. Outros jogos não avisam — ou avisam e inscrevem o perigo em um espaço, um tempo ou uma circunstância que te faça merecer aquele perigo. Pra purificar a relação do jogador com o desafio ou com o medo elimina-se o outro. Em Tibia, existe um encadeamento. O medo é um subproduto do perigo e o perigo, uma função do mundo sobre o personagem. O personagem é fraco, bobo e não sabe o que pode lhe acontecer.
Não é que o jogo queira fazer isso, e essa mistura de desafio com medo é, na verdade, um ruído. Porque, apesar de tudo. você não tem culpa se, 100 metros pro lado de onde você tá acostumado a ir, existe um monstro muito mais forte do que você é capaz de matar. Esse tipo de ruído desincentiva a exploração (o ato de fazer várias coisas, comer várias comidas e matar vários bichos). Mas em uma era de jogos purificados, destilados — na era da exploração, enfim — nós não temos aventuras: temos excursões.
Desafio é o que fica na sua parede, um testemunho da sua capacidade de superação. Aventura é história pra contar — mesmo que você saia arranhado e só de meia.
Não há como culpar a tentativa de mostrar o infinito de um mundo de fora para dentro. Tibia mesmo se transformou ao longo dos anos e é hoje um jogo muito melhor. Entendeu o que faz World of Warcraft bom, entendeu o que constitui o serviço de um jogo. Mas, por mim, eu vou ficar esperando jogos que me tragam novamente o infinito para fora. Afinal de contas, o infinito para fora somos nós que fazemos.
Esse segredo consiste no seguinte: quanto mais um jogo é bom em estimular exploração, menos exploração existe de fato no jogo. Por exploração eu não me refiro, naturalmente, ao ato de explorar, ipsis litteris. Eu me refiro a uma certa sensação de que o mundo é maior do que você, de que o perigo mora ao lado, de que você está à mercê do que está fora dos quatro cantos da tela. A sensação, afinal, de que o desconhecido já está aqui. É uma sensação análoga ao terror, é parente do desespero, mas vem junto com aquele sentimento de quando você está, afinal de contas, se aventurando.
Tem duas maneiras de te apresentar ao universo: “olha como o universo é grande” e “olha como você é pequeno”.
Se você vem e me diz — veja que enorme, esse mundo! Olha quanta variedade de comida pra você comer, quanto bicho pra você matar, quanto dinheiro pra acumular! Eu vou me sentir parte. Vou pensar do todo pra parte, vou alinhar o que dá pra fazer com o que eu quero. Vou entrar no mar e me esbaldar na água salgada.
Se, no entanto, você disser — olha pra você! Tão frágil, tão pequeno. Olha quanta fome você passa, de quantos jeitos você pode morrer, quão caras são as coisas que você quer! Eu vou me sentir engolido, vou encaixar o que eu quero no que dá pra fazer. Eu vou ter medo da água, vou colocar o pé antes pra saber se ela não é venenosa. Ou, no mínimo, gelada.
A aventura de uma trilha em uma enorme reserva controlada é muito diferente daquela em um pedaço esquecido de mato. Quando você entra em um bueiro de rato pela primeira vez, você não sabe quão grande ele pode ser. Dois ratos te matam com cem mordidas, mas três ratos te matam com vinte. O jogo não sabe que você desceu em um buraco sem corda — e o jogo não quer saber. Ninguém pediu pra você estar ali. Você foi porque estava com fome, porque é pobre, porque precisa.
Não sei se existe algum jogo hoje em dia que te avise que existe algum perigo em volta, mas não te diga qual é o perigo ou por que isso está acontecendo com você nesse momento. Se o fazem fazem pra causar medo. Outros jogos não avisam — ou avisam e inscrevem o perigo em um espaço, um tempo ou uma circunstância que te faça merecer aquele perigo. Pra purificar a relação do jogador com o desafio ou com o medo elimina-se o outro. Em Tibia, existe um encadeamento. O medo é um subproduto do perigo e o perigo, uma função do mundo sobre o personagem. O personagem é fraco, bobo e não sabe o que pode lhe acontecer.
Não é que o jogo queira fazer isso, e essa mistura de desafio com medo é, na verdade, um ruído. Porque, apesar de tudo. você não tem culpa se, 100 metros pro lado de onde você tá acostumado a ir, existe um monstro muito mais forte do que você é capaz de matar. Esse tipo de ruído desincentiva a exploração (o ato de fazer várias coisas, comer várias comidas e matar vários bichos). Mas em uma era de jogos purificados, destilados — na era da exploração, enfim — nós não temos aventuras: temos excursões.
Desafio é o que fica na sua parede, um testemunho da sua capacidade de superação. Aventura é história pra contar — mesmo que você saia arranhado e só de meia.
Não há como culpar a tentativa de mostrar o infinito de um mundo de fora para dentro. Tibia mesmo se transformou ao longo dos anos e é hoje um jogo muito melhor. Entendeu o que faz World of Warcraft bom, entendeu o que constitui o serviço de um jogo. Mas, por mim, eu vou ficar esperando jogos que me tragam novamente o infinito para fora. Afinal de contas, o infinito para fora somos nós que fazemos.
2018
Existe um jogo de corrida pra aquecer cada coração, pela extensão de detalhes e pequenas recompensas que (importante) não podemos praticar na vida real. Jogos mais antigos, especialmente para arcade, tinham uma disposição muito forte de te “conceder” uma vitória através de uma série de execuções bem feitas — mais do que uma consistência geral de condução do carro, estratégia e manutenção por um longo tempo de uma alta velocidade.
É uma abordagem que permite que você ganhe uma corrida após uma largada muito ruim ou perca uma corrida praticamente do nada, mesmo tendo liderado todo o percurso, se capotar nos segundos finais. Quando você abre Slipstream e é ensinado sobre as duas bases de sua fundação — drifting e slipstreaming —, tem uma dica de como o jogo vai se comportar. Mais do que a estética, mais do que a variedade de filtros de imagem disponíveis (pixel, NTSC, CRT), mais do que as inúmeras referências a Sonic e jogos de corrida antigos — o que define Slipstream é seguir um carro em uma reta para ultrapassá-lo na curva e procurar outro carro para repetir o processo, várias vezes, até ganhar.
O que há de comum entre os vários modos de jogo é que você é colocado quase em uma linha paralela dos seus competidores ou dos outros carros na pista (no modo Arcade, só um dos carros é seu competidor a cada pista; os outros são só carros que estão casualmente ali infernizando sua vida. Inclusive, pau no cu do sedan marrom). Você tem em suas mãos as ferramentas para ganhar velocidade e mantê-la, sendo constantemente desafiado por curvas fechadas, curvas longas, curvas fechadas e longas e — principalmente — outros carros. Mas esses carros, mesmo que sejam seus competidores, normalmente se apresentam como obstáculos que estão tentando ser mais rápidos que você, não exatamente te manter atrás deles. Então eles nunca vão te fechar de propósito, procurar uma rota por dentro de uma curva, esperar você errar pra te aplicar um X.
De modo que as corridas são, em Slipstream, muito mais sobre a sua capacidade de acertar certos movimentos do que fazer os competidores errarem. Da mesma forma, uma vitória é mais uma vitória sua sobre o conjunto de mecânicas do que sobre os competidores. Por isso é bastante gostoso, bastante gratificante se colocar atrás de um carro por tempo suficiente para ativar o “modo” slipstream, que é uma explosão de aceleração derivada de você pegar carona na cauda de ar de outro carro, e depois ultrapassá-lo com a velocidade que ele mesmo te deu. É um movimento arriscado e, no mais das vezes e pelo menos no começo, você vai bater no carro à sua frente. Mas é disso que se trata.
Slipstream não é, então, um jogo de corrida acirrada, em que você dá e leva muitas ultrapassagens e está em contato direto com outros carros constantemente em disputa de posição. Esse tipo de corrida você atribuiria a Mario Kart, a Formula One Grand Prix, aos Need for Speed depois do Underground. Mesmo no seu modo Grand Prix, que tem corridas tradicionais com voltas e colocação, sua performance depende muito mais de como você lida com a pista e com os obstáculos (mesmo que eles sejam, eventualmente, outros carros) do que de como você lida com os outros competidores.
Correr contra o tempo para acumular pontuação e chegar ao final no modo Arcade ou contra outros carros para chegar ao primeiro lugar no modo Grand Prix, em não sendo experiências tão absolutamente diferentes assim, exacerbam uma característica curiosa: Slipstream é um jogo bastante solitário. Seus rivais do primeiro modo até falam com você, mas não se comportam de maneira relativa a você e, principalmente, te largam depois da corrida. Soa como uma coisa casual, meio promíscua até, sem rivalidades discerníveis entre carros ou personagens. Você usa os carros à sua frente, retardatários, competidores diretos ou só carros que parecem estar só viajando, para ganhar velocidade. E ganhar é um produto quase natural de uma execução bem feita de drifts, de não perder velocidade, de saber onde estar a cada momento para tirar o melhor da pista.
Então só sobra você com o carro de que você gosta, nas pistas de que você gosta. É nessa parte que a música pesa, os cenários pesam, os filtros de TV antiga pesam. Eles evocam jogos do passado e uma estética geral, mas essa só contribui para um espírito que já está lá mecanicamente. Por isso, seria errôneo configurar esse como um jogo retrô. O aspecto retrô, ao contrário, se coloca a serviço de outro sentimento geral além da nostalgia para quem conhece os jogos que influenciaram Slipstream. Existe um sentimento pervasivo muito forte de fortuidade solitária nas corridas, que tira um pouco do aspecto estritamente competitivo de Slipstream como jogo de corrida, mas reforça o aspecto estritamente pessoal de Slipstream como jogo de carrinho.
É uma abordagem que permite que você ganhe uma corrida após uma largada muito ruim ou perca uma corrida praticamente do nada, mesmo tendo liderado todo o percurso, se capotar nos segundos finais. Quando você abre Slipstream e é ensinado sobre as duas bases de sua fundação — drifting e slipstreaming —, tem uma dica de como o jogo vai se comportar. Mais do que a estética, mais do que a variedade de filtros de imagem disponíveis (pixel, NTSC, CRT), mais do que as inúmeras referências a Sonic e jogos de corrida antigos — o que define Slipstream é seguir um carro em uma reta para ultrapassá-lo na curva e procurar outro carro para repetir o processo, várias vezes, até ganhar.
O que há de comum entre os vários modos de jogo é que você é colocado quase em uma linha paralela dos seus competidores ou dos outros carros na pista (no modo Arcade, só um dos carros é seu competidor a cada pista; os outros são só carros que estão casualmente ali infernizando sua vida. Inclusive, pau no cu do sedan marrom). Você tem em suas mãos as ferramentas para ganhar velocidade e mantê-la, sendo constantemente desafiado por curvas fechadas, curvas longas, curvas fechadas e longas e — principalmente — outros carros. Mas esses carros, mesmo que sejam seus competidores, normalmente se apresentam como obstáculos que estão tentando ser mais rápidos que você, não exatamente te manter atrás deles. Então eles nunca vão te fechar de propósito, procurar uma rota por dentro de uma curva, esperar você errar pra te aplicar um X.
De modo que as corridas são, em Slipstream, muito mais sobre a sua capacidade de acertar certos movimentos do que fazer os competidores errarem. Da mesma forma, uma vitória é mais uma vitória sua sobre o conjunto de mecânicas do que sobre os competidores. Por isso é bastante gostoso, bastante gratificante se colocar atrás de um carro por tempo suficiente para ativar o “modo” slipstream, que é uma explosão de aceleração derivada de você pegar carona na cauda de ar de outro carro, e depois ultrapassá-lo com a velocidade que ele mesmo te deu. É um movimento arriscado e, no mais das vezes e pelo menos no começo, você vai bater no carro à sua frente. Mas é disso que se trata.
Slipstream não é, então, um jogo de corrida acirrada, em que você dá e leva muitas ultrapassagens e está em contato direto com outros carros constantemente em disputa de posição. Esse tipo de corrida você atribuiria a Mario Kart, a Formula One Grand Prix, aos Need for Speed depois do Underground. Mesmo no seu modo Grand Prix, que tem corridas tradicionais com voltas e colocação, sua performance depende muito mais de como você lida com a pista e com os obstáculos (mesmo que eles sejam, eventualmente, outros carros) do que de como você lida com os outros competidores.
Correr contra o tempo para acumular pontuação e chegar ao final no modo Arcade ou contra outros carros para chegar ao primeiro lugar no modo Grand Prix, em não sendo experiências tão absolutamente diferentes assim, exacerbam uma característica curiosa: Slipstream é um jogo bastante solitário. Seus rivais do primeiro modo até falam com você, mas não se comportam de maneira relativa a você e, principalmente, te largam depois da corrida. Soa como uma coisa casual, meio promíscua até, sem rivalidades discerníveis entre carros ou personagens. Você usa os carros à sua frente, retardatários, competidores diretos ou só carros que parecem estar só viajando, para ganhar velocidade. E ganhar é um produto quase natural de uma execução bem feita de drifts, de não perder velocidade, de saber onde estar a cada momento para tirar o melhor da pista.
Então só sobra você com o carro de que você gosta, nas pistas de que você gosta. É nessa parte que a música pesa, os cenários pesam, os filtros de TV antiga pesam. Eles evocam jogos do passado e uma estética geral, mas essa só contribui para um espírito que já está lá mecanicamente. Por isso, seria errôneo configurar esse como um jogo retrô. O aspecto retrô, ao contrário, se coloca a serviço de outro sentimento geral além da nostalgia para quem conhece os jogos que influenciaram Slipstream. Existe um sentimento pervasivo muito forte de fortuidade solitária nas corridas, que tira um pouco do aspecto estritamente competitivo de Slipstream como jogo de corrida, mas reforça o aspecto estritamente pessoal de Slipstream como jogo de carrinho.
1995
A história da linguagem dos videogames é uma constante descoberta e supressão de fantasmas. Nada ilustra isso melhor do que o mais inocente dos seres humanos junto da mais perversa das máquinas — uma criança jogando Chrono Trigger.
A introdução de Chrono Trigger mostra, em uma montagem, todas as eras pelas quais o jogo passa — o futuro distópico com réplicas que fazem montinho no seu amigo robô; o passado distante que mistura dinossauros e seres humanos; cidades no céu e aviões gigantes; castelos sombrios em que residem monstros horríveis. A introdução faz questão de não ser totalmente cosmética e também te mostra as mecânicas de batalha tais quais elas aparecem no jogo: você seleciona poderes incríveis em um menu para causar dano nesses monstros horríveis, monstros tão variados quanto as eras. Dragões de sucata, esqueletos de três metros de altura, uma horda de morcegos e demônios da noite em geral. O dano que você causará neles está expresso em números até os quais essa criança nem saberia contar! Certamente é uma introdução que diz ao jogadorzinho o que esperar.
Você não imaginaria, depois de uma introdução assim, que o jogo começa com sua mãe te acordando para ir a um festival. A primeira parte de Chrono Trigger é tão singela, especialmente em comparação com o que o jogo te disse que vai acontecer no futuro, que sua interação com o mundo à sua volta pode começar apática, um pouco atônita até. Você sai de casa e é apresentado ao Millenial Fair, um festival comemorando mil anos desde que a nação de Guardia foi fundada. Muitas atrações estão ao seu alcance — apostar em uma corrida, testes de força, desafio de quem bebe mais e até mesmo lutar contra um robô cantor chamado Gato. Como a criança provavelmente não tem ideia de como um festival vai levar a castelos com estátuas de dragões, ela começa a explorar o lugar e, nem tão lentamente assim, a apatia dá lugar ao entusiasmo.
Millenial Fair é um lugar divertido! A ideia de fazer várias atividades dentro da grande brincadeira que esse jogo mostrou ser vai te levar a, quem sabe, devolver o gatinho perdido de uma menina e roubar um frango de um velho. O velho não abriu uma batalha com você. Então tá tudo certo. Você viu como o jogo é pra ser e você só morre em batalha, então se o velho não entrou em uma batalha com você para te causar dano em números, é porque isso ainda não é reeeeealmente o jogo.
Em determinado momento, você esbarra em uma garota. Desse encontrão, surge um ponto brilhante no chão, que você descobre ser o pingente da moça ao ir atrás dele. Será que não dá pra vender esse pingente pro senhorzinho que vende equipamentos e os recompra pela metade do preço? Marle, a menina do encontrão, se mostra uma pessoa muito simpática que se torna sua amiga e te acompanha em aventuras quando o jogo realmente começa (não sem antes comprar doce no festival, claro). E aí, sim: você vai para o passado por acidente resolver um paradoxo do avô através de lutas com inimigos, interface, ataques especiais e números. Você descobre que a moça simpática é, na verdade, princesa do reino em que você vive. Então isso é legal. Cinderela ao contrário e tudo o mais.
Ocorre que, ao voltar para o presente, você tem a prisão preventiva decretada contra você por raptar a princesa e é levado a julgamento. Por mais que você diga que não está interessado na fortuna da princesa, o promotor vai chamar certas testemunhas para falar sobre seu caráter.
E essa parte te atinge de onde você não poderia nem imaginar que viria o golpe.
O velhinho de quem você roubou o frango? Testemunha contra você. O vendedor pra quem você tentou vender o pingente da Marle? Testemunha contra você. Foi até o ponto brilhante logo depois de esbarrar na Marle, antes de ver se estava tudo bem com ela? Vão testemunhar contra você. Foi fazer qualquer outra coisa enquanto Marle comprava doce? Vão testemunhar contra você.
E você vai ser preso. Mas, muito mais importante, você já foi traído. Não por qualquer elemento dentro do jogo, afinal, a culpa foi sua. Você foi traído pelo jogo como um todo.
Porque esses pequenos comportamentos sem consequência direta — e sem consequência dentro das regras que você entendeu que devia esperar do jogo — não foram escolhas morais. Você diz pra si mesmo que não é uma pessoa ruim por ter feito isso tudo. Você só estava brincando, não é? Você não achava que esses pequenos comportamentos faziam, também, parte do jogo.
Você não poderia imaginar que o jogo estava te observando o tempo todo. Que o jogo sabia. Que o jogo te julga, que o jogo está não só na sua frente, mas também atrás de você, olhando por cima do seu ombro.
Quando você, de uma hora para outra, perde a noção do que faz parte do jogo e o que não faz, você foi vítima do Fantasma de Millenial Fair.
Em um piscar de olhos, você não sabe mais quando o jogo está te observando, fazendo contagens do que você faz e o que exatamente entra nessas contagens. Para todos os efeitos, todas as suas ações daí em diante serão escolhas morais, pois pode existir, como pode não existir, uma entidade dentro do jogo que sabe o que você está fazendo. E, para todos os efeitos, ela está.
Olhando com cuidado, o que Chrono Trigger faz não é uma maravilha da tecnologia. Os limites do Super Nintendo não foram forçados e retorcidos para fazer o jogo se lembrar de pequenas ações e atribuir consequência a elas em um evento posterior. Mas a expansão repentina da percepção da criança sobre o que são escolhas dentro do jogo faz essa tática parecer uma subversão completa da estrutura do jogo. Mais que completa, é uma subversão maldosa e injusta. Isso tava contando? Como eu ia saber?
Isso acontece porque, para jogarmos, precisamos entender os limites do jogo. Esses limites são simples e objetivos. Se você der dois passos para fora, está fora. Se der dois passos para dentro, está dentro. Se você está brincando de esconde-esconde na rua e sua mãe te chamar para almoçar, você pode sair do esconderijo sem ser eliminado porque obedecer à sua mãe está fora do jogo. “Não está mais valendo” pra você. Isso é óbvio.
Mas o Fantasma existe no limite desses limites, na ambiguidade que se instaura quando você está brincando de esconde-esconde com a sua mãe e ela te chama para almoçar na esperança de se aproveitar da sua obediência a ela para ganhar o jogo, portanto de algo fora do jogo com algum efeito dentro dele — o que, efetivamente, faz todas as partes questionarem quais são os novos limites desse jogo.
Em um videogame, temos um conjunto de estruturas que dão suporte ao jogo para que ele exista, mas que, obviamente e por isso mesmo, não podem fazer parte do jogo. Estamos falando da existência física de uma mídia; de uma interface que te permita compreender o jogo e interagir com ele, podendo prever o que você pode fazer e que consequências você vai ter; de convenções que separam as áreas de um jogo em fases ou mapas; de sistemas que facilitem sua relação com o jogo, salvando seu progresso ou te dando tutoriais. Brincadeiras normais, de crianças que não enxergam fantasmas, têm como suporte o mundo real, com o que é muito difícil brincar — o pique, no pega-pega, é um poste e não pode de repente se voltar contra os jogadores, virando o pega.
Chrono Trigger é capaz de brincar com seu suporte. Ele te apresenta sua interface, seus números, mesmo sua história e te diz que o que está em jogo é sua capacidade. Ele vai te julgar através da frieza do Game Over caso a vida dos seus personagens chegue a zero, através do dinheiro que você simplesmente não tem para comprar um equipamento, através dos mecanismos que ele te apresentou. Esses mecanismos são mostrados como fins em si mesmos — o modo de usá-los nunca está em jogo. Seu caráter não parece ser questionado, mesmo porque você está controlando o herói da história. Quando, portanto, Chrono Trigger te coloca sob os olhos do Fantasma de Millenial Fair, ele te diz que o suporte do jogo faz parte do jogo. Você nunca estará a salvo.
Mas esse Fantasma é facilmente suprimível. Você pode recomeçar o jogo e, de propósito, ser o maior santo que Guardia já viu. Pode se comportar como um bom menino e perguntar à Marle se ela está bem antes de ir ver o pingente, já sabendo que é um pingente. Pode ativamente não roubar a comida do velhinho, pode salvar o gatinho da menina. Pode até não participar do jogo da bebida, porque beber é coisa de gente ruim. Ao fazer isso, você chegará ao julgamento e será inocentado — o jogo realmente reconhece seu comportamento exemplar! Mas você será preso de novo. Aí, no esquema geral das coisas, você vai entender que o julgamento é parte da história, do andamento do jogo como um todo. Ser preso é um jeitinho para que essa história continue e, ainda que o Fantasma conceda que você é capaz de agir segundo suas regras nebulosas, ele não pode conceder que isso estrague o resto do jogo. Você passa a ver quais ações geram quais consequências e volta a ver as engrenagens por trás da névoa.
Atrás do horizonte de dúvidas sobre onde começa e onde termina o sistema de um jogo, sempre haverá variáveis e condicionais. Em 2017, Chrono Trigger talvez trucaria você nesse momento, reconhecendo que você já foi preso uma vez e está tentando trapacear jogando de novo. Mas, por trás dessa aposta dobrada, dessa impressão reforçada de autoconsciência, ainda haveria um limite concreto, atrás do qual uma criança poderia ver que um jogo é um jogo. No fim das contas, o Fantasma de Millenial Fair não existe no jogo, mas no jogador. Quem reconhece uma resposta a algo inesperado e perde o chão é a criança, por ela mesma.
Mesmo assim, não é apenas um truque que confia mais na miopia de quem vê do que na ilusão de ótica propriamente dita. É uma técnica, mesmo, uma estratégia de narrativa que coloca o jogo como agente e objeto de uma história sendo contada não em exposição, mas em diálogo com o jogador; é uma estratégia de jogabilidade que coloca o jogo como entidade ativa, um passo à frente do jogador. Em oposição à ideia de que escolhas importam, o Fantasma de Millenial Fair é a materialização da ideia de que comportamentos importam. Escolher se torna, também, uma escolha.
Ao longo dos anos, temos visto a evolução dessa estratégia, outras aparições do Fantasma. Em Mystic Messenger, você conversa com personagens através de um aplicativo de mensagem instantânea que funciona em tempo real, quer dizer, você pode receber (como pode não receber) mensagens a qualquer momento. O jogo não precisa de uma razão para te mandar uma mensagem, mas certamente algumas mensagens são consequência de ações suas, ou ainda de comportamentos seus: tão importante para o sistema quanto o conteúdo de suas respostas é o fato de que você respondeu em primeiro lugar. Como o jogo borra já de início o limite temporal de quando você está e quando não está jogando, para todos os efeitos você está sempre jogando.
Em Steins;Gate, você interage com o sistema do jogo através de um celular, a partir do qual você pode responder mensagens de outros personagens, atender chamadas e viajar no tempo. Duas dessas funcionalidades podem acontecer a qualquer momento e, vez por outra, alguns personagens vão reagir ao fato de que você atendeu ao telefone enquanto conversava com eles. É importante notar que, de maneira geral, não existe uma ligação mecânica, de jogabilidade, entre o ato de atender o telefone e estar em uma cena em que outra pessoa está presente. São dois mecanismos independentes que, até onde você sabe, geram escolhas e consequências separadamente. A interação inesperada entre os dois paradigmas não tem absolutamente efeito algum sobre nenhum sistema do jogo, quer dizer, só traz a resposta imediata e negativa do personagem que você ofendeu. Porém, perceber que o ato de atender o telefone é uma escolha faz com que, de repente, usar a mecânica principal do jogo, isto é, o ato simples de jogar se torne uma escolha moral que afeta personagens à sua volta — não como instrumentos de uma história, mas como pessoas.
Não é trivial que esses dois exemplos usem telefones. A ideia de que determinado evento pode acontecer a qualquer momento e sem uma causa fixa que você pode recapitular imediatamente, mas que com certeza é resultado de como você jogou até aquele momento, é muito facilmente materializável na falta de ação natural de quem espera um telefonema. A ideia de que uma consequência não depende só de uma atitude sua, mas também de uma consciência que a processa e avalia, coloca o jogador à mercê do jogo e constrói a ilusão de que existe um coração dentro do sistema.
O Fantasma de Millenial Fair tem o poder muito particular, então, de fazer parecer autoconsciente e orgânico um espaço de escolhas em que, normalmente, você se sentiria capaz de prever causa e consequência. Kojima adestrou o Fantasma, mas não em Metal Gear Solid, quando expandiu os limites da estrutura do jogo ao te obrigar a jogar com o controle do Player 2 para derrotar um vilão. Na verdade, a série Metal Gear Solid está repleta de vislumbres da expansão repentina da percepção do que faz parte do sistema de um jogo, mas de maneira geral esses vislumbres não borram a linha temporal ou moral do que é estar jogando. Kojima adestrou o Fantasma em P.T. quando em determinado momento escondeu um pedaço de um quebra-cabeça em um menu.
P.T. é um jogo de terror e, em jogos de terror, o menu é o pique. Você pode pausar para respirar a qualquer momento e, efetivamente, sair do jogo: o menu, lembramos, é suporte do jogo e, portanto, enquanto você tiver ele aberto você não está à mercê do jogo. Ao esconder uma peça de quebra-cabeça no menu, Kojima retirou essa salvaguarda, incorporando-a ao jogo. Se o menu agora faz parte do jogo, onde você está a salvo? Perceba que não há nada demais nesse ato. Nem mesmo causa medo, mas é um ataque à sua percepção. Assim como tinha uma peça ali antes, da próxima vez que você abrir o enigma pode ter ali um fantasma.
É uma evolução natural de linguagem, de questionamento dos limites físicos e mentais da experiência de um jogo. É um xadrez infinito entre jogos e jogadores — mas jogos foram feitos para perder de jogadores, no fim das contas. É, no fim das contas, sempre uma aposta — uma parte boa do medo causado por filmes como O Chamado estão na coincidência de o telefone da sua casa tocar logo depois de você assistir ao filme, mas não existe garantia alguma de que isso vai acontecer. O Fantasma de Millenial Fair depende, para nascer, do entusiasmo de uma criança: o jogador apático jamais se daria conta dele, seja por não ter interesse suficiente em explorar o festival ou por não se importar em ter seu caráter questionado.
Para cada novo suporte e nova convenção, haverá alguém que os incorpore ao jogo em si. A história da linguagem dos videogames nasceu quando a primeira criança se deslumbrou com o primeiro jogo, pensando consigo mesma, “é isso que um jogo pode fazer!”. O Fantasma se tornou inevitável a partir de então, assumiu novas formas e novas faces. É natural que a história da linguagem dos videogames acabe, portanto, quando o último deles for suprimido, deixando aparecer suas engrenagens por trás da névoa.
A introdução de Chrono Trigger mostra, em uma montagem, todas as eras pelas quais o jogo passa — o futuro distópico com réplicas que fazem montinho no seu amigo robô; o passado distante que mistura dinossauros e seres humanos; cidades no céu e aviões gigantes; castelos sombrios em que residem monstros horríveis. A introdução faz questão de não ser totalmente cosmética e também te mostra as mecânicas de batalha tais quais elas aparecem no jogo: você seleciona poderes incríveis em um menu para causar dano nesses monstros horríveis, monstros tão variados quanto as eras. Dragões de sucata, esqueletos de três metros de altura, uma horda de morcegos e demônios da noite em geral. O dano que você causará neles está expresso em números até os quais essa criança nem saberia contar! Certamente é uma introdução que diz ao jogadorzinho o que esperar.
Você não imaginaria, depois de uma introdução assim, que o jogo começa com sua mãe te acordando para ir a um festival. A primeira parte de Chrono Trigger é tão singela, especialmente em comparação com o que o jogo te disse que vai acontecer no futuro, que sua interação com o mundo à sua volta pode começar apática, um pouco atônita até. Você sai de casa e é apresentado ao Millenial Fair, um festival comemorando mil anos desde que a nação de Guardia foi fundada. Muitas atrações estão ao seu alcance — apostar em uma corrida, testes de força, desafio de quem bebe mais e até mesmo lutar contra um robô cantor chamado Gato. Como a criança provavelmente não tem ideia de como um festival vai levar a castelos com estátuas de dragões, ela começa a explorar o lugar e, nem tão lentamente assim, a apatia dá lugar ao entusiasmo.
Millenial Fair é um lugar divertido! A ideia de fazer várias atividades dentro da grande brincadeira que esse jogo mostrou ser vai te levar a, quem sabe, devolver o gatinho perdido de uma menina e roubar um frango de um velho. O velho não abriu uma batalha com você. Então tá tudo certo. Você viu como o jogo é pra ser e você só morre em batalha, então se o velho não entrou em uma batalha com você para te causar dano em números, é porque isso ainda não é reeeeealmente o jogo.
Em determinado momento, você esbarra em uma garota. Desse encontrão, surge um ponto brilhante no chão, que você descobre ser o pingente da moça ao ir atrás dele. Será que não dá pra vender esse pingente pro senhorzinho que vende equipamentos e os recompra pela metade do preço? Marle, a menina do encontrão, se mostra uma pessoa muito simpática que se torna sua amiga e te acompanha em aventuras quando o jogo realmente começa (não sem antes comprar doce no festival, claro). E aí, sim: você vai para o passado por acidente resolver um paradoxo do avô através de lutas com inimigos, interface, ataques especiais e números. Você descobre que a moça simpática é, na verdade, princesa do reino em que você vive. Então isso é legal. Cinderela ao contrário e tudo o mais.
Ocorre que, ao voltar para o presente, você tem a prisão preventiva decretada contra você por raptar a princesa e é levado a julgamento. Por mais que você diga que não está interessado na fortuna da princesa, o promotor vai chamar certas testemunhas para falar sobre seu caráter.
E essa parte te atinge de onde você não poderia nem imaginar que viria o golpe.
O velhinho de quem você roubou o frango? Testemunha contra você. O vendedor pra quem você tentou vender o pingente da Marle? Testemunha contra você. Foi até o ponto brilhante logo depois de esbarrar na Marle, antes de ver se estava tudo bem com ela? Vão testemunhar contra você. Foi fazer qualquer outra coisa enquanto Marle comprava doce? Vão testemunhar contra você.
E você vai ser preso. Mas, muito mais importante, você já foi traído. Não por qualquer elemento dentro do jogo, afinal, a culpa foi sua. Você foi traído pelo jogo como um todo.
Porque esses pequenos comportamentos sem consequência direta — e sem consequência dentro das regras que você entendeu que devia esperar do jogo — não foram escolhas morais. Você diz pra si mesmo que não é uma pessoa ruim por ter feito isso tudo. Você só estava brincando, não é? Você não achava que esses pequenos comportamentos faziam, também, parte do jogo.
Você não poderia imaginar que o jogo estava te observando o tempo todo. Que o jogo sabia. Que o jogo te julga, que o jogo está não só na sua frente, mas também atrás de você, olhando por cima do seu ombro.
Quando você, de uma hora para outra, perde a noção do que faz parte do jogo e o que não faz, você foi vítima do Fantasma de Millenial Fair.
Em um piscar de olhos, você não sabe mais quando o jogo está te observando, fazendo contagens do que você faz e o que exatamente entra nessas contagens. Para todos os efeitos, todas as suas ações daí em diante serão escolhas morais, pois pode existir, como pode não existir, uma entidade dentro do jogo que sabe o que você está fazendo. E, para todos os efeitos, ela está.
Olhando com cuidado, o que Chrono Trigger faz não é uma maravilha da tecnologia. Os limites do Super Nintendo não foram forçados e retorcidos para fazer o jogo se lembrar de pequenas ações e atribuir consequência a elas em um evento posterior. Mas a expansão repentina da percepção da criança sobre o que são escolhas dentro do jogo faz essa tática parecer uma subversão completa da estrutura do jogo. Mais que completa, é uma subversão maldosa e injusta. Isso tava contando? Como eu ia saber?
Isso acontece porque, para jogarmos, precisamos entender os limites do jogo. Esses limites são simples e objetivos. Se você der dois passos para fora, está fora. Se der dois passos para dentro, está dentro. Se você está brincando de esconde-esconde na rua e sua mãe te chamar para almoçar, você pode sair do esconderijo sem ser eliminado porque obedecer à sua mãe está fora do jogo. “Não está mais valendo” pra você. Isso é óbvio.
Mas o Fantasma existe no limite desses limites, na ambiguidade que se instaura quando você está brincando de esconde-esconde com a sua mãe e ela te chama para almoçar na esperança de se aproveitar da sua obediência a ela para ganhar o jogo, portanto de algo fora do jogo com algum efeito dentro dele — o que, efetivamente, faz todas as partes questionarem quais são os novos limites desse jogo.
Em um videogame, temos um conjunto de estruturas que dão suporte ao jogo para que ele exista, mas que, obviamente e por isso mesmo, não podem fazer parte do jogo. Estamos falando da existência física de uma mídia; de uma interface que te permita compreender o jogo e interagir com ele, podendo prever o que você pode fazer e que consequências você vai ter; de convenções que separam as áreas de um jogo em fases ou mapas; de sistemas que facilitem sua relação com o jogo, salvando seu progresso ou te dando tutoriais. Brincadeiras normais, de crianças que não enxergam fantasmas, têm como suporte o mundo real, com o que é muito difícil brincar — o pique, no pega-pega, é um poste e não pode de repente se voltar contra os jogadores, virando o pega.
Chrono Trigger é capaz de brincar com seu suporte. Ele te apresenta sua interface, seus números, mesmo sua história e te diz que o que está em jogo é sua capacidade. Ele vai te julgar através da frieza do Game Over caso a vida dos seus personagens chegue a zero, através do dinheiro que você simplesmente não tem para comprar um equipamento, através dos mecanismos que ele te apresentou. Esses mecanismos são mostrados como fins em si mesmos — o modo de usá-los nunca está em jogo. Seu caráter não parece ser questionado, mesmo porque você está controlando o herói da história. Quando, portanto, Chrono Trigger te coloca sob os olhos do Fantasma de Millenial Fair, ele te diz que o suporte do jogo faz parte do jogo. Você nunca estará a salvo.
Mas esse Fantasma é facilmente suprimível. Você pode recomeçar o jogo e, de propósito, ser o maior santo que Guardia já viu. Pode se comportar como um bom menino e perguntar à Marle se ela está bem antes de ir ver o pingente, já sabendo que é um pingente. Pode ativamente não roubar a comida do velhinho, pode salvar o gatinho da menina. Pode até não participar do jogo da bebida, porque beber é coisa de gente ruim. Ao fazer isso, você chegará ao julgamento e será inocentado — o jogo realmente reconhece seu comportamento exemplar! Mas você será preso de novo. Aí, no esquema geral das coisas, você vai entender que o julgamento é parte da história, do andamento do jogo como um todo. Ser preso é um jeitinho para que essa história continue e, ainda que o Fantasma conceda que você é capaz de agir segundo suas regras nebulosas, ele não pode conceder que isso estrague o resto do jogo. Você passa a ver quais ações geram quais consequências e volta a ver as engrenagens por trás da névoa.
Atrás do horizonte de dúvidas sobre onde começa e onde termina o sistema de um jogo, sempre haverá variáveis e condicionais. Em 2017, Chrono Trigger talvez trucaria você nesse momento, reconhecendo que você já foi preso uma vez e está tentando trapacear jogando de novo. Mas, por trás dessa aposta dobrada, dessa impressão reforçada de autoconsciência, ainda haveria um limite concreto, atrás do qual uma criança poderia ver que um jogo é um jogo. No fim das contas, o Fantasma de Millenial Fair não existe no jogo, mas no jogador. Quem reconhece uma resposta a algo inesperado e perde o chão é a criança, por ela mesma.
Mesmo assim, não é apenas um truque que confia mais na miopia de quem vê do que na ilusão de ótica propriamente dita. É uma técnica, mesmo, uma estratégia de narrativa que coloca o jogo como agente e objeto de uma história sendo contada não em exposição, mas em diálogo com o jogador; é uma estratégia de jogabilidade que coloca o jogo como entidade ativa, um passo à frente do jogador. Em oposição à ideia de que escolhas importam, o Fantasma de Millenial Fair é a materialização da ideia de que comportamentos importam. Escolher se torna, também, uma escolha.
Ao longo dos anos, temos visto a evolução dessa estratégia, outras aparições do Fantasma. Em Mystic Messenger, você conversa com personagens através de um aplicativo de mensagem instantânea que funciona em tempo real, quer dizer, você pode receber (como pode não receber) mensagens a qualquer momento. O jogo não precisa de uma razão para te mandar uma mensagem, mas certamente algumas mensagens são consequência de ações suas, ou ainda de comportamentos seus: tão importante para o sistema quanto o conteúdo de suas respostas é o fato de que você respondeu em primeiro lugar. Como o jogo borra já de início o limite temporal de quando você está e quando não está jogando, para todos os efeitos você está sempre jogando.
Em Steins;Gate, você interage com o sistema do jogo através de um celular, a partir do qual você pode responder mensagens de outros personagens, atender chamadas e viajar no tempo. Duas dessas funcionalidades podem acontecer a qualquer momento e, vez por outra, alguns personagens vão reagir ao fato de que você atendeu ao telefone enquanto conversava com eles. É importante notar que, de maneira geral, não existe uma ligação mecânica, de jogabilidade, entre o ato de atender o telefone e estar em uma cena em que outra pessoa está presente. São dois mecanismos independentes que, até onde você sabe, geram escolhas e consequências separadamente. A interação inesperada entre os dois paradigmas não tem absolutamente efeito algum sobre nenhum sistema do jogo, quer dizer, só traz a resposta imediata e negativa do personagem que você ofendeu. Porém, perceber que o ato de atender o telefone é uma escolha faz com que, de repente, usar a mecânica principal do jogo, isto é, o ato simples de jogar se torne uma escolha moral que afeta personagens à sua volta — não como instrumentos de uma história, mas como pessoas.
Não é trivial que esses dois exemplos usem telefones. A ideia de que determinado evento pode acontecer a qualquer momento e sem uma causa fixa que você pode recapitular imediatamente, mas que com certeza é resultado de como você jogou até aquele momento, é muito facilmente materializável na falta de ação natural de quem espera um telefonema. A ideia de que uma consequência não depende só de uma atitude sua, mas também de uma consciência que a processa e avalia, coloca o jogador à mercê do jogo e constrói a ilusão de que existe um coração dentro do sistema.
O Fantasma de Millenial Fair tem o poder muito particular, então, de fazer parecer autoconsciente e orgânico um espaço de escolhas em que, normalmente, você se sentiria capaz de prever causa e consequência. Kojima adestrou o Fantasma, mas não em Metal Gear Solid, quando expandiu os limites da estrutura do jogo ao te obrigar a jogar com o controle do Player 2 para derrotar um vilão. Na verdade, a série Metal Gear Solid está repleta de vislumbres da expansão repentina da percepção do que faz parte do sistema de um jogo, mas de maneira geral esses vislumbres não borram a linha temporal ou moral do que é estar jogando. Kojima adestrou o Fantasma em P.T. quando em determinado momento escondeu um pedaço de um quebra-cabeça em um menu.
P.T. é um jogo de terror e, em jogos de terror, o menu é o pique. Você pode pausar para respirar a qualquer momento e, efetivamente, sair do jogo: o menu, lembramos, é suporte do jogo e, portanto, enquanto você tiver ele aberto você não está à mercê do jogo. Ao esconder uma peça de quebra-cabeça no menu, Kojima retirou essa salvaguarda, incorporando-a ao jogo. Se o menu agora faz parte do jogo, onde você está a salvo? Perceba que não há nada demais nesse ato. Nem mesmo causa medo, mas é um ataque à sua percepção. Assim como tinha uma peça ali antes, da próxima vez que você abrir o enigma pode ter ali um fantasma.
É uma evolução natural de linguagem, de questionamento dos limites físicos e mentais da experiência de um jogo. É um xadrez infinito entre jogos e jogadores — mas jogos foram feitos para perder de jogadores, no fim das contas. É, no fim das contas, sempre uma aposta — uma parte boa do medo causado por filmes como O Chamado estão na coincidência de o telefone da sua casa tocar logo depois de você assistir ao filme, mas não existe garantia alguma de que isso vai acontecer. O Fantasma de Millenial Fair depende, para nascer, do entusiasmo de uma criança: o jogador apático jamais se daria conta dele, seja por não ter interesse suficiente em explorar o festival ou por não se importar em ter seu caráter questionado.
Para cada novo suporte e nova convenção, haverá alguém que os incorpore ao jogo em si. A história da linguagem dos videogames nasceu quando a primeira criança se deslumbrou com o primeiro jogo, pensando consigo mesma, “é isso que um jogo pode fazer!”. O Fantasma se tornou inevitável a partir de então, assumiu novas formas e novas faces. É natural que a história da linguagem dos videogames acabe, portanto, quando o último deles for suprimido, deixando aparecer suas engrenagens por trás da névoa.