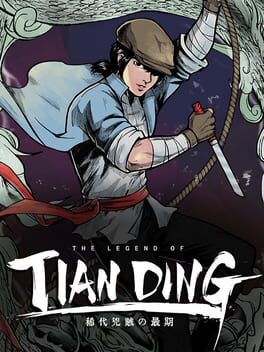ViictorGois
2011
Ainda que isso não agrade todo mundo (o que é completamente entendível) faz todo o sentido Sonic Generations ser do jeito que ele é: Um dos, se não o Sonic mais seguro de todos, que se dedica por inteiro em homenagear a franquia e se auto referenciar. É um jogo de aniversário de 20 anos. É uma boa retrospectiva.
Dropei algumas vezes antes de finalizar de fato e todas essas vezes que eu o largava era sempre com a sensação de “vou aproveitar esse jogo em outro momento”. Deduzo que a razão de não ter me resgatado a princípio foi pela minha mania de querer pegar os extras das fases e completar os desafios. Isso somado ao hub sem graça e por vezes confuso ao buscar as chaves para os bosses. Eu só não me sentia tão confortável no abraço que esse jogo tenta me dar.
A conclusão que tiro é que isso só prova um ponto que venho observando a um tempo: Eu sempre tenho um melhor proveito de Sonic quando jogo de uma forma (literalmente) corrida. Focando no conteúdo principal e apenas isso.
Somente assim passei por toda essa homenagem ambulante me divertindo bastante, especialmente nas fases 3Ds que foram as minhas favoritas. As fases, as músicas, os personagens… Tudo já vimos e ouvimos antes, e Generations sabe do que gostamos e encapsula estas referências nesta experiência que é bem curtinha.
É uma pena que algumas questões como a má otimização que enfrentei jogando no PC me impediu de gostar mais da obra.
Dropei algumas vezes antes de finalizar de fato e todas essas vezes que eu o largava era sempre com a sensação de “vou aproveitar esse jogo em outro momento”. Deduzo que a razão de não ter me resgatado a princípio foi pela minha mania de querer pegar os extras das fases e completar os desafios. Isso somado ao hub sem graça e por vezes confuso ao buscar as chaves para os bosses. Eu só não me sentia tão confortável no abraço que esse jogo tenta me dar.
A conclusão que tiro é que isso só prova um ponto que venho observando a um tempo: Eu sempre tenho um melhor proveito de Sonic quando jogo de uma forma (literalmente) corrida. Focando no conteúdo principal e apenas isso.
Somente assim passei por toda essa homenagem ambulante me divertindo bastante, especialmente nas fases 3Ds que foram as minhas favoritas. As fases, as músicas, os personagens… Tudo já vimos e ouvimos antes, e Generations sabe do que gostamos e encapsula estas referências nesta experiência que é bem curtinha.
É uma pena que algumas questões como a má otimização que enfrentei jogando no PC me impediu de gostar mais da obra.
The Legend of Tianding nos entrelaça ao dinâmico combate e em seguida rouba nossa atenção para voltá-la à narrativa culturalmente instigante que não perde tempo em celebrar os feitos do herói popular taiwanês. Se por um lado a obra se deixa levar pela ação que fica progressivamente mais interessante com o desbloquear de novas técnicas, do outro ela pisa no freio de tal forma que só não te perde por se sustentar em sua história e ambientação.
Acrescento que achei agregador ter visitado Taiwan através desse jogo pois me entreteve não só durante a jogatina como também depois, quando me vi curioso o suficiente para procurar mais sobre Tianding e o que o cerca.
Escrevi um texto sobre o jogo no site Game Design Hub.
Acrescento que achei agregador ter visitado Taiwan através desse jogo pois me entreteve não só durante a jogatina como também depois, quando me vi curioso o suficiente para procurar mais sobre Tianding e o que o cerca.
Escrevi um texto sobre o jogo no site Game Design Hub.
2019
Após ter jogado Her Story é claro que eu viria com grandes expectativas para Telling Lies. Felizmente as minhas expectativas não passaram longe de serem atendidas e me vi aqui experienciando uma obra tão bem trabalhada quanto o jogo anterior de seu autor, com apenas alguns pequenos tropeços, mas que acredito não arruinarem a obra como um todo.
Seguindo a mesma lógica que Her Story, temos aqui um sistema que resgata vídeos de um banco de dados através de palavras chaves pesquisadas pelo próprio jogador. É através dele que vamos mergulhando mais e mais nos diversos vídeos que parecem ter sido tirados em sua maioria das webcams dos personagens, geralmente durante suas “calls”. Não consumimos esses clipes em ordem cronológica mas como já era de se esperar, além dessa maneira render boas teorias, também nos confere uma série de descobertas e indagações imprevisíveis e que clamam por mais contexto, principalmente se levarmos em consideração que, por serem clipes tirados de ligações, existem mais de um verso daquela conversa. Isso adiciona ao jogo uma dinâmica de caçar o outro lado daquele diálogo.
Telling Lies conta uma história maior em escopo e que aborda assuntos grandes em escala, e ao começar a entender a trama é impossível não enxergar as semelhanças com a nossa realidade, com o caso de Edward Snowden, o ex-contratado da NSA responsável de por volta de 2013 ter vazado informações sobre os vários programas de vigilância global usados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, só com essas informações, já dá para entender (sem muitos spoilers) os artifícios usados pelo enredo para o desenvolver de sua narrativa.
No fim, o único ponto que acho não ter casado tão bem assim foram as atuações de dois dos quatro personagens principais. De um lado temos Logan Marshall-Green que exagera em suas reações, com expressões faciais um tanto forçadas, e do outro temos a Angela Sarafyan que parece não entregar tanta vida e verdade em sua atuação, honestamente não sei até isso culpa dela ou da escrita. Em contrapartida vale mencionar o quão sensacional é a atuação das atrizes Alexandra Shipp e Kerry Bishé que brilham e cativam com as outras duas personagens de destaque.
Foi muito agradável acompanhar toda a trama e, ao seu fim, me vi ainda interessado ao ponto de voltar e procurar por mais algumas informações que pudessem saciar o meu eu investigador (ou fofoqueiro).
Seguindo a mesma lógica que Her Story, temos aqui um sistema que resgata vídeos de um banco de dados através de palavras chaves pesquisadas pelo próprio jogador. É através dele que vamos mergulhando mais e mais nos diversos vídeos que parecem ter sido tirados em sua maioria das webcams dos personagens, geralmente durante suas “calls”. Não consumimos esses clipes em ordem cronológica mas como já era de se esperar, além dessa maneira render boas teorias, também nos confere uma série de descobertas e indagações imprevisíveis e que clamam por mais contexto, principalmente se levarmos em consideração que, por serem clipes tirados de ligações, existem mais de um verso daquela conversa. Isso adiciona ao jogo uma dinâmica de caçar o outro lado daquele diálogo.
Telling Lies conta uma história maior em escopo e que aborda assuntos grandes em escala, e ao começar a entender a trama é impossível não enxergar as semelhanças com a nossa realidade, com o caso de Edward Snowden, o ex-contratado da NSA responsável de por volta de 2013 ter vazado informações sobre os vários programas de vigilância global usados pela Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, só com essas informações, já dá para entender (sem muitos spoilers) os artifícios usados pelo enredo para o desenvolver de sua narrativa.
No fim, o único ponto que acho não ter casado tão bem assim foram as atuações de dois dos quatro personagens principais. De um lado temos Logan Marshall-Green que exagera em suas reações, com expressões faciais um tanto forçadas, e do outro temos a Angela Sarafyan que parece não entregar tanta vida e verdade em sua atuação, honestamente não sei até isso culpa dela ou da escrita. Em contrapartida vale mencionar o quão sensacional é a atuação das atrizes Alexandra Shipp e Kerry Bishé que brilham e cativam com as outras duas personagens de destaque.
Foi muito agradável acompanhar toda a trama e, ao seu fim, me vi ainda interessado ao ponto de voltar e procurar por mais algumas informações que pudessem saciar o meu eu investigador (ou fofoqueiro).
2023
Hi Fi Rush foi uma grata surpresa para todos nós!
Adotando um lançamento completamente fora do comum sobretudo em meio a indústria do hype, Hi Fi Rush nos atinge de maneira inusitada, nos prende com seu excelente ritmo e nos cativa com toda sua personalidade.
Adorei acompanhar a história do jovem sonhador Chai, que faz de tudo para conquistar o seu sonho de se tornar um rockstar, mesmo inicialmente não estando nas melhores condições para tal. Afinal, seu braço aparenta estar machucado e portanto, a fim de consertá-lo, topa ser voluntário do projeto Armstrong que visa realizar a substituição cibernética dos membros do corpo.
No entanto, o que teoricamente era para ser a chance de Chai dedicar sua vida a ser uma estrela, acaba se tornando um pesadelo em razão do acidente que ocorre durante o processo. O dispositivo MP3 cai em seu peito enquanto as modificações estão sendo feitas e acaba se fixando ao corpo, se tornando parte dele, quase como um coração.
E como um defeito DEVE ser eliminado segundo os termos do projeto, toda a empresa se dedica em perseguir e acabar com Chai.
~
Hi Fi Rush é mais um exemplo que aproveitou algum gênero de videogame e juntou com o estilo dos jogos de ritmo, tal como ocorre com Metal Hellsinger e BPM: Bullet Per Minute, que são bons exemplos que trazem essa veia musical especificamente para o FPS. Mas diferente destes, aqui vemos a ação rítmica em formato de Hack ‘n’ Slash. Então como já é de se esperar, o foco são combates que incentivam agilidade, reflexo, a construção de combos e principalmente RITMO, que neste caso, é incorporado em TODOS os sentidos.
Tudo neste jogo é dotado de ritmo, seja dentro ou fora do gameplay. Isto é, presente tanto no ato de se movimentar, atacar, defender e concluir os trechos de quick time event, quanto no que cerca o jogador, como todo o cenário em volta cujo os elementos constituintes também seguem e respeitam o BPM (batidas por minuto).
O que destaca o jogo de outros exemplos que adotam essa mistura de gêneros é que ele não se basta só nas qualidades essenciais e já esperadas como funcionar responsivamente e entregar uma ótima seleção de músicas. Em Hi Fi Rush, não só temos trilhas originais e licenciadas em sinergia com a obra como também há acertos em tudo que ele se propõe a fazer.
O combate está longe de ser raso e o level design linear não abandona a exploração graças aos segredos que guardam coletáveis genuinamente úteis, por exemplo. Além disso, a narrativa adota um bom humor que em conjunto de personagens carismáticos se torna divertida de se acompanhar e adiciona à sua história uma leveza, mesmo quando escancara temas nada confortáveis como exploração no trabalho e abuso de megas corporações.
A direção artística também colabora com essa personalidade e leveza. O jogo tem uma identidade forte e uma beleza que só cresce com o quão fluido são as cutscenes e suas transições para momentos de gameplay. Fora a dublagem em PT BR, que foi a que optei para a minha experiência. Ouso dizer que uma das melhores que temos para o nosso idioma.
Hi-Fi Rush é uma obra que me parece ter sido lapidada com muito carinho, uma experiência que celebra o vídeo game com muita paixão direcionada à música. Não à toa o MP3 vai parar no peito de Chai, representa simbolicamente seu coração, essencial a sua vida. Quando enfim me imergi no jogo e “peguei o ritmo” (o que não demorou muito) me vi passando quase que naturalmente por cada batalha das fases, como se sentisse em mim cada batida.
~
Antes de sair da Tango Gameworks, Shinji Mikami fez questão de formar excelentes game designers experientes o suficiente para liderar seus próprios projetos e dar vida às suas ideias. Profissionais que oferecem um futuro promissor para a desenvolvedora, sobretudo agora com a chegada de Hi-Fi Rush, uma prova de que não vão se limitar somente ao terror e ao macabro como outrora acreditamos que fossem.
Ansioso para o futuro.
Adotando um lançamento completamente fora do comum sobretudo em meio a indústria do hype, Hi Fi Rush nos atinge de maneira inusitada, nos prende com seu excelente ritmo e nos cativa com toda sua personalidade.
Adorei acompanhar a história do jovem sonhador Chai, que faz de tudo para conquistar o seu sonho de se tornar um rockstar, mesmo inicialmente não estando nas melhores condições para tal. Afinal, seu braço aparenta estar machucado e portanto, a fim de consertá-lo, topa ser voluntário do projeto Armstrong que visa realizar a substituição cibernética dos membros do corpo.
No entanto, o que teoricamente era para ser a chance de Chai dedicar sua vida a ser uma estrela, acaba se tornando um pesadelo em razão do acidente que ocorre durante o processo. O dispositivo MP3 cai em seu peito enquanto as modificações estão sendo feitas e acaba se fixando ao corpo, se tornando parte dele, quase como um coração.
E como um defeito DEVE ser eliminado segundo os termos do projeto, toda a empresa se dedica em perseguir e acabar com Chai.
~
Hi Fi Rush é mais um exemplo que aproveitou algum gênero de videogame e juntou com o estilo dos jogos de ritmo, tal como ocorre com Metal Hellsinger e BPM: Bullet Per Minute, que são bons exemplos que trazem essa veia musical especificamente para o FPS. Mas diferente destes, aqui vemos a ação rítmica em formato de Hack ‘n’ Slash. Então como já é de se esperar, o foco são combates que incentivam agilidade, reflexo, a construção de combos e principalmente RITMO, que neste caso, é incorporado em TODOS os sentidos.
Tudo neste jogo é dotado de ritmo, seja dentro ou fora do gameplay. Isto é, presente tanto no ato de se movimentar, atacar, defender e concluir os trechos de quick time event, quanto no que cerca o jogador, como todo o cenário em volta cujo os elementos constituintes também seguem e respeitam o BPM (batidas por minuto).
O que destaca o jogo de outros exemplos que adotam essa mistura de gêneros é que ele não se basta só nas qualidades essenciais e já esperadas como funcionar responsivamente e entregar uma ótima seleção de músicas. Em Hi Fi Rush, não só temos trilhas originais e licenciadas em sinergia com a obra como também há acertos em tudo que ele se propõe a fazer.
O combate está longe de ser raso e o level design linear não abandona a exploração graças aos segredos que guardam coletáveis genuinamente úteis, por exemplo. Além disso, a narrativa adota um bom humor que em conjunto de personagens carismáticos se torna divertida de se acompanhar e adiciona à sua história uma leveza, mesmo quando escancara temas nada confortáveis como exploração no trabalho e abuso de megas corporações.
A direção artística também colabora com essa personalidade e leveza. O jogo tem uma identidade forte e uma beleza que só cresce com o quão fluido são as cutscenes e suas transições para momentos de gameplay. Fora a dublagem em PT BR, que foi a que optei para a minha experiência. Ouso dizer que uma das melhores que temos para o nosso idioma.
Hi-Fi Rush é uma obra que me parece ter sido lapidada com muito carinho, uma experiência que celebra o vídeo game com muita paixão direcionada à música. Não à toa o MP3 vai parar no peito de Chai, representa simbolicamente seu coração, essencial a sua vida. Quando enfim me imergi no jogo e “peguei o ritmo” (o que não demorou muito) me vi passando quase que naturalmente por cada batalha das fases, como se sentisse em mim cada batida.
~
Antes de sair da Tango Gameworks, Shinji Mikami fez questão de formar excelentes game designers experientes o suficiente para liderar seus próprios projetos e dar vida às suas ideias. Profissionais que oferecem um futuro promissor para a desenvolvedora, sobretudo agora com a chegada de Hi-Fi Rush, uma prova de que não vão se limitar somente ao terror e ao macabro como outrora acreditamos que fossem.
Ansioso para o futuro.
Somente agora após 6 anos de seu lançamento me dei a liberdade de experimentar o tão bem falado Breath of the Wild. A razão para essa minha demora a princípio se mostrava pela falta de acesso, mas mesmo depois de finalmente tê-lo disponível para jogar, me vi postergando a obra, adiando essa jornada que no fim, muito me agradou. A verdade é que a elogiadíssima imensidão e liberdade que esse novo rumo de Zelda trouxe para a franquia me deixava bastante apreensivo antes de jogar, sobretudo devido a incômoda sensação de estar perdendo conteúdo.
Mas felizmente essa sombra em formato de ansiedade deixou de existir logo no início, quando iluminada pelo exemplar “tutorial” nada intrusivo e que organicamente entrega uma palinha da experiência através da Great Plateau, a primeira região que exploramos e que funciona quase como uma miniatura de todo o mundo de Breath of the Wild, uma área diversa em bioma, clima, criaturas e coisas para se fazer. Em seus primeiros momentos o jogo tem a coragem de te entregar toda a base que você vai precisar para explorar o grande mapa da forma que quiser.
Não demorou nada para a minha apreensão deixar de existir e dar espaço para sensação de recompensa ao alcançar um lugar específico que eu quis explorar ou ao solucionar os problemas que me apareciam com ideias que tive após minhas próprias experimentações. É muito engajante esse poder de expressão que temos usando as ferramentas ao nosso favor, foi o que mais me empolgou durante o jogo.
Entendo as críticas voltadas aos Shrines, miniaturas de dungeons que te dão um puzzle em troca da orb usada para aumentar a vida ou estamina. É verdade que depois de um tempo elas soam bastante repetitivas, visualmente semelhantes, simples e pouco inspiradas, mas felizmente não é necessário fazer todas elas para tirar um bom proveito do jogo e a sensação que tenho é de que esse excesso de 120 servem mais para preencher o mapa a fim de não faltar para os jogadores do que para incentivar o colecionismo mesmo. Solucionei 65 delas e para mim, isso foi mais do que o suficiente.
Mas se por um lado eu saio em defesa das Shrines, do outro eu compro a briga de quem não gostou das Divine Beats, os monumentos gigantes que parecem existir em função de servir como as novas dungeons da franquia, mas que mais se parece com pequenas Shrines acopladas em uma só, sem a alma e coesão de uma dungeon tradicional de Zelda. É aqui que deixo o meu lado saudosista tomar conta e me impedir de dar 5 estrelas para essa obra.
Breath of the Wild é no fim uma clara resposta às críticas direcionadas ao The Legend of Zelda: Skyward Sword que apontavam para este citado como um jogo seguro e preso dentro da fórmula dos Zeldas 3D. Sem dúvidas aqui vemos uma interpretação diferente da franquia, um novo rumo, que para existir, precisou abrir mão de muitos arquétipos e isso é corajoso.
E o mais legal é que deu certo, este novo caminho se mostra promissor. Não vou mentir, me apeguei ao modelo que vem sendo desenvolvido desde de Ocarina of Time, mas valorizo e muito a existência de Breath of the Wild, principalmente levando em consideração sua importância e (por enquanto) positiva influência para indústria.
Mas felizmente essa sombra em formato de ansiedade deixou de existir logo no início, quando iluminada pelo exemplar “tutorial” nada intrusivo e que organicamente entrega uma palinha da experiência através da Great Plateau, a primeira região que exploramos e que funciona quase como uma miniatura de todo o mundo de Breath of the Wild, uma área diversa em bioma, clima, criaturas e coisas para se fazer. Em seus primeiros momentos o jogo tem a coragem de te entregar toda a base que você vai precisar para explorar o grande mapa da forma que quiser.
Não demorou nada para a minha apreensão deixar de existir e dar espaço para sensação de recompensa ao alcançar um lugar específico que eu quis explorar ou ao solucionar os problemas que me apareciam com ideias que tive após minhas próprias experimentações. É muito engajante esse poder de expressão que temos usando as ferramentas ao nosso favor, foi o que mais me empolgou durante o jogo.
Entendo as críticas voltadas aos Shrines, miniaturas de dungeons que te dão um puzzle em troca da orb usada para aumentar a vida ou estamina. É verdade que depois de um tempo elas soam bastante repetitivas, visualmente semelhantes, simples e pouco inspiradas, mas felizmente não é necessário fazer todas elas para tirar um bom proveito do jogo e a sensação que tenho é de que esse excesso de 120 servem mais para preencher o mapa a fim de não faltar para os jogadores do que para incentivar o colecionismo mesmo. Solucionei 65 delas e para mim, isso foi mais do que o suficiente.
Mas se por um lado eu saio em defesa das Shrines, do outro eu compro a briga de quem não gostou das Divine Beats, os monumentos gigantes que parecem existir em função de servir como as novas dungeons da franquia, mas que mais se parece com pequenas Shrines acopladas em uma só, sem a alma e coesão de uma dungeon tradicional de Zelda. É aqui que deixo o meu lado saudosista tomar conta e me impedir de dar 5 estrelas para essa obra.
Breath of the Wild é no fim uma clara resposta às críticas direcionadas ao The Legend of Zelda: Skyward Sword que apontavam para este citado como um jogo seguro e preso dentro da fórmula dos Zeldas 3D. Sem dúvidas aqui vemos uma interpretação diferente da franquia, um novo rumo, que para existir, precisou abrir mão de muitos arquétipos e isso é corajoso.
E o mais legal é que deu certo, este novo caminho se mostra promissor. Não vou mentir, me apeguei ao modelo que vem sendo desenvolvido desde de Ocarina of Time, mas valorizo e muito a existência de Breath of the Wild, principalmente levando em consideração sua importância e (por enquanto) positiva influência para indústria.