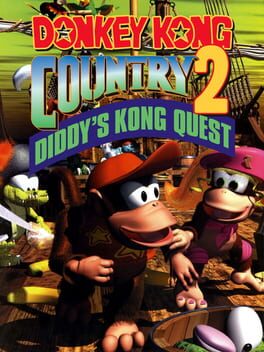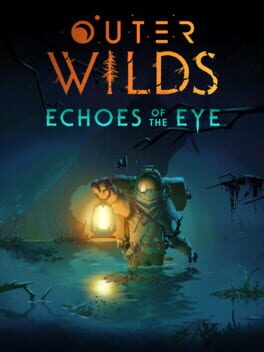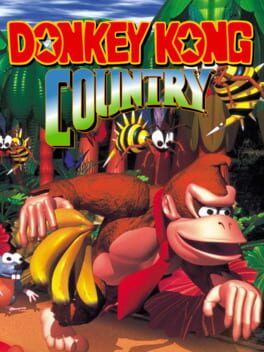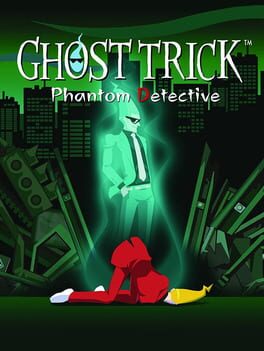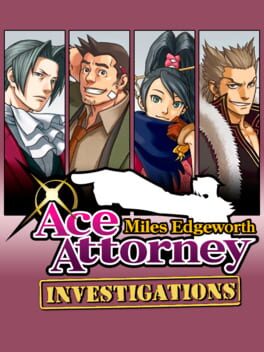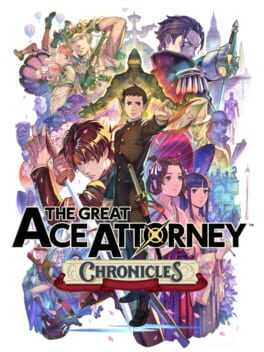ventoforteN
Essa é uma daquelas sequências que fazem seu predecessor parecer uma tech demo; uma simples planta da fulgência que seria demonstrada posteriormente. Donkey Kong Country é um produto do seu tempo e gerou muito da base para os jogos que o sucederam. Diddy Kong’s Quest, mesmo sendo lançado apenas um ano depois, é uma construção em cima dessa base e uma masterização de seu próprio conceito: um marco que continua no ápice do seu nicho mesmo após 28 anos.
A criatividade em torno das ideias que variam desde as montarias e habilidades aos inimigo e cenários é tão deslumbrante quanto a eficiência em sua utilização. Existe uma conexão inquebrável entre as escolhas artísticas e lúdicas, por exemplo: Cranky Kong, como o DK original, fornece dicas sobre segredos como se fosse um jogador que já masterizou tudo o que o jogo tem a oferecer, inclusive fazendo piadas autoconscientes que ignoram a quarta parede e que permanecem relevantes mesmo em 2023.
É um projeto feito por amantes de jogos, por fãs. E ver isso saindo de1995 é nada menos que um deleite; assim como é poder passar perrengues com a dificuldade intensa mas justa e intuitiva, e se perder nas dezenas de cenários à procura dos muitos segredos escondidos em Crocodile Isle. É uma experiência obrigatória para qualquer fã de side-scrollers, e uma que me envergonho de não ter dado uma chance para antes.
A criatividade em torno das ideias que variam desde as montarias e habilidades aos inimigo e cenários é tão deslumbrante quanto a eficiência em sua utilização. Existe uma conexão inquebrável entre as escolhas artísticas e lúdicas, por exemplo: Cranky Kong, como o DK original, fornece dicas sobre segredos como se fosse um jogador que já masterizou tudo o que o jogo tem a oferecer, inclusive fazendo piadas autoconscientes que ignoram a quarta parede e que permanecem relevantes mesmo em 2023.
É um projeto feito por amantes de jogos, por fãs. E ver isso saindo de1995 é nada menos que um deleite; assim como é poder passar perrengues com a dificuldade intensa mas justa e intuitiva, e se perder nas dezenas de cenários à procura dos muitos segredos escondidos em Crocodile Isle. É uma experiência obrigatória para qualquer fã de side-scrollers, e uma que me envergonho de não ter dado uma chance para antes.
Por que uma expansão? Outer Wilds, além de perfeito, é milimetrado; não há a mínima necessidade de expandir esse universo, e tentar é um risco muito grande que pode muito bem causar uma dissonância entre o conteúdo novo e a perfeição original.
Bom, mesmo sabendo disso, a Mobius Digital aceitou o desafio, e incrivelmente conseguiram entregar o que propuseram com finesse.
Echoes of the Eye é uma expansão, e não corre disso. Pelo contrário: em vez de tentar fazer parte do todo já meticulosamente construído, aceita seu propósito como um conteúdo à parte. Mesmo assim, consegue se encaixar neste universo, justificando sua existência e fornecendo algo diferente, mas aos moldes, do jogo que faz parte.
Bom, mesmo sabendo disso, a Mobius Digital aceitou o desafio, e incrivelmente conseguiram entregar o que propuseram com finesse.
Echoes of the Eye é uma expansão, e não corre disso. Pelo contrário: em vez de tentar fazer parte do todo já meticulosamente construído, aceita seu propósito como um conteúdo à parte. Mesmo assim, consegue se encaixar neste universo, justificando sua existência e fornecendo algo diferente, mas aos moldes, do jogo que faz parte.
1994
É fácil analisar um jogo antigo e anacronizá-lo. Um erro comum é julgar um jogo assim com base nos padrões atuais; isso gera uma lógica cíclica, na qual os pontos que fazem falta na verdade são uma evolução do que se iniciou aqui.
Comparado com seus contemporâneos, DKC é surreal. Um salto de gerações realizado em uma fração disso, consegue ser lindo, carismático, desafiador, profundo e criativo mesmo após três décadas.
Recomendo para qualquer um; é uma experiência obrigatória para fãs de platformers. Só se prepare para morrer. Para caralho.
Comparado com seus contemporâneos, DKC é surreal. Um salto de gerações realizado em uma fração disso, consegue ser lindo, carismático, desafiador, profundo e criativo mesmo após três décadas.
Recomendo para qualquer um; é uma experiência obrigatória para fãs de platformers. Só se prepare para morrer. Para caralho.
2019
Quem jogou e apreciou Outer Wilds sabe como é difícil comentar sobre o jogo. Como uma jornada que tem em seu centro a ideia da descoberta, quanto menos informações antes de inicia-la, melhor.
Alex Beachum, diretor de Outer Wilds, iniciou esse projeto ainda na faculdade, e teve como principal inspiração The Legend of Zelda. Mais especificamente, as diferentes ilhas no vasto oceano presente em The Wind Waker. Ao mesmo tempo, protestou contra a ausência de liberdade de Skyward Sword, o que contemporaneamente gerou Breath of the Wild.
Ironicamente, eu considero a experiência que o jogo indie feito por novatos fornece muito mais gratificante, coesa e deslumbrante do que a fornecida pelo gigante construído por veteranos de uma das desenvolvedoras mais competentes do planeta.
Outer Wilds pegou forte na minha sede por conhecimento, segurando meu braço e não soltando até eu descobrir tudo o que seu sistema solar tinha a oferecer. Ao mesmo tempo, conseguiu representar esse efeito na sua própria história, criando um paralelo impressionante entre o jogador e os personagens.
A atenção aos pequenos detalhes me maravilhou, e a jornada foi como abrir uma caixa de chocolates sortidos de uma marca desconhecida: a cada mordida, um sabor; e quando acabou, meu mundo se foi junto.
Alex Beachum, diretor de Outer Wilds, iniciou esse projeto ainda na faculdade, e teve como principal inspiração The Legend of Zelda. Mais especificamente, as diferentes ilhas no vasto oceano presente em The Wind Waker. Ao mesmo tempo, protestou contra a ausência de liberdade de Skyward Sword, o que contemporaneamente gerou Breath of the Wild.
Ironicamente, eu considero a experiência que o jogo indie feito por novatos fornece muito mais gratificante, coesa e deslumbrante do que a fornecida pelo gigante construído por veteranos de uma das desenvolvedoras mais competentes do planeta.
Outer Wilds pegou forte na minha sede por conhecimento, segurando meu braço e não soltando até eu descobrir tudo o que seu sistema solar tinha a oferecer. Ao mesmo tempo, conseguiu representar esse efeito na sua própria história, criando um paralelo impressionante entre o jogador e os personagens.
A atenção aos pequenos detalhes me maravilhou, e a jornada foi como abrir uma caixa de chocolates sortidos de uma marca desconhecida: a cada mordida, um sabor; e quando acabou, meu mundo se foi junto.
Quando terminei Danganronpa: Trigger Happy Havoc, fiz uma comparação cômica com comida; a ideia era espelhar a (falta de) seriedade com que o jogo se trata no meu próprio texto.
Goodbye Despair, como continuação, beira a perfeição. Não tenta replicar seu antecessor, ironiza as semelhanças e fornece um sabor novo mas familiar em uma ambientação fresca, que não entrega a mesma claustrofobia de Hope’s Peak Academy mas que fornece uma alegria inerente à uma ilha paradisíaca.
Sua maior qualidade é a falta de preocupação em se manter coeso. Em relação a THH, que possui um pé na insanidade e um pé tentando se manter na realidade, GD se afoga e se delicia em seu próprio valor de choque, se comprometendo com a montanha russa de emoções que propõe a entregar sem esquecer da humanidade em seu centro. Seu elenco é repleto de figuras carismáticas e intrigantes, nunca falhando em manter as engrenagens do interesse girando.
Ironicamente, os maiores defeitos de DR2 foram carregados de seu predecessor, os fixando como marca da franquia, para o bem ou para o mal. Minigames enjoativos e frustrantes, lógica simples porém carente de claridade, e muita, MUITA repetição de pontos já fixados na mente do jogador. Nada que quebra a experiência, nem que eu perderia meu tempo consertando, mas nos instantes em que ocorrem, acabam frustrando.
Como um pacote, Danganronpa 2 entrega e muito. Enquanto seu sucessor andava, tropeçava e levantava para continuar andando, esse corre loucamente, tropeçando sem nem se preocupar em parar para levantar porque sabe ficar de pé com manobras ninjas antes de continuar correndo e decolar voo.
Goodbye Despair, como continuação, beira a perfeição. Não tenta replicar seu antecessor, ironiza as semelhanças e fornece um sabor novo mas familiar em uma ambientação fresca, que não entrega a mesma claustrofobia de Hope’s Peak Academy mas que fornece uma alegria inerente à uma ilha paradisíaca.
Sua maior qualidade é a falta de preocupação em se manter coeso. Em relação a THH, que possui um pé na insanidade e um pé tentando se manter na realidade, GD se afoga e se delicia em seu próprio valor de choque, se comprometendo com a montanha russa de emoções que propõe a entregar sem esquecer da humanidade em seu centro. Seu elenco é repleto de figuras carismáticas e intrigantes, nunca falhando em manter as engrenagens do interesse girando.
Ironicamente, os maiores defeitos de DR2 foram carregados de seu predecessor, os fixando como marca da franquia, para o bem ou para o mal. Minigames enjoativos e frustrantes, lógica simples porém carente de claridade, e muita, MUITA repetição de pontos já fixados na mente do jogador. Nada que quebra a experiência, nem que eu perderia meu tempo consertando, mas nos instantes em que ocorrem, acabam frustrando.
Como um pacote, Danganronpa 2 entrega e muito. Enquanto seu sucessor andava, tropeçava e levantava para continuar andando, esse corre loucamente, tropeçando sem nem se preocupar em parar para levantar porque sabe ficar de pé com manobras ninjas antes de continuar correndo e decolar voo.
2022
Um presente do Deus da música a nós meros mortais, Trombone Champ é uma dádiva que só entrega. Por 28 reais, essa masterclass em como fazer um jogo de ritmo entrega trombones, babuínos e hot dogs em meio a várias informações interessantes (e verídicas) sobre a história da música. Não pule esse jogo; ele foi feito
A era do Nintendo DS foi marcada por uma criatividade que caminhava junto com as limitações tecnológicas de sua época; um escopo menor dava espaço a uma liberdade maior, livre das garras do alto investimento de tempo e dinheiro, das expectativas de executivos.
Da grande mente que é Shu Takumi, o criador de Ace Attorney e pupilo de Shinji Mikami, Ghost Trick é um daqueles jogos que te fazem lembrar do potencial que os videogames tem de proporcionar experiências únicas sem nem precisar sair de casa. Claro que isso também pode ser dito de filmes ou música, mas os jogos conseguem englobar o que faz tudo isso ser especial, de forma ativamente interativa e conectando todos os seus diferentes aspectos para a síntese de uma obra que se eleva acima da soma de suas partes.
Se inicia sem muito contexto: uma mulher está prestes a ser assassinada. Assim como o jogador, o protagonista assiste de fora e não faz ideia de quem ele é, do que se desenrolou para chegar até aqui, e do que está acontecendo. Isto é, com a exceção de um pequeno detalhe: ele já está morto.
Por meio de um diálogo com um espírito misterioso possuindo uma luminária, o protagonista, chamado Sissel, descobre que também pode possuir e controlar objetos, e é o único que pode salvar a moça em apuros de sua morte.
Existem dois comandos principais: Ghost, que pausa o tempo e permite que o espírito do protagonista se movimente de objeto em objeto (mas com um raio de efetividade limitado à objetos próximos), e Trick, que permite executar uma ação específica ao objeto possuído no momento. Ao se deparar com um cadáver, é possível retornar aos 4 minutos anteriores à sua morte, que podem ser reiniciados quantas vezes forem necessárias, afim de reverter esse destino. Quando combinadas, essas habilidades abrem espaço para um leque de possibilidades e descobrir como utilizá-las perante aos obstáculos fornece um desafio simples, mas satisfatório.
O jogo inteiro não desvia muito disso, apenas aumenta a complexidade, alternando entre esses momentos de gameplay e diálogos. Conta com modelos 3D animados em um espaço bidimensional, que são sobrepostos por uma arte 2D representando o interlocutor, com expressões variadas demonstrando diferentes emoções de acordo com o que estão falando, como uma visual novel. O gênero de Ghost Trick é difícil de se descrever, e mesmo os mais próximos como aventura ou puzzle não são precisos o suficiente; mesmo na parte visual/narrativa, é um jogo ímpar, com múltiplas influências.
Após salvar a jovem, Sissel aprende que os dois estão intrinsecamente conectados, e se ele quiser se descobrir e desbravar os segredos por trás dessa noite misteriosa, ele deve segui-la; mas com um detalhe: há um prazo até a manhã do dia seguinte. Após esse limite, ele desaparecerá para sempre.
Com o mistério central estabelecido, Ghost Trick abre sua largada, e não para de acelerar até a linha de chegada. Dos personagens coloridos até os conflitos que se desenrolam e enrolam e desenrolam de novo, o jogo não decai, só segue em queda livre, em suas 10 horas de duração. É uma experiência concisa e marcante; não é apenas tudo o que precisa ser: é surpreendente.
Os jogos do Shu Takumi têm uma energia bem única, não só no jeito que seus conflitos são apresentados e se desenrolam, de forma leve e descontraída sem perder a seriedade, mas na caracterização de seus personagens. Existe um equilíbrio perfeito entre o exagero em suas caricaturas e a empatia com que os trata, entre os seus comportamentos surreais e o realismo em suas decisões.
É engraçado e charmoso: o Inspetor não precisa fazer poses e gestos exagerados à la Michael Jackson toda vez que entra em cena, mas ele o faz porque pode e deve e é maravilhoso. O chefe da polícia não precisa tirar seus sapatos e coçar suas pernas com os pés toda vez que fica nervoso, escondendo isso atrás de sua mesa para ninguém perceber, mas por que não?
São pequenos detalhes presentes em cada personagem, independentemente do quão pequeno é seu papel, que não servem só para charme, eles adicionam profundidade de forma sutil e efetiva, levando o jogador a se importar, mesmo se subconscientemente.
Isso vale também para a história. Pontos importantes são entregues de forma gradual e leve, às vezes até inesperada, ou ainda cômica. Podem até passar despercebidos, mas mesmo de forma subconsciente a narrativa vai formando uma imagem gradual na mente do jogador, que se fortalece a medida que o jogo avança, às vezes até se aproveitando disso para ludíbrio, reviravoltas.
A qualidade do roteiro não desaponta. Todas as perguntas que o jogo planta são respondidas de forma satisfatória, e mesmo as mais absurdas são devidamente desenvolvidas e não destoam do que as procedem. Os personagens incríveis que protagonizam essa história -e não dá para deixar de mencionar o melhor lulu da pomerânia da história, Missile!- recebem desfechos dignos; ninguém fica de fora.
Nunca existiu e nunca existirá outro Ghost Trick. Uma ideia única, executada de um jeito único, em uma época que nunca mais irá voltar. Não é popular e nem influente, não moldou tendências; mas vai ficar marcado em quem jogou, do jeito que merece: como um jogo perfeito.
Da grande mente que é Shu Takumi, o criador de Ace Attorney e pupilo de Shinji Mikami, Ghost Trick é um daqueles jogos que te fazem lembrar do potencial que os videogames tem de proporcionar experiências únicas sem nem precisar sair de casa. Claro que isso também pode ser dito de filmes ou música, mas os jogos conseguem englobar o que faz tudo isso ser especial, de forma ativamente interativa e conectando todos os seus diferentes aspectos para a síntese de uma obra que se eleva acima da soma de suas partes.
Se inicia sem muito contexto: uma mulher está prestes a ser assassinada. Assim como o jogador, o protagonista assiste de fora e não faz ideia de quem ele é, do que se desenrolou para chegar até aqui, e do que está acontecendo. Isto é, com a exceção de um pequeno detalhe: ele já está morto.
Por meio de um diálogo com um espírito misterioso possuindo uma luminária, o protagonista, chamado Sissel, descobre que também pode possuir e controlar objetos, e é o único que pode salvar a moça em apuros de sua morte.
Existem dois comandos principais: Ghost, que pausa o tempo e permite que o espírito do protagonista se movimente de objeto em objeto (mas com um raio de efetividade limitado à objetos próximos), e Trick, que permite executar uma ação específica ao objeto possuído no momento. Ao se deparar com um cadáver, é possível retornar aos 4 minutos anteriores à sua morte, que podem ser reiniciados quantas vezes forem necessárias, afim de reverter esse destino. Quando combinadas, essas habilidades abrem espaço para um leque de possibilidades e descobrir como utilizá-las perante aos obstáculos fornece um desafio simples, mas satisfatório.
O jogo inteiro não desvia muito disso, apenas aumenta a complexidade, alternando entre esses momentos de gameplay e diálogos. Conta com modelos 3D animados em um espaço bidimensional, que são sobrepostos por uma arte 2D representando o interlocutor, com expressões variadas demonstrando diferentes emoções de acordo com o que estão falando, como uma visual novel. O gênero de Ghost Trick é difícil de se descrever, e mesmo os mais próximos como aventura ou puzzle não são precisos o suficiente; mesmo na parte visual/narrativa, é um jogo ímpar, com múltiplas influências.
Após salvar a jovem, Sissel aprende que os dois estão intrinsecamente conectados, e se ele quiser se descobrir e desbravar os segredos por trás dessa noite misteriosa, ele deve segui-la; mas com um detalhe: há um prazo até a manhã do dia seguinte. Após esse limite, ele desaparecerá para sempre.
Com o mistério central estabelecido, Ghost Trick abre sua largada, e não para de acelerar até a linha de chegada. Dos personagens coloridos até os conflitos que se desenrolam e enrolam e desenrolam de novo, o jogo não decai, só segue em queda livre, em suas 10 horas de duração. É uma experiência concisa e marcante; não é apenas tudo o que precisa ser: é surpreendente.
Os jogos do Shu Takumi têm uma energia bem única, não só no jeito que seus conflitos são apresentados e se desenrolam, de forma leve e descontraída sem perder a seriedade, mas na caracterização de seus personagens. Existe um equilíbrio perfeito entre o exagero em suas caricaturas e a empatia com que os trata, entre os seus comportamentos surreais e o realismo em suas decisões.
É engraçado e charmoso: o Inspetor não precisa fazer poses e gestos exagerados à la Michael Jackson toda vez que entra em cena, mas ele o faz porque pode e deve e é maravilhoso. O chefe da polícia não precisa tirar seus sapatos e coçar suas pernas com os pés toda vez que fica nervoso, escondendo isso atrás de sua mesa para ninguém perceber, mas por que não?
São pequenos detalhes presentes em cada personagem, independentemente do quão pequeno é seu papel, que não servem só para charme, eles adicionam profundidade de forma sutil e efetiva, levando o jogador a se importar, mesmo se subconscientemente.
Isso vale também para a história. Pontos importantes são entregues de forma gradual e leve, às vezes até inesperada, ou ainda cômica. Podem até passar despercebidos, mas mesmo de forma subconsciente a narrativa vai formando uma imagem gradual na mente do jogador, que se fortalece a medida que o jogo avança, às vezes até se aproveitando disso para ludíbrio, reviravoltas.
A qualidade do roteiro não desaponta. Todas as perguntas que o jogo planta são respondidas de forma satisfatória, e mesmo as mais absurdas são devidamente desenvolvidas e não destoam do que as procedem. Os personagens incríveis que protagonizam essa história -e não dá para deixar de mencionar o melhor lulu da pomerânia da história, Missile!- recebem desfechos dignos; ninguém fica de fora.
Nunca existiu e nunca existirá outro Ghost Trick. Uma ideia única, executada de um jeito único, em uma época que nunca mais irá voltar. Não é popular e nem influente, não moldou tendências; mas vai ficar marcado em quem jogou, do jeito que merece: como um jogo perfeito.
Tendo em mente que em essência Professor Layton and the Curious Village não é muito diferente de um jogo educativo presente em aulas de informática de ensino fundamental, é surreal como ele acerta tudo o que precisa acertar e esbanja de tanta maturidade e foco.
Diferente de outro jogos de puzzle, aqui eles se apresentam em formato de pergunta mesmo: como charadas, enigmas. A qualidade varia mas possui uma boa consistência, e as mais de 120 questões não pecam em variedade. Há algumas bem fáceis, outras que me prenderam por bons minutos. Para quem gosta de testar a própria inteligência, é um prato cheio; divertido e recompensador, viciante.
Acoplado a isso há uma narrativa que se inicia simples e despretensiosa, com um tom de leveza que perdura por toda sua duração, construindo uma sensação de conforto organicamente, principalmente por conta de seus protagonistas, Hershel Layton e Luke.
Mas no fundo ainda há uma sensação desconfortante, principalmente devido à ambientação da pequena vila de St. Mystere e aos seus moradores obcecados por enigmas. Os protagonistas estão em um lugar nada familiar e o jogador também sente isso.
Esse contraste faz com que a experiência leve e despretenciosa do início se transforme gradualmente em uma curiosa e intrigante. Sem nem perceber eu estava totalmente cativado pelos mistérios e segredos de St. Mystere.
O desenrolar da trama é gradual, não depende de reviravoltas repentinas. Ao seu avançar as peças vão se juntando, e tudo passa a fazer sentido.
É refrescante um jogo simples e leve assim poder ser tão satisfatório, e ter todas as suas faces se conectarem de forma tão natural. Há uma humildade enrustida aqui, em um jogo que consegue beirar uma excelência sem nem buscá-la; puramente por paixão.
Diferente de outro jogos de puzzle, aqui eles se apresentam em formato de pergunta mesmo: como charadas, enigmas. A qualidade varia mas possui uma boa consistência, e as mais de 120 questões não pecam em variedade. Há algumas bem fáceis, outras que me prenderam por bons minutos. Para quem gosta de testar a própria inteligência, é um prato cheio; divertido e recompensador, viciante.
Acoplado a isso há uma narrativa que se inicia simples e despretensiosa, com um tom de leveza que perdura por toda sua duração, construindo uma sensação de conforto organicamente, principalmente por conta de seus protagonistas, Hershel Layton e Luke.
Mas no fundo ainda há uma sensação desconfortante, principalmente devido à ambientação da pequena vila de St. Mystere e aos seus moradores obcecados por enigmas. Os protagonistas estão em um lugar nada familiar e o jogador também sente isso.
Esse contraste faz com que a experiência leve e despretenciosa do início se transforme gradualmente em uma curiosa e intrigante. Sem nem perceber eu estava totalmente cativado pelos mistérios e segredos de St. Mystere.
O desenrolar da trama é gradual, não depende de reviravoltas repentinas. Ao seu avançar as peças vão se juntando, e tudo passa a fazer sentido.
É refrescante um jogo simples e leve assim poder ser tão satisfatório, e ter todas as suas faces se conectarem de forma tão natural. Há uma humildade enrustida aqui, em um jogo que consegue beirar uma excelência sem nem buscá-la; puramente por paixão.
2022
Bayonetta é uma daquelas franquias que possui uma excelência tão enraizada no seu simples conceito básico, que podem seguir sua simples fórmula com pouquíssimas mudança por décadas e todos os jogos valerão o tempo e investimento. O terceiro jogo, lançado 8 anos após seu antecessor e 5 após seu anúncio, segue à risca o que define e destaca a saga em meio ao mar de jogos de ação no qual está imersa. Estiloso, divertido e confuso, Bayonetta 3 é Bayonetta em todos os sentidos, para o bem e para o mal.
Isso não quer dizer, é claro, que essa nova experiencia não tem a sua identidade própria dentro da trilogia. Não só visualmente, como seus antecessores, mas também em sua estrutura e gameplay principal. Bayonetta continua sendo a personagem principal e seu potencial para customização e curva de aprendizado estão mais extensos do que nunca. Seus ataques padrões funcionam da mesma forma de sempre, mas com um novo leque de armas únicas e extremamente criativas. Os Demon Slaves, a grande nova mecânica única à esse novo jogo, trazem uma nova dimensão ao combate, tanto em escala quanto em profundidade. Cada uma possui suas fraquezas e vantagens, e são tão criativas e intrigantes quanto podem. A dinâmica de poder controlar uma dessas grandes feras ao mesmo tempo que a bruxa que as invoca é divertida, complexa e muito bem vinda.
Além disso, existem mais duas personagens jogáveis durante a campanha: a companheira clássica de Cereza, Jeanne, e a novata Viola. A primeira estrela em um tipo de missão único, que mistura plataforma com stealth, e que por mais que não acerte em nenhum dos dois, consegue entreter e não se extende por muito tempo, contando com poucas missões de curta duração, trazendo variedade à estrutura da história. A segunda, Viola, estrela em missões de estrutura similar às de Bayonetta, porém com ataques e habilidades completamente únicos que fornecem uma experiência diferente, porém ainda familiar. Embora bem menos complexa que a estrela do jogo, sua gameplay fornece variedade o suficiente, tanto para o seu tempo de tela limitado quanto para passar horas praticando diferentes combos e estratégias.
Como sempre, o ênfase da narrativa está em fornecer uma montanha russa em alta velocidade à todo instante, que surpreende o jogador constantemente do início ao fim. A narrativa é tão profunda quanto os outros jogos, ou seja, profusamente rasa; em outras palavras, é tudo o que precisa ser. Combinado com a gameplay que a acompanha, temos uma campanha com altos e baixos, mas que é dominada pela criatividade esperada de um Bayonetta, e para mim, isso é tudo o que precisa ser. Me vejo jogando isso por muito mais tempo, e se possuísse mais conteúdo para usufruir de seu combate, arrisco dizer que jogaria para anos por vir.
Isso não quer dizer, é claro, que essa nova experiencia não tem a sua identidade própria dentro da trilogia. Não só visualmente, como seus antecessores, mas também em sua estrutura e gameplay principal. Bayonetta continua sendo a personagem principal e seu potencial para customização e curva de aprendizado estão mais extensos do que nunca. Seus ataques padrões funcionam da mesma forma de sempre, mas com um novo leque de armas únicas e extremamente criativas. Os Demon Slaves, a grande nova mecânica única à esse novo jogo, trazem uma nova dimensão ao combate, tanto em escala quanto em profundidade. Cada uma possui suas fraquezas e vantagens, e são tão criativas e intrigantes quanto podem. A dinâmica de poder controlar uma dessas grandes feras ao mesmo tempo que a bruxa que as invoca é divertida, complexa e muito bem vinda.
Além disso, existem mais duas personagens jogáveis durante a campanha: a companheira clássica de Cereza, Jeanne, e a novata Viola. A primeira estrela em um tipo de missão único, que mistura plataforma com stealth, e que por mais que não acerte em nenhum dos dois, consegue entreter e não se extende por muito tempo, contando com poucas missões de curta duração, trazendo variedade à estrutura da história. A segunda, Viola, estrela em missões de estrutura similar às de Bayonetta, porém com ataques e habilidades completamente únicos que fornecem uma experiência diferente, porém ainda familiar. Embora bem menos complexa que a estrela do jogo, sua gameplay fornece variedade o suficiente, tanto para o seu tempo de tela limitado quanto para passar horas praticando diferentes combos e estratégias.
Como sempre, o ênfase da narrativa está em fornecer uma montanha russa em alta velocidade à todo instante, que surpreende o jogador constantemente do início ao fim. A narrativa é tão profunda quanto os outros jogos, ou seja, profusamente rasa; em outras palavras, é tudo o que precisa ser. Combinado com a gameplay que a acompanha, temos uma campanha com altos e baixos, mas que é dominada pela criatividade esperada de um Bayonetta, e para mim, isso é tudo o que precisa ser. Me vejo jogando isso por muito mais tempo, e se possuísse mais conteúdo para usufruir de seu combate, arrisco dizer que jogaria para anos por vir.
Esse é um dos jogos que fazem meu cérebro lutar contra si mesmo, me fazem questionar minha própria sanidade.
É fácil ligar o modo crítico de games e dizer que isso não passa de um jogo ruim, para adolescentes, sobre adolescentes, feito por adolescentes. Que tenta fazer muito, e não acerta em nada. Que "envelheceu mal", que toca em temas pessoais e delicados, sem o devido respeito. Que é cheio de minigames à la Play Store, sem inspiração e com mecânicas mal implementadas. Que tem personagens clichês ambulantes. Que tem casos escritos com o c-
Listar os defeitos isolados aqui não é muito diferente de listar os ingredientes de um Cuscuz paulista: um exercício equivocado. Afinal, apesar da receita ser tão apetitosa quanto um vídeo de sexologia forense sobre riparofilia, o resultado na verdade é... um bolo de... expulsão de suco gástrico... de alguém que não mastiga o que come... e mesmo assim têm 65% de chance de aparecer em um almoço de domingo de uma família média do interior de São Paulo- porque o gosto é... ok?
Não é uma delícia, e não sei dizer se vale a pena o esforço de lutar contra o instinto básico de incinerar comida aparentemente estragada, mas é algo que dá pra colocar no prato, mastigar, engolir e se sentir satisfeito com sua refeição.
Isso foi mais um desabafo do que uma comparação, mas Danganronpa possui uma lista de ingredientes... confusa, porém o resultado final é uma montanha russa de sentimentos e uma explosão de sabores. Uma que não necessariamente vai respeitar seu tempo, na verdade vai repetir a mesma frase três vezes antes de chegar ao ponto e os menos pacientes vão sentir sua capacidade intelectual levemente subestimada, e que ao mesmo tempo vai oferecer alguns dos saltos de lógica mais gritantes já presenciados em uma história de investigação: ao ponto de gerar um rancor que pode quase desencadear em um abuso físico da sua mesa mais próxima, diante de momentos nos quais é requerido que o jogador teste suas habilidades de lógica dedutiva para ligar dois pontos obviamente conectados, mas de uma forma contraintuitiva, incompetente e sem nenhum tipo de consistência, uma imbecilidade digna dos oponentes que o protagonista precisa refutar. Assim como um... Cuscuz paulista, que tem esse nome sem sequer ter cuscuz em sua receita.
É importante ressaltar que o jogo possui 3 opções de dificuldade para a ação, e mais 3 para a lógica. Para a primeira, temendo meu sofrimento iminente, escolhi a padrão, denominada "Kind" (em português, algo como "bonzinho", ou ainda "parça"), enquanto para a segunda, por conta da minha inteligência imensurável, escolhi a mais alta, "Mean" (algo como "cuzona"). Minha experiência foi até tranquila, e não me imagino percebendo a diferença mesmo jogando de novo, então meio que eu não ligo.
Com preguiça de escrever mais, vou dizer que Danganronpa possui casos independentes de qualidade variável, mas que melhoram conforme o avanço da narrativa. O mistério abrangente da história é intrigante e as resoluções são satisfatórias. Os personagens são coloridos e mais imprevisíveis do que parecem, e apesar dos defeitos mencionados conseguiram me fazer dar risadas com as barbaridades que diziam e os direitos humanos que violavam, por mais que eu não necessariamente me importasse com o que acontecesse com a maioria, incluindo o protagonista. Destaque para as rainhas Kyoko e Sakura, para o burguês cuzão profissional Byakuya e para o fofíssimo Monokuma.
Mais do que uma soma de seus defeitos e qualidades, o maior acerto de Danganronpa é algo necessário para qualquer tipo de criação se tornar impactante: ser uma mensagem. Não passar uma, e sim SER. Algo criado de um humano para outro, não como um produto, mas sim como uma obra. Ao jogar, eu consegui entender seu motivo, seu apelo, suas intenções. E por mais minuciosamente sujo que seja, existe algo puro por trás de sua existência: uma simples vontade apaixonada de criar uma experiência marcante. E isso não é algo que se mede por palavras ou prós e contras, é algo que se sente: pode ser por meio de suas piadas, da forma como os personagens reagem ao que ocorre ao seu redor, da simples proposta, da trilha sonora e como ela dialoga com o que ocorre; seja o que for. Danganronpa não faz porque precisa, não existe por necessidade ou por pressão; Danganronpa faz por vontade, porque quer existir. Não é nada ESPECIAL, mas sucede no que quer, e isso é tudo o que precisava fazer. Há um propósito, e gostar dele ou não vai de cada um. Não muito diferente de um... Cuscuz paulista.
É fácil ligar o modo crítico de games e dizer que isso não passa de um jogo ruim, para adolescentes, sobre adolescentes, feito por adolescentes. Que tenta fazer muito, e não acerta em nada. Que "envelheceu mal", que toca em temas pessoais e delicados, sem o devido respeito. Que é cheio de minigames à la Play Store, sem inspiração e com mecânicas mal implementadas. Que tem personagens clichês ambulantes. Que tem casos escritos com o c-
Listar os defeitos isolados aqui não é muito diferente de listar os ingredientes de um Cuscuz paulista: um exercício equivocado. Afinal, apesar da receita ser tão apetitosa quanto um vídeo de sexologia forense sobre riparofilia, o resultado na verdade é... um bolo de... expulsão de suco gástrico... de alguém que não mastiga o que come... e mesmo assim têm 65% de chance de aparecer em um almoço de domingo de uma família média do interior de São Paulo- porque o gosto é... ok?
Não é uma delícia, e não sei dizer se vale a pena o esforço de lutar contra o instinto básico de incinerar comida aparentemente estragada, mas é algo que dá pra colocar no prato, mastigar, engolir e se sentir satisfeito com sua refeição.
Isso foi mais um desabafo do que uma comparação, mas Danganronpa possui uma lista de ingredientes... confusa, porém o resultado final é uma montanha russa de sentimentos e uma explosão de sabores. Uma que não necessariamente vai respeitar seu tempo, na verdade vai repetir a mesma frase três vezes antes de chegar ao ponto e os menos pacientes vão sentir sua capacidade intelectual levemente subestimada, e que ao mesmo tempo vai oferecer alguns dos saltos de lógica mais gritantes já presenciados em uma história de investigação: ao ponto de gerar um rancor que pode quase desencadear em um abuso físico da sua mesa mais próxima, diante de momentos nos quais é requerido que o jogador teste suas habilidades de lógica dedutiva para ligar dois pontos obviamente conectados, mas de uma forma contraintuitiva, incompetente e sem nenhum tipo de consistência, uma imbecilidade digna dos oponentes que o protagonista precisa refutar. Assim como um... Cuscuz paulista, que tem esse nome sem sequer ter cuscuz em sua receita.
É importante ressaltar que o jogo possui 3 opções de dificuldade para a ação, e mais 3 para a lógica. Para a primeira, temendo meu sofrimento iminente, escolhi a padrão, denominada "Kind" (em português, algo como "bonzinho", ou ainda "parça"), enquanto para a segunda, por conta da minha inteligência imensurável, escolhi a mais alta, "Mean" (algo como "cuzona"). Minha experiência foi até tranquila, e não me imagino percebendo a diferença mesmo jogando de novo, então meio que eu não ligo.
Com preguiça de escrever mais, vou dizer que Danganronpa possui casos independentes de qualidade variável, mas que melhoram conforme o avanço da narrativa. O mistério abrangente da história é intrigante e as resoluções são satisfatórias. Os personagens são coloridos e mais imprevisíveis do que parecem, e apesar dos defeitos mencionados conseguiram me fazer dar risadas com as barbaridades que diziam e os direitos humanos que violavam, por mais que eu não necessariamente me importasse com o que acontecesse com a maioria, incluindo o protagonista. Destaque para as rainhas Kyoko e Sakura, para o burguês cuzão profissional Byakuya e para o fofíssimo Monokuma.
Mais do que uma soma de seus defeitos e qualidades, o maior acerto de Danganronpa é algo necessário para qualquer tipo de criação se tornar impactante: ser uma mensagem. Não passar uma, e sim SER. Algo criado de um humano para outro, não como um produto, mas sim como uma obra. Ao jogar, eu consegui entender seu motivo, seu apelo, suas intenções. E por mais minuciosamente sujo que seja, existe algo puro por trás de sua existência: uma simples vontade apaixonada de criar uma experiência marcante. E isso não é algo que se mede por palavras ou prós e contras, é algo que se sente: pode ser por meio de suas piadas, da forma como os personagens reagem ao que ocorre ao seu redor, da simples proposta, da trilha sonora e como ela dialoga com o que ocorre; seja o que for. Danganronpa não faz porque precisa, não existe por necessidade ou por pressão; Danganronpa faz por vontade, porque quer existir. Não é nada ESPECIAL, mas sucede no que quer, e isso é tudo o que precisava fazer. Há um propósito, e gostar dele ou não vai de cada um. Não muito diferente de um... Cuscuz paulista.
2023
Algo que sempre me fascina sobre jogos e outros meios de entretenimento que são vendidos como produtos é o valor histórico que os acompanha. Um jogo é um produto de seu tempo, das condições, limitações e visão de mundo que seus desenvolvedores possuíam no momento de sua concepção. Uma viagem ao passado.
Isso se expande quando um jogo antigo ganha sequências, se torna uma franquia, e sobrevive às garras viscerais do tempo. Cada jogo individual se torna um capítulo de uma história, mostrando uma jornada de adaptação e dificuldades em meio à constante evolução tecnológica e criativa que permeia essa indústria tão agressivamente.
Final Fantasy XVI, se comparado ao primeiro jogo da franquia, é uma completa reviravolta. Sem conhecimento prévio, a maioria diria que não existe conexão alguma entre os dois, e com razão.
Os quatro protagonistas mudos, com nome e classes definidas pelo jogador? Substituídos por um personagem único, humano e repleto de conflitos internos. Um mundo aberto explorável e repleto de segredos? Não, aqui temos uma jornada linear e cinemática. O combate estratégico por turnos? Trocado por um de ação frenético e em tempo real.
O que se mantém: uma jornada longa e grandiosa para salvar um mundo sendo tomado por uma escuridão oculta, com magia e cristais, clássicos da franquia. E, é claro, uma trilha sonora que está no topo do que faz e sabe bem disso.
Olhando para trás, é nítido que em meio ao avanço da indústria, Final Fantasy teve dificuldades em se estabilizar. Após 9 jogos explorando e aprimorando um mesmo formato de diferentes formas, a saturação e a necessidade de inovação se tornaram impossíveis de ignorar. Entrando no século 21, a franquia passou a explorar diferentes formatos e ideias, com sucesso variável. É evidente que, com o tempo surgem novas tendências, e com antigas limitações sendo rompidas, novas aparecem. Com esses fatos em mente, temos aqui uma formidável tentativa em modernizar a franquia e apresentá-la à um novo público ao mesmo tempo em que se mantém a essência que conecta todos os jogos dessa antologia.
16 tem uma visão clara: com um combate centrado em um personagem, sua narrativa também tem de ser. É uma jornada pessoal, e dessa forma acompanhamos de perto o quanto o mundo molda Clive Rosfield, da mesma forma que ele molda o que lhe rodeia.
Essa direção traz uma dinâmica diferente dos clássicos grupos (ou parties) da franquia. Claro, a presença de um elenco forte não é deixada de lado; personagens como Cidolfus Telamon ou Jill Warrick são tão marcantes quanto o nosso Rosfield. Mas com uma narrativa contada através dos olhos do protagonista, a jornada se torna mais humana, as interações mais palpáveis.
Essa abordagem faz com que XVI seja a experiência mais focada e eficiente que a franquia apresentou até então. Tudo que o jogo precisava acertar para dar forma à essa visão é realizado de forma maestral; o que não, é deixado em segundo plano.
O mundo de Valisthea é construído de forma meticulosa. Sua história é profunda; o necessário para sua compreensão entregado de forma orgânica, mas para os mais fascinados, existe muito conteúdo escondido nos diversos sumários que são desbloqueados ao longo da jornada. Alguns podem ser acessados no meio de cenas, com um apertar de um botão. Denominada “Active Time Lore”, uma referência direta à outros sistemas clássicos da franquia, a mecânica fornece resumos sobre personagens, locais e acontecimentos relevantes para o momento em que são acessados, facilitando a compreensão dos fatos. Mesmo que o jogo se garanta com a própria escrita, um maior contexto sobre seu mundo rico é bem-vindo.
Os temas explorados são profundos, trágicos e humanos, e há diversas lições a serem extraídas para os mais atentos. Isso é apoiado pelo clima maduro da narrativa, sendo o primeiro jogo da franquia com classificação +18. Visto que temas assim não são novos à franquia, é refrescante poderem explorá-los com respeito e sem restrições, principalmente dada a fidelidade visual e cinemática que a tecnologia atual proporciona.
É um mundo trágico, e que se prova merecedor de sua importância. Parte disso se deve às várias missões secundárias que, mesmo rasas em seu formato, fornecem informações importantes e entregam alguns dos momentos mais emocionantes, em especial as mais próximas ao fim. Em um jogo que sacrifica conteúdo secundário e exploração em nome de sua ludonarrativa, esses são favores que trazem mais oportunidades de interação sem atrapalhar a urgência da história, retornando ao fato da jornada ser pessoal para Clive.
Isso é refletido também no cadenciamento da trama. O jogo conta com alguns dos momentos mais bombásticos e grandiosos presentes em qualquer jogo, equilibrados muito bem entre sequências de gameplay incríveis e apresentação visual extravagante. O level design deixa um pouco a desejar, mas a combinação de trilha sonora, combate, diálogos e visuais compensam; são setpieces excelentes. Mas esses momentos não são o jogo inteiro, e entre eles são inseridas missões mais simples e tranquilas. Para alguns, esses momentos podem parecer lentos e considerados chatos, mas são tão necessários quanto quaisquer outros. Em uma aventura como essa, há um senso de familiaridade urgido, e não só mostrar os acontecimentos mais importantes mas também os mais pacatos é crítico para uma empatização maior com os personagens e uma familiarização com seu mundo. Além disso, essas “pausas” trazem um momento para o jogador, os personagens e o jogo em si respirarem e evitar que as partes épicas se saturem. Por fim, esses momentos pacatos, assim como as missões secundárias, oferecem detalhes importantes sobre o mundo e cruciais para a narrativa. Se o jogo é uma montanha russa, essas são as lentas subidas que antecedem às descidas em alta velocidade, e tudo isso se soma para entregar uma experiência ainda mais marcante; os socos no estômago, ainda mais fortes.
É importante ressaltar que o jogo é sim lento, e faz questão de pedir sua calma e tempo. Às vezes até ativamente. O excesso de avisos e tutoriais; a falta do botão de correr, que exige movimento contínuo por vários segundos para Clive finalmente acelerar; manobras usadas em combate que poderiam ser utilizadas para movimentação na prática serem cheias de pausas fora de combate; a necessidade de segurar um botão para interagir com itens, invocar e depois montar ou desmontar em seu Chocobo, ou até para abrir portas; o excesso de paredes invisíveis; e muito mais, fazem com que o ritmo seja extremamente desacelerado, o que não necessariamente atrapalha o jogo, mas claramente passa uma mensagem de que isso não é uma experiência a ser apressada.
O combate também é muito bem casado com todo o resto. Habilidades são interessantes, divertidas e trazem elementos de customização e variedade para a gameplay. Todas são justificadas narrativamente, e acompanham o andamento da história. No início, Clive é um simples soldado, até que no fim, todas as opções o torna algo como um Deus, destruindo tudo o que aparece pela frente. Nada além de uma power fantasy extremamente satisfatória.
Do outro lado da moeda, o design dos inimigos é mais trivial. Seus ataques são variados e interessantes; os visuais, espetaculares. Porém, salve poucas exceções, a interação com inimigos além de dano é mínima. Não há condições de status nem fraquezas elementais; inimigos normais são sacos de pancada. Os mais fortes, incluindo chefes, não reagem fisicamente ao seus combos; para compensar, possuem uma barra de atordoamento, que adiciona uma camada complexidade, assim como uma oportunidade para descarregar o máximo de dano possível; o que é suficiente para trazer uma gameplay interessante, mas que poderia ser elevada a outro patamar com algumas mudanças.
A dificuldade é simples, suficiente para ser engajante mas evita obstruir o ritmo da história à todo custo. Às vezes oponentes formidáveis parecem mais fracos que deveriam por isso, e a ausência de uma opção de dificuldade mais alta no início é sentida. A dificuldade “Final Fantasy”, desbloqueada ao terminar o jogo, é elaborada e muito bem-vinda, mas jogar um jogo desse calibre novamente logo após a primeira vez para ter acesso à gameplay desafiadora é um pedido grande demais para a maioria.
Agora, pedir para darem uma chance à essa experiência magnífica definitivamente não é, pelo menos aos donos de PS5 por aí. Não é todo dia que se lança um jogo novo dessa marca, e muito menos um com esse carinho e amor inseridos em sua concepção. Final Fantasy XVI entrega tudo o que precisava, da trilha sonora emocionante, à história grandiosa e sentimental, ao combate exilerante. Mas acima de tudo, entrega algo que poucos conseguem: a experiência de jogar um clássico. Um clássico problemático, um clássico controverso, mas um clássico que marcará uma geração.
Isso se expande quando um jogo antigo ganha sequências, se torna uma franquia, e sobrevive às garras viscerais do tempo. Cada jogo individual se torna um capítulo de uma história, mostrando uma jornada de adaptação e dificuldades em meio à constante evolução tecnológica e criativa que permeia essa indústria tão agressivamente.
Final Fantasy XVI, se comparado ao primeiro jogo da franquia, é uma completa reviravolta. Sem conhecimento prévio, a maioria diria que não existe conexão alguma entre os dois, e com razão.
Os quatro protagonistas mudos, com nome e classes definidas pelo jogador? Substituídos por um personagem único, humano e repleto de conflitos internos. Um mundo aberto explorável e repleto de segredos? Não, aqui temos uma jornada linear e cinemática. O combate estratégico por turnos? Trocado por um de ação frenético e em tempo real.
O que se mantém: uma jornada longa e grandiosa para salvar um mundo sendo tomado por uma escuridão oculta, com magia e cristais, clássicos da franquia. E, é claro, uma trilha sonora que está no topo do que faz e sabe bem disso.
Olhando para trás, é nítido que em meio ao avanço da indústria, Final Fantasy teve dificuldades em se estabilizar. Após 9 jogos explorando e aprimorando um mesmo formato de diferentes formas, a saturação e a necessidade de inovação se tornaram impossíveis de ignorar. Entrando no século 21, a franquia passou a explorar diferentes formatos e ideias, com sucesso variável. É evidente que, com o tempo surgem novas tendências, e com antigas limitações sendo rompidas, novas aparecem. Com esses fatos em mente, temos aqui uma formidável tentativa em modernizar a franquia e apresentá-la à um novo público ao mesmo tempo em que se mantém a essência que conecta todos os jogos dessa antologia.
16 tem uma visão clara: com um combate centrado em um personagem, sua narrativa também tem de ser. É uma jornada pessoal, e dessa forma acompanhamos de perto o quanto o mundo molda Clive Rosfield, da mesma forma que ele molda o que lhe rodeia.
Essa direção traz uma dinâmica diferente dos clássicos grupos (ou parties) da franquia. Claro, a presença de um elenco forte não é deixada de lado; personagens como Cidolfus Telamon ou Jill Warrick são tão marcantes quanto o nosso Rosfield. Mas com uma narrativa contada através dos olhos do protagonista, a jornada se torna mais humana, as interações mais palpáveis.
Essa abordagem faz com que XVI seja a experiência mais focada e eficiente que a franquia apresentou até então. Tudo que o jogo precisava acertar para dar forma à essa visão é realizado de forma maestral; o que não, é deixado em segundo plano.
O mundo de Valisthea é construído de forma meticulosa. Sua história é profunda; o necessário para sua compreensão entregado de forma orgânica, mas para os mais fascinados, existe muito conteúdo escondido nos diversos sumários que são desbloqueados ao longo da jornada. Alguns podem ser acessados no meio de cenas, com um apertar de um botão. Denominada “Active Time Lore”, uma referência direta à outros sistemas clássicos da franquia, a mecânica fornece resumos sobre personagens, locais e acontecimentos relevantes para o momento em que são acessados, facilitando a compreensão dos fatos. Mesmo que o jogo se garanta com a própria escrita, um maior contexto sobre seu mundo rico é bem-vindo.
Os temas explorados são profundos, trágicos e humanos, e há diversas lições a serem extraídas para os mais atentos. Isso é apoiado pelo clima maduro da narrativa, sendo o primeiro jogo da franquia com classificação +18. Visto que temas assim não são novos à franquia, é refrescante poderem explorá-los com respeito e sem restrições, principalmente dada a fidelidade visual e cinemática que a tecnologia atual proporciona.
É um mundo trágico, e que se prova merecedor de sua importância. Parte disso se deve às várias missões secundárias que, mesmo rasas em seu formato, fornecem informações importantes e entregam alguns dos momentos mais emocionantes, em especial as mais próximas ao fim. Em um jogo que sacrifica conteúdo secundário e exploração em nome de sua ludonarrativa, esses são favores que trazem mais oportunidades de interação sem atrapalhar a urgência da história, retornando ao fato da jornada ser pessoal para Clive.
Isso é refletido também no cadenciamento da trama. O jogo conta com alguns dos momentos mais bombásticos e grandiosos presentes em qualquer jogo, equilibrados muito bem entre sequências de gameplay incríveis e apresentação visual extravagante. O level design deixa um pouco a desejar, mas a combinação de trilha sonora, combate, diálogos e visuais compensam; são setpieces excelentes. Mas esses momentos não são o jogo inteiro, e entre eles são inseridas missões mais simples e tranquilas. Para alguns, esses momentos podem parecer lentos e considerados chatos, mas são tão necessários quanto quaisquer outros. Em uma aventura como essa, há um senso de familiaridade urgido, e não só mostrar os acontecimentos mais importantes mas também os mais pacatos é crítico para uma empatização maior com os personagens e uma familiarização com seu mundo. Além disso, essas “pausas” trazem um momento para o jogador, os personagens e o jogo em si respirarem e evitar que as partes épicas se saturem. Por fim, esses momentos pacatos, assim como as missões secundárias, oferecem detalhes importantes sobre o mundo e cruciais para a narrativa. Se o jogo é uma montanha russa, essas são as lentas subidas que antecedem às descidas em alta velocidade, e tudo isso se soma para entregar uma experiência ainda mais marcante; os socos no estômago, ainda mais fortes.
É importante ressaltar que o jogo é sim lento, e faz questão de pedir sua calma e tempo. Às vezes até ativamente. O excesso de avisos e tutoriais; a falta do botão de correr, que exige movimento contínuo por vários segundos para Clive finalmente acelerar; manobras usadas em combate que poderiam ser utilizadas para movimentação na prática serem cheias de pausas fora de combate; a necessidade de segurar um botão para interagir com itens, invocar e depois montar ou desmontar em seu Chocobo, ou até para abrir portas; o excesso de paredes invisíveis; e muito mais, fazem com que o ritmo seja extremamente desacelerado, o que não necessariamente atrapalha o jogo, mas claramente passa uma mensagem de que isso não é uma experiência a ser apressada.
O combate também é muito bem casado com todo o resto. Habilidades são interessantes, divertidas e trazem elementos de customização e variedade para a gameplay. Todas são justificadas narrativamente, e acompanham o andamento da história. No início, Clive é um simples soldado, até que no fim, todas as opções o torna algo como um Deus, destruindo tudo o que aparece pela frente. Nada além de uma power fantasy extremamente satisfatória.
Do outro lado da moeda, o design dos inimigos é mais trivial. Seus ataques são variados e interessantes; os visuais, espetaculares. Porém, salve poucas exceções, a interação com inimigos além de dano é mínima. Não há condições de status nem fraquezas elementais; inimigos normais são sacos de pancada. Os mais fortes, incluindo chefes, não reagem fisicamente ao seus combos; para compensar, possuem uma barra de atordoamento, que adiciona uma camada complexidade, assim como uma oportunidade para descarregar o máximo de dano possível; o que é suficiente para trazer uma gameplay interessante, mas que poderia ser elevada a outro patamar com algumas mudanças.
A dificuldade é simples, suficiente para ser engajante mas evita obstruir o ritmo da história à todo custo. Às vezes oponentes formidáveis parecem mais fracos que deveriam por isso, e a ausência de uma opção de dificuldade mais alta no início é sentida. A dificuldade “Final Fantasy”, desbloqueada ao terminar o jogo, é elaborada e muito bem-vinda, mas jogar um jogo desse calibre novamente logo após a primeira vez para ter acesso à gameplay desafiadora é um pedido grande demais para a maioria.
Agora, pedir para darem uma chance à essa experiência magnífica definitivamente não é, pelo menos aos donos de PS5 por aí. Não é todo dia que se lança um jogo novo dessa marca, e muito menos um com esse carinho e amor inseridos em sua concepção. Final Fantasy XVI entrega tudo o que precisava, da trilha sonora emocionante, à história grandiosa e sentimental, ao combate exilerante. Mas acima de tudo, entrega algo que poucos conseguem: a experiência de jogar um clássico. Um clássico problemático, um clássico controverso, mas um clássico que marcará uma geração.
Uma interpretação interessante do que um Ace Attorney sem os tribunais pode ser, Investigations acerta bem em criar uma fórmula engajante de amarrar gameplay com lógica dedutiva, e em criar uma atmosfera convidativa com uma trilha sonora que consegue ser tanto acalmante quanto exilerante nos momentos certos, ao mesmo tempo que apresenta um visual agradável e personagens bem idealizados, formando uma base resiliente e atrativa para a construção de uma narrativa intrigante.
Mas com a faca e o queijo na mão, o jogo corta seu dedo fora, entregando uma história que, acima de tudo, falha em fazer o jogador se importar. Com uma premissa fraca, o esqueleto não se movimenta, falta músculos. Quando um jogo se apoia em lógica e em textos para existir, se a narrativa não consegue intrigar o jogador, não há motivação para avançar. Por sorte, grande parte dos personagens são intrigantes, mas não o suficiente para salvar a experiencia de ser a mais fraca que a franquia já apresentou até então.
Mas com a faca e o queijo na mão, o jogo corta seu dedo fora, entregando uma história que, acima de tudo, falha em fazer o jogador se importar. Com uma premissa fraca, o esqueleto não se movimenta, falta músculos. Quando um jogo se apoia em lógica e em textos para existir, se a narrativa não consegue intrigar o jogador, não há motivação para avançar. Por sorte, grande parte dos personagens são intrigantes, mas não o suficiente para salvar a experiencia de ser a mais fraca que a franquia já apresentou até então.
2017
Recomendo não jogarem esse jogo esperando uma experiência padrão Rockstar. Não é isso que ele é, não é o que ele propõe fazer, e não é nem desenvolvido diretamente por eles.
Aborde L.A. Noire com a mente limpa; aceitando-o pelo que é; um mergulho no submundo de uma Los Angeles pós segunda guerra mundial, através dos olhos de um detetive eternamente manchado pelas sombras desse terrível conflito. É uma história pessoal ao mesmo tempo que é profissional e abrangente, e mesmo que tropeçando, é uma jornada que vale ser experienciada, principalmente aos fascinados por comportamentos humanos; de certas formas, é um dos jogos mais reais em que já encostei.
Aborde L.A. Noire com a mente limpa; aceitando-o pelo que é; um mergulho no submundo de uma Los Angeles pós segunda guerra mundial, através dos olhos de um detetive eternamente manchado pelas sombras desse terrível conflito. É uma história pessoal ao mesmo tempo que é profissional e abrangente, e mesmo que tropeçando, é uma jornada que vale ser experienciada, principalmente aos fascinados por comportamentos humanos; de certas formas, é um dos jogos mais reais em que já encostei.
Inacreditável como um jogo incrível desses consegue continuar preso na terra do sol nascente mesmo após mais de uma década. Sou muito grato pela equipe de fãs que localizou o jogo, de qualidade tão próxima à oficial que se torna difícil sequer perceber que não se trata de um trabalho profissional.
Investigations 2 mantém a fórmula bem estabelecida de seu predecessor e adiciona todo o impacto, intriga, emoção e reviravoltas que faltavam. O início é forte e cada capítulo consegue se sobressair sobre o anterior, de forma que faz o primeiro jogo parecer uma montanha russa em linha reta; como ficar horas na fila do pão para conseguir migalhas no final. O elenco forte retorna, em uma narrativa onde todos recebem a devida importância e desenvolvimento. Os novos personagens não ficam para trás, e cada caso introduz novas presenças marcantes que contribuem não só para as suas histórias isoladas mas no fim também para a narrativa abrangente do jogo, algo que outros da franquia não conseguiram alcançar.
É claro que as conexões se analisadas meticulosamente acabam abrindo espaço para coincidências, mas se é esse o preço a se pagar para essa narrativa existir eu não me importo; minha suspensão de descrença não foi afetada.
Alguns podem se afetar pelo cadenciamento não tão consistente, especialmente no segundo capítulo, mas imagino que se acostumado com a fórmula da franquia o jogador não se incomodará; não é algo que subtrai da experiência.
Por falar nisso, esse é um jogo que recompensa aqueles que experienciaram os predecessores. Personagens isolados da trilogia retornam aqui, não só por fan service, mas também em serviço a própria história. Relações entre personagens novos e antigos são estabelecidas, tornando Investigations 2 não só uma nova experiência, mas também uma expansão muito bem-vinda do universo da franquia.
Nada está aqui à toa, tudo o que é apresentado tem um motivo narrativo, ou temático. Destaque para o vilão principal, que é talvez o meu favorito da franquia. Inclusive, EVITE qualquer tipo de pesquisa sobre o jogo para não descobrir sua identidade antes da hora.
Por fim, o character design do jogo é excelente como sempre, e as animações os trazem à vida de forma formidavelmente carismática. Me incomoda um pouco os sprites serem espelhados dependendo do lado da tela em que estão, mas consigo perdoar a falta de tempo ou de orçamento para desenharem um lado direito E um esquerdo para cada um.
A trilha sonora é talvez a única coisa que o predecessor faz melhor, mas isso não quer dizer que ela não seja excelente. Em especial o tema do vilão, com o nome bem apropriado de “The Man Who Masterminds the Game”, que é uma das melhores músicas que já ouvi sair de um jogo.
Por fim, fica então o apelo para todos que experienciaram a trilogia Ace Attorney: joguem Investigations 2. Saí dessa experiência chocado com o quão bom esse jogo é, e agradeço cada dia mais por ter dado uma chance a essa franquia.
Investigations 2 mantém a fórmula bem estabelecida de seu predecessor e adiciona todo o impacto, intriga, emoção e reviravoltas que faltavam. O início é forte e cada capítulo consegue se sobressair sobre o anterior, de forma que faz o primeiro jogo parecer uma montanha russa em linha reta; como ficar horas na fila do pão para conseguir migalhas no final. O elenco forte retorna, em uma narrativa onde todos recebem a devida importância e desenvolvimento. Os novos personagens não ficam para trás, e cada caso introduz novas presenças marcantes que contribuem não só para as suas histórias isoladas mas no fim também para a narrativa abrangente do jogo, algo que outros da franquia não conseguiram alcançar.
É claro que as conexões se analisadas meticulosamente acabam abrindo espaço para coincidências, mas se é esse o preço a se pagar para essa narrativa existir eu não me importo; minha suspensão de descrença não foi afetada.
Alguns podem se afetar pelo cadenciamento não tão consistente, especialmente no segundo capítulo, mas imagino que se acostumado com a fórmula da franquia o jogador não se incomodará; não é algo que subtrai da experiência.
Por falar nisso, esse é um jogo que recompensa aqueles que experienciaram os predecessores. Personagens isolados da trilogia retornam aqui, não só por fan service, mas também em serviço a própria história. Relações entre personagens novos e antigos são estabelecidas, tornando Investigations 2 não só uma nova experiência, mas também uma expansão muito bem-vinda do universo da franquia.
Nada está aqui à toa, tudo o que é apresentado tem um motivo narrativo, ou temático. Destaque para o vilão principal, que é talvez o meu favorito da franquia. Inclusive, EVITE qualquer tipo de pesquisa sobre o jogo para não descobrir sua identidade antes da hora.
Por fim, o character design do jogo é excelente como sempre, e as animações os trazem à vida de forma formidavelmente carismática. Me incomoda um pouco os sprites serem espelhados dependendo do lado da tela em que estão, mas consigo perdoar a falta de tempo ou de orçamento para desenharem um lado direito E um esquerdo para cada um.
A trilha sonora é talvez a única coisa que o predecessor faz melhor, mas isso não quer dizer que ela não seja excelente. Em especial o tema do vilão, com o nome bem apropriado de “The Man Who Masterminds the Game”, que é uma das melhores músicas que já ouvi sair de um jogo.
Por fim, fica então o apelo para todos que experienciaram a trilogia Ace Attorney: joguem Investigations 2. Saí dessa experiência chocado com o quão bom esse jogo é, e agradeço cada dia mais por ter dado uma chance a essa franquia.