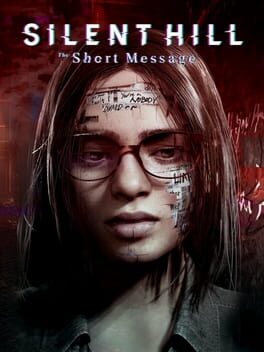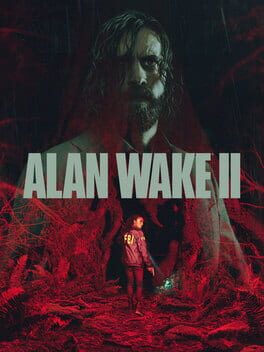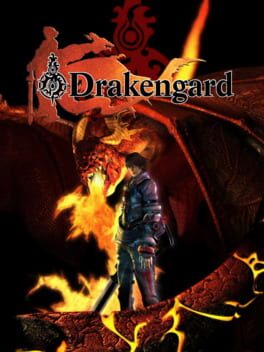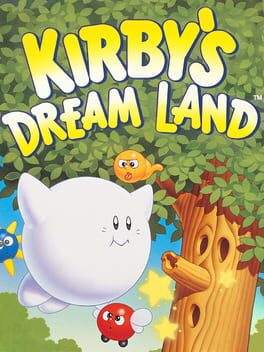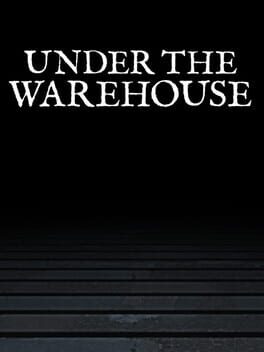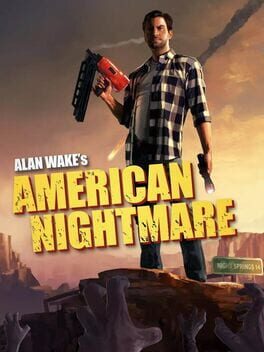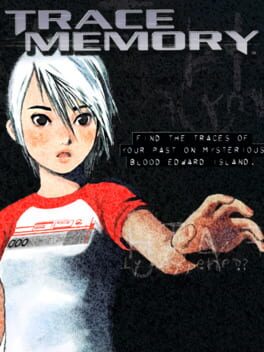ventoforteN
For such a short game, it does have a powerful message and compelling characters. Even if the dialogue is a bit too cheesy, it definitively treats them with empathy, while not beating around the bush.
It does deal with some heavy themes, but I did not see them approached with the right nuance. It’s like they researched them enough to get a grasp but not enough to use them in a way that feels fully realized.
It is still one emotionally impactful, scary and hypnotizing experience. It being free gets big points and it is a step in the right direction. Don’t skip this.
It does deal with some heavy themes, but I did not see them approached with the right nuance. It’s like they researched them enough to get a grasp but not enough to use them in a way that feels fully realized.
It is still one emotionally impactful, scary and hypnotizing experience. It being free gets big points and it is a step in the right direction. Don’t skip this.
2023
Whilst it isn’t a very well defined concept and a subject of much deliberation, art has a paramount importance not only in helping us pass through times, difficult or not, but also in stimulating our senses, allowing us to feel alive, to learn, to make our brains do the chemical reactions that feel good. It allows us to relate, to feel not alone. It’s something made by humans for humans; it’s precise enough for it to make its own statement, but at the same time it has an imprecision that allows us to interact and paint it with our own knowledge, to fill the blanks and interact with it making our own experiences unique. It’s an intense way of communication, it’s our gift.
Art, fiction, there are many names with many definitions that in fact all amount to the same thing, maybe with differences in the specifics and context, but it all fills that one purpose. It helps us, but more than anything, it changes us. Like life experiences do.
Oh, the irony of Alan Wake 2 portraying a world where fiction has the power to change reality around it, when the game itself is a piece of fiction that changes reality around it. Not necessarily in the same, literal manner, but it’s a work that changed MY perception of games.
It’s a labor of love, a passion project. You can tell by how much it loves its predecessors. The connections to Control (and obviously, Alan Wake, its DLCs and the standalone Alan Wake’s American Nightmare) are abundant and important to the overall plot, and there are even callbacks to Max Payne: namely James McCaffrey giving his voice to Sam Lake’s portrayal of Alex Casey; protagonist of Alan Wake’s main work as a writer and himself a reference to Payne.
There’s just this meta aspect that permeates this entire project from beginning to end. Sam Lake is Alex Casey, Alex Casey is created by Alan Wake, Alan Wake is created by Sam Lake and Sam Lake is Alex Casey. This metalinguistic ouroboros is one of many examples of how self-aware the game itself is. It’s a work of fiction about works of fiction, and it knows this fact, REMEDY knows this fact.
There’s even a certain goofyness to it that’s almost too on the nose. It takes the concepts like “The Dark Place”, “The Dark Presence”, or the villain being an evil doppelgänger of the titular protagonist named “Mr. Scratch” very seriously, but at the same time, it pokes fun at it. It’s just amusing to see the skeptic and serious Alan Wake losing his sanity lost in this hopeless but nonetheless bizarre situation.
It helps that the game sets the tone very early, making you prepared (but still surprised) for what’s to come. The very first segment sees the player taking control of a random, bloated, naked and dirty man with his balls out and his ass cheeks clapping; later on it’s explained who this man is, but for a first scene it’s quite shocking and impactful. It introduces the game’s format alongside its darker theme, inherent weirdness and very abundant jump scares. When making an immersive game like this it’s important to set the tone so players don’t get thrown off by the weirdness in the thick of it. It’s like if you’re reading this seemingly serious review about a game you like but suddenly they drop a “balls out and ass cheeks clapping” in the middle of it; it can feel jarring.
In that same vein, nothing’s out of context. It is, of course, a very bizarre piece of fiction, but even Alan Wake II’s most outlandish moments still have meaning and fit its plot, even if not in the clearest of ways. It isn’t set to answer every mystery, of course, it is a weird fiction game. It answers questions but leaves even more. It’s ambiguous. It wants to sparkle thoughts and more thoughts.
At the same time, it does feature a detective story, with mysteries sown explicitly and implicitly. It does solve the whodunnits and whydunnits and howdunnits but there’s more to it than meets the eye.
The mystery-hungry Saga Anderson is a wonderful addition and an amazing parallel to Mr. Wake. Not only does she fit perfectly into this world, the fact she’s completely oblivious to the situation at first makes her a good parallel to new players, and the way that the two different stories play out allows for the un-contextualized to keep up with the plot, since you can play each to its completion whenever. The way they come together is also masterful.
Saga’s Mind Place and Wake’s Writer’s Room make good use of the current gen hardware, allowing the game to mesh narrative with gameplay in many different ways, and their differences make each character feel wholly unique.
This connection is also exemplified in how game’s areas are wonderfully signalized. Not only do the maps offer precise information, they are beautifully designed to resemble what real life maps look like; each area with its own design. There are signs and directions that mesh with the background while still being perfectly readable and intuitive, AND making sense within the world.
Budget clearly was an issue, though. Not that it was low, it is an AAA title after all, but there’s enough evidence to infer that they were using every penny and dime they could. The lack of a physical release, for one, indicates that they’d rather used the money somewhere else. The game’s locations are very detailed and beautiful, but collision is weird. Characters often get stuck between small objects on the floor, or don’t properly fall from surface to surface. Subtitles (and sometimes even the voices) get out of sync in a few scenes. What is funny in all of this is that the game’s setting can sometimes mask the bugs, in a way that can even enhance the experience. Objects floating can be caused by bugs, but maybe it’s the Dark Place’s influence. Who knows?
It just shows that this IS a labor or love. They pulled out all of the stops to make Alan Wake II come true, and their vision came to life in the most marvelous of ways.
I just didn’t expect to fall in love with the game this much. It’s a wonderful thing, made by some of the most ingenious developers in the industry. My brain got fucked in real time, by the story, by the setting, by what I was witnessing, by the fact that the game’s so beautiful that sometimes I can tell the actual gameplay from the FMV sequences… it changed me. I don’t think Sam Lake or the team at Remedy made this game thinking of it as a work of art, but that’s what it is. It’s not a lake, it’s an ocean. Of semen. My semen.
Art, fiction, there are many names with many definitions that in fact all amount to the same thing, maybe with differences in the specifics and context, but it all fills that one purpose. It helps us, but more than anything, it changes us. Like life experiences do.
Oh, the irony of Alan Wake 2 portraying a world where fiction has the power to change reality around it, when the game itself is a piece of fiction that changes reality around it. Not necessarily in the same, literal manner, but it’s a work that changed MY perception of games.
It’s a labor of love, a passion project. You can tell by how much it loves its predecessors. The connections to Control (and obviously, Alan Wake, its DLCs and the standalone Alan Wake’s American Nightmare) are abundant and important to the overall plot, and there are even callbacks to Max Payne: namely James McCaffrey giving his voice to Sam Lake’s portrayal of Alex Casey; protagonist of Alan Wake’s main work as a writer and himself a reference to Payne.
There’s just this meta aspect that permeates this entire project from beginning to end. Sam Lake is Alex Casey, Alex Casey is created by Alan Wake, Alan Wake is created by Sam Lake and Sam Lake is Alex Casey. This metalinguistic ouroboros is one of many examples of how self-aware the game itself is. It’s a work of fiction about works of fiction, and it knows this fact, REMEDY knows this fact.
There’s even a certain goofyness to it that’s almost too on the nose. It takes the concepts like “The Dark Place”, “The Dark Presence”, or the villain being an evil doppelgänger of the titular protagonist named “Mr. Scratch” very seriously, but at the same time, it pokes fun at it. It’s just amusing to see the skeptic and serious Alan Wake losing his sanity lost in this hopeless but nonetheless bizarre situation.
It helps that the game sets the tone very early, making you prepared (but still surprised) for what’s to come. The very first segment sees the player taking control of a random, bloated, naked and dirty man with his balls out and his ass cheeks clapping; later on it’s explained who this man is, but for a first scene it’s quite shocking and impactful. It introduces the game’s format alongside its darker theme, inherent weirdness and very abundant jump scares. When making an immersive game like this it’s important to set the tone so players don’t get thrown off by the weirdness in the thick of it. It’s like if you’re reading this seemingly serious review about a game you like but suddenly they drop a “balls out and ass cheeks clapping” in the middle of it; it can feel jarring.
In that same vein, nothing’s out of context. It is, of course, a very bizarre piece of fiction, but even Alan Wake II’s most outlandish moments still have meaning and fit its plot, even if not in the clearest of ways. It isn’t set to answer every mystery, of course, it is a weird fiction game. It answers questions but leaves even more. It’s ambiguous. It wants to sparkle thoughts and more thoughts.
At the same time, it does feature a detective story, with mysteries sown explicitly and implicitly. It does solve the whodunnits and whydunnits and howdunnits but there’s more to it than meets the eye.
The mystery-hungry Saga Anderson is a wonderful addition and an amazing parallel to Mr. Wake. Not only does she fit perfectly into this world, the fact she’s completely oblivious to the situation at first makes her a good parallel to new players, and the way that the two different stories play out allows for the un-contextualized to keep up with the plot, since you can play each to its completion whenever. The way they come together is also masterful.
Saga’s Mind Place and Wake’s Writer’s Room make good use of the current gen hardware, allowing the game to mesh narrative with gameplay in many different ways, and their differences make each character feel wholly unique.
This connection is also exemplified in how game’s areas are wonderfully signalized. Not only do the maps offer precise information, they are beautifully designed to resemble what real life maps look like; each area with its own design. There are signs and directions that mesh with the background while still being perfectly readable and intuitive, AND making sense within the world.
Budget clearly was an issue, though. Not that it was low, it is an AAA title after all, but there’s enough evidence to infer that they were using every penny and dime they could. The lack of a physical release, for one, indicates that they’d rather used the money somewhere else. The game’s locations are very detailed and beautiful, but collision is weird. Characters often get stuck between small objects on the floor, or don’t properly fall from surface to surface. Subtitles (and sometimes even the voices) get out of sync in a few scenes. What is funny in all of this is that the game’s setting can sometimes mask the bugs, in a way that can even enhance the experience. Objects floating can be caused by bugs, but maybe it’s the Dark Place’s influence. Who knows?
It just shows that this IS a labor or love. They pulled out all of the stops to make Alan Wake II come true, and their vision came to life in the most marvelous of ways.
I just didn’t expect to fall in love with the game this much. It’s a wonderful thing, made by some of the most ingenious developers in the industry. My brain got fucked in real time, by the story, by the setting, by what I was witnessing, by the fact that the game’s so beautiful that sometimes I can tell the actual gameplay from the FMV sequences… it changed me. I don’t think Sam Lake or the team at Remedy made this game thinking of it as a work of art, but that’s what it is. It’s not a lake, it’s an ocean. Of semen. My semen.
2003
Drakengard is what a never-ending post-nut clarity would feel like. It’s quite (not) literally a brain rot. Not in the usual “hyperfixation” sense, it’s more of a “going down into a hole of insanity and despair” kind of thing.
To be honest, these devs got lucky. Some of the decisions made here make them seem inexperienced at best, even for 2003 standards. But for some reason the writers decided it was a good time to unleash their accumulated anger and frustrations all at once into a project and ended up with a story as bizarre and deranged as it is dark and despairing; a subversion of every videogame trope poured into a long road of loss and defeat.
The result is a game that intentionally and unintentionally excels in making you feel like shit. In an unprecedented move for its medium, it paints the idea of not being either fun or a gratifying experience as its main goal.
It’s hell, but it’s refreshing.
The cast is pretty much the antithesis of the usual playable crew. The protagonist is a bloodlust-filled maniac driven solely by revenge and an incestuous lust for his own sister, and is accompanied by: a human-loathing, hypocritical dragon; a bossy, self-centered and racist priest; a blind, self-loathing pedophile that for some reason is probably the most empathizing of the bunch; and a cannibalistic elven woman driven to madness by the loss of her own children, with a sweet tooth for little kids.
Ballsy and edgy, and not in the greatest of ways, but it just fits this pit of madness; you get so numb to it that it doesn’t even feel like it’s trying too hard.
Now when it comes to the combat, they didn’t really try that hard; in fact, I don’t think they even tried. I mean, they probably wanted it to be good, but it landed right on the other side of the spectrum. And for some reason that works better here.
There’s both hack-and-slashy grounded combat segments inspired by Dynasty Warriors AND flying segments reminiscent of Panzer Dragoon and Ace Combat. Neither are very good; the former lacks impact, precision and for some reason both the player character’s actions and the camera move in respect to a close-but-otherwise-arbitrarily-chosen enemy, while the latter is as imprecise as its counterpart while having just an odd difficulty balance, and controls that in and of themselves are a challenge. It just makes the whole experience loathsome, which wasn’t the point. Wasn’t.
The soundtrack is just very… insane. I’ve seen people describe it as schizo music, and while I won’t comment on the ableism ingrained in that sentence, the sentiment behind it is quite… accurate. It’s the musical equivalent of putting your brain in a blender. Which is quite ironic given how it samples classical pieces and puts THEM in a musical blender.
It’s all just very odd, that given the story direction the game’s shortcomings work in its favor. This is the kind of game that is unique from its conception to its legacy, there’s nothing really like it, in a way that is even hard to explain.
It makes me question what makes a good game or a bad game, or even if there are games that fall out of that spectrum and belong somewhere different entirely. It wasn’t a pleasant experience, but was it a bad one?
I mean, it was worth it, and it made me feel things no other game did, no other ANYTHING did. It was not fun, it was not entertaining; it was miserable. But it was worth it.
And THAT is the game’s statement. Games don’t need to be fun, or beautiful, or entertaining, or just centered around giving the player a gratifying experience. They CAN, sure, but not as a rule. They can be more than that. Art is more than that.
[Edit: I’ve come to realize that while it’s implied, I’m not sure if the romantic love between Caim and Furiae goes both ways. {SPOILERS} Furiae definitively kills herself because of her not wanting her feelings exposed by Manah, but all that really entails is that he doesn’t (or she thinks he doesn’t) know about it, not really that it isn’t reciprocal. I’ve come to expect this kind of vagueness from Taro’s work, but I’ll still keep it written that he lusts for her because shock value; yes, I’m just like that.]
To be honest, these devs got lucky. Some of the decisions made here make them seem inexperienced at best, even for 2003 standards. But for some reason the writers decided it was a good time to unleash their accumulated anger and frustrations all at once into a project and ended up with a story as bizarre and deranged as it is dark and despairing; a subversion of every videogame trope poured into a long road of loss and defeat.
The result is a game that intentionally and unintentionally excels in making you feel like shit. In an unprecedented move for its medium, it paints the idea of not being either fun or a gratifying experience as its main goal.
It’s hell, but it’s refreshing.
The cast is pretty much the antithesis of the usual playable crew. The protagonist is a bloodlust-filled maniac driven solely by revenge and an incestuous lust for his own sister, and is accompanied by: a human-loathing, hypocritical dragon; a bossy, self-centered and racist priest; a blind, self-loathing pedophile that for some reason is probably the most empathizing of the bunch; and a cannibalistic elven woman driven to madness by the loss of her own children, with a sweet tooth for little kids.
Ballsy and edgy, and not in the greatest of ways, but it just fits this pit of madness; you get so numb to it that it doesn’t even feel like it’s trying too hard.
Now when it comes to the combat, they didn’t really try that hard; in fact, I don’t think they even tried. I mean, they probably wanted it to be good, but it landed right on the other side of the spectrum. And for some reason that works better here.
There’s both hack-and-slashy grounded combat segments inspired by Dynasty Warriors AND flying segments reminiscent of Panzer Dragoon and Ace Combat. Neither are very good; the former lacks impact, precision and for some reason both the player character’s actions and the camera move in respect to a close-but-otherwise-arbitrarily-chosen enemy, while the latter is as imprecise as its counterpart while having just an odd difficulty balance, and controls that in and of themselves are a challenge. It just makes the whole experience loathsome, which wasn’t the point. Wasn’t.
The soundtrack is just very… insane. I’ve seen people describe it as schizo music, and while I won’t comment on the ableism ingrained in that sentence, the sentiment behind it is quite… accurate. It’s the musical equivalent of putting your brain in a blender. Which is quite ironic given how it samples classical pieces and puts THEM in a musical blender.
It’s all just very odd, that given the story direction the game’s shortcomings work in its favor. This is the kind of game that is unique from its conception to its legacy, there’s nothing really like it, in a way that is even hard to explain.
It makes me question what makes a good game or a bad game, or even if there are games that fall out of that spectrum and belong somewhere different entirely. It wasn’t a pleasant experience, but was it a bad one?
I mean, it was worth it, and it made me feel things no other game did, no other ANYTHING did. It was not fun, it was not entertaining; it was miserable. But it was worth it.
And THAT is the game’s statement. Games don’t need to be fun, or beautiful, or entertaining, or just centered around giving the player a gratifying experience. They CAN, sure, but not as a rule. They can be more than that. Art is more than that.
[Edit: I’ve come to realize that while it’s implied, I’m not sure if the romantic love between Caim and Furiae goes both ways. {SPOILERS} Furiae definitively kills herself because of her not wanting her feelings exposed by Manah, but all that really entails is that he doesn’t (or she thinks he doesn’t) know about it, not really that it isn’t reciprocal. I’ve come to expect this kind of vagueness from Taro’s work, but I’ll still keep it written that he lusts for her because shock value; yes, I’m just like that.]
2023
Um curtíssimo jogo de puzzle disponível no Netflix. Não promete muito nem entrega muito; consigo dar mérito ao estilo de arte charmoso, à qualidade dos puzzles e a uma piada em específico que fez eu acordar meu avô de tanto rir.
Mas infelizmente é um daqueles jogos que possui um potencial tão grande que seu desperdício me faz clamar por algo a mais. Sabe quando a ideia é melhor do que eles conseguem executar? Um bom exemplo disso.
Mas infelizmente é um daqueles jogos que possui um potencial tão grande que seu desperdício me faz clamar por algo a mais. Sabe quando a ideia é melhor do que eles conseguem executar? Um bom exemplo disso.
1992
2004
O humor e estilo de arte metalinguísticos e absurdos combinados com sua velocidade frenética, personagens icônicos e inesperados (principalmente a novata Ashley) e uso integral das funcionalidades do DS tornam esse jogo um obrigatório pro console; ainda mais dada a duração curtíssima.
WarioWare sempre é o ápice da criatividade, desta vez com minigames que referenciam seu predecessor de forma engenhosa, assim como clássicos e consoles da Nintendo. Alguns minigames utilizam a tela de baixo do DS como um controle, enquanto o jogo é apresentado na tela de cima. Outros que são adaptados diretamente do seu predecessor, mostram um GameBoy Advance e em vez de jogar apertando os botões do DS, joga-se clicando nos botões do GBA na tela (o mesmo acontece com o GBA SP, o jogo é meta assim).
Cada grupo de “microgames” se encaixa com o personagem que os apresenta, por exemplo: Ashley possui uma personalidade entediada, então seus minigames são baseados em arrastar coisas com a stylus (um trocadilho com a expressão em inglês “drag”, que é utilizada em momentos de frustração ao realizar tarefas chatas, mas que literalmente significa arrastar), ou Mike (Mic, microfone), um robô mestre do Karaokê que apresenta jogos envolvendo assoprar no microfone do console.
É conceitualmente muito simples, mas na prática fornece uma variedade visual e de gameplay diferenciada, ao mesmo tempo em que se evolui gradualmente em dificuldade e complexidade; é uma aula de game design.
Só não sei por que fizeram o número 6 parecer um b.
WarioWare sempre é o ápice da criatividade, desta vez com minigames que referenciam seu predecessor de forma engenhosa, assim como clássicos e consoles da Nintendo. Alguns minigames utilizam a tela de baixo do DS como um controle, enquanto o jogo é apresentado na tela de cima. Outros que são adaptados diretamente do seu predecessor, mostram um GameBoy Advance e em vez de jogar apertando os botões do DS, joga-se clicando nos botões do GBA na tela (o mesmo acontece com o GBA SP, o jogo é meta assim).
Cada grupo de “microgames” se encaixa com o personagem que os apresenta, por exemplo: Ashley possui uma personalidade entediada, então seus minigames são baseados em arrastar coisas com a stylus (um trocadilho com a expressão em inglês “drag”, que é utilizada em momentos de frustração ao realizar tarefas chatas, mas que literalmente significa arrastar), ou Mike (Mic, microfone), um robô mestre do Karaokê que apresenta jogos envolvendo assoprar no microfone do console.
É conceitualmente muito simples, mas na prática fornece uma variedade visual e de gameplay diferenciada, ao mesmo tempo em que se evolui gradualmente em dificuldade e complexidade; é uma aula de game design.
Só não sei por que fizeram o número 6 parecer um b.
Impressionante que a Ubisoft tá tão mal que qualquer jogo bom que eles fazem é motivo de farra…
Como um novato na franquia, não entrarei nos méritos do retorno ao 2D e do abraço ao metroidvania; o que importa é o quão bem ele realiza isso. E sim, ele é muito competente.
De certa forma, The Lost Crown é um grande frankenstein de diversos outros jogos. As inspirações são palpáveis; o combate fluido e com ênfase em combos aéreos lembra muito algo que se encontra em um hack and slash, e encaixa bem com o excelente protagonista, Sargon. O sistema de amuletos é portado diretamente de Hollow Knight, assim como o de checkpoints. Os diálogos são apresentados com artes estilizadas dos personagens, lembrando muito o que a Supergiant faz. O jogo é um grande fluxo de ideias, um que não é dos mais coesos; mas funciona.
A direção de arte é estranha. O character design é interessantíssimo, e os cenários, além de lindos e variados, abraçam a temática do tempo instável (o que é refletido na gameplay). Porém, o estilo de arte me incomoda. Inicialmente não era o caso, mas quanto mais eu fui jogando, mais fui percebendo o desserviço que ele faz às suas qualidades artísticas, muitos momentos que deveriam ser lindos ou emocionantes acabam se tornando estranhos ou até cômicos por conta dos modelos e das animações. Sinto que se tivessem abraçado as lindas artes 2D dos diálogos eu teria ficado bem mais satisfeito. Além disso, existem efeitos 2D que são inseridos em certas animações, como nas habilidades especiais ou em introduções de chefes; a ideia é interessante, mas me tirou do jogo em vários momentos; entendo que a ideia era imitar a estética de Simurgh, o Deus principal da história, mas isso não adianta se não encaixa com a direção ou com a temática do jogo… Às vezes senti como se tivessem enchido o jogo de ideias legais sem pensar se fazem sentido ou não com o que queriam.
Não ajuda que, ao menos no mês do lançamento, o jogo está cheio de bugs. Bugs menores visuais afetam várias cenas e momentos visualmente, enquanto maiores me fizeram ter que reiniciar o jogo mais de uma vez. Vale destacar que esqueceram de dublar uma personagem, sendo largada com uma voz de text-to-speech genérica do Google.
A narrativa é funcional. No início, pareceu que seria algo grandioso, mas no fim é apenas uma desculpa pro jogo existir, o que não é problema. O elenco é legal, serve bem e conversar com a maioria dos personagens encontrados ao redor do mapa vale a pena. Só teve uma personagem que parecia intrigante mas a história esqueceu dela? Porra…
A lore é mais rica do que eu imaginava, é um mundo bem realizado, com vários detalhezinhos espalhados recompensando a exploração.
A gameplay é muito gostosa e satisfatória, gosto do impacto e das diferentes opções fornecidas, basicamente todas as habilidades desbloqueadas servem podem ser inseridas no combate, e o sistema de amuletos fornece um aspecto de customização bem legal. Dá pra fazer builds focadas em parry, outras em arco e flecha, ou até em teletransporte.
Os inimigos são interessantes e fornecem diferentes desafios; alguns não podem ser arremessados, outros revidam se derrubados; e o mesmo vale para os bombásticos chefes.
Mesmo com seus tropeços, Prince of Persia: The Lost Crown é um acerto, e um que vale a pena uma chance. Talvez tivesse sido melhor esperar uma promoção, principalmente para dar tempo de consertarem os problemas que mencionei, mas no fim ainda saí satisfeito, e espero que a Ubi aprenda com isso.
Como um novato na franquia, não entrarei nos méritos do retorno ao 2D e do abraço ao metroidvania; o que importa é o quão bem ele realiza isso. E sim, ele é muito competente.
De certa forma, The Lost Crown é um grande frankenstein de diversos outros jogos. As inspirações são palpáveis; o combate fluido e com ênfase em combos aéreos lembra muito algo que se encontra em um hack and slash, e encaixa bem com o excelente protagonista, Sargon. O sistema de amuletos é portado diretamente de Hollow Knight, assim como o de checkpoints. Os diálogos são apresentados com artes estilizadas dos personagens, lembrando muito o que a Supergiant faz. O jogo é um grande fluxo de ideias, um que não é dos mais coesos; mas funciona.
A direção de arte é estranha. O character design é interessantíssimo, e os cenários, além de lindos e variados, abraçam a temática do tempo instável (o que é refletido na gameplay). Porém, o estilo de arte me incomoda. Inicialmente não era o caso, mas quanto mais eu fui jogando, mais fui percebendo o desserviço que ele faz às suas qualidades artísticas, muitos momentos que deveriam ser lindos ou emocionantes acabam se tornando estranhos ou até cômicos por conta dos modelos e das animações. Sinto que se tivessem abraçado as lindas artes 2D dos diálogos eu teria ficado bem mais satisfeito. Além disso, existem efeitos 2D que são inseridos em certas animações, como nas habilidades especiais ou em introduções de chefes; a ideia é interessante, mas me tirou do jogo em vários momentos; entendo que a ideia era imitar a estética de Simurgh, o Deus principal da história, mas isso não adianta se não encaixa com a direção ou com a temática do jogo… Às vezes senti como se tivessem enchido o jogo de ideias legais sem pensar se fazem sentido ou não com o que queriam.
Não ajuda que, ao menos no mês do lançamento, o jogo está cheio de bugs. Bugs menores visuais afetam várias cenas e momentos visualmente, enquanto maiores me fizeram ter que reiniciar o jogo mais de uma vez. Vale destacar que esqueceram de dublar uma personagem, sendo largada com uma voz de text-to-speech genérica do Google.
A narrativa é funcional. No início, pareceu que seria algo grandioso, mas no fim é apenas uma desculpa pro jogo existir, o que não é problema. O elenco é legal, serve bem e conversar com a maioria dos personagens encontrados ao redor do mapa vale a pena. Só teve uma personagem que parecia intrigante mas a história esqueceu dela? Porra…
A lore é mais rica do que eu imaginava, é um mundo bem realizado, com vários detalhezinhos espalhados recompensando a exploração.
A gameplay é muito gostosa e satisfatória, gosto do impacto e das diferentes opções fornecidas, basicamente todas as habilidades desbloqueadas servem podem ser inseridas no combate, e o sistema de amuletos fornece um aspecto de customização bem legal. Dá pra fazer builds focadas em parry, outras em arco e flecha, ou até em teletransporte.
Os inimigos são interessantes e fornecem diferentes desafios; alguns não podem ser arremessados, outros revidam se derrubados; e o mesmo vale para os bombásticos chefes.
Mesmo com seus tropeços, Prince of Persia: The Lost Crown é um acerto, e um que vale a pena uma chance. Talvez tivesse sido melhor esperar uma promoção, principalmente para dar tempo de consertarem os problemas que mencionei, mas no fim ainda saí satisfeito, e espero que a Ubi aprenda com isso.
Esse é um daqueles jogos que podem ser utilizados tanto em uma aula sobre game design quanto em uma aula sobre os efeitos da cannabis na psique humana. E dada a duração do jogo ainda daria tempo pra jogar o resto da franquia antes da aula acabar…
Resumindo: não existe motivo para não jogar WarioWare, Inc. Só cuidado pra quem não tiver TDAH, porque é capaz de desenvolver jogando isso em doses elevadas.
Resumindo: não existe motivo para não jogar WarioWare, Inc. Só cuidado pra quem não tiver TDAH, porque é capaz de desenvolver jogando isso em doses elevadas.
2019
Senti que o objetivo principal de Control era instigar o jogador a questionar. Claro, controlar Jesse é muito divertido; Claro, a ambientação complexa e insana do Federal Bureau of Control é única, com um fator exploração pique metroidvania bem idealizado; Claro, seu mundo é meticulosamente construído, com regras, personagens e acontecimentos bem realizados para os que se comprometem a absorver as informações fornecidas por meio de diálogos, locais, e dos inúmeros arquivos (muito bem escritos, por sinal) que podem ser encontrados ao redor do mapa; e Claro, todas essas características se encaixam muito bem umas com as outras, formando um jogo coeso, um MUNDO coeso. Aliás, de certa forma, isso é bem irônico, pois se tem uma coisa que esse universo está bem longe de ser, é coeso. E intencionalmente.
Mas acima de tudo, Control pega tudo isso e preenche com perguntas. Não respostas, não mistérios a serem desbravados; perguntas que continuarão como perguntas. Não é um jogo para quem gosta de algo bem resolvido, não é um jogo para quem gosta de uma narrativa entregue de canudinho; é um jogo para quem quer quebrar a cabeça tentando botar sentido nos acontecimentos malucos que se desenrolam. É fascinante, é grandioso. É insano. Verdadeiramente insano, houve vários momentos em que eu fiquei de boca aberta com o que estava rolando. Um universo rico e viajado é algo que me faz querer mais e mais e mais toda vez que o desbravo, e dessa vez não foi diferente. São poucos os jogos em que a protagonista pode dizer “Isso foi Irado!!!!” do jeito mais bobo possível e mesmo assim em vez de sentir vergonha alheia você só consegue concordar. E esse conseguiu. Eu posso ter ficado horas irritado com a dificuldade estranhamente desafiadora, com inimigos que surgem do além enquanto corro pra me proteger e chefes medianos em quantidade E qualidade, o que é levemente frustrante visto que o combate do jogo é tão divertido e variado? Sim, mas eu não me importo. Control sabe o que quer e faz, e quem conhece meu gosto sabe que isso é a essência do que me atrai em um jogo; é a essência do que FAZ um bom jogo. E Control é um bom jogo. Um bom jogo viajado, um bom jogo maluco, um bom jogo em que o cheiro de maconha saindo do estúdio da Remedy durante o seu desenvolvimentosó não era mais forte que o tesão que a voz do Michael Porretta me faz sentir.
Mas acima de tudo, Control pega tudo isso e preenche com perguntas. Não respostas, não mistérios a serem desbravados; perguntas que continuarão como perguntas. Não é um jogo para quem gosta de algo bem resolvido, não é um jogo para quem gosta de uma narrativa entregue de canudinho; é um jogo para quem quer quebrar a cabeça tentando botar sentido nos acontecimentos malucos que se desenrolam. É fascinante, é grandioso. É insano. Verdadeiramente insano, houve vários momentos em que eu fiquei de boca aberta com o que estava rolando. Um universo rico e viajado é algo que me faz querer mais e mais e mais toda vez que o desbravo, e dessa vez não foi diferente. São poucos os jogos em que a protagonista pode dizer “Isso foi Irado!!!!” do jeito mais bobo possível e mesmo assim em vez de sentir vergonha alheia você só consegue concordar. E esse conseguiu. Eu posso ter ficado horas irritado com a dificuldade estranhamente desafiadora, com inimigos que surgem do além enquanto corro pra me proteger e chefes medianos em quantidade E qualidade, o que é levemente frustrante visto que o combate do jogo é tão divertido e variado? Sim, mas eu não me importo. Control sabe o que quer e faz, e quem conhece meu gosto sabe que isso é a essência do que me atrai em um jogo; é a essência do que FAZ um bom jogo. E Control é um bom jogo. Um bom jogo viajado, um bom jogo maluco, um bom jogo em que o cheiro de maconha saindo do estúdio da Remedy durante o seu desenvolvimentosó não era mais forte que o tesão que a voz do Michael Porretta me faz sentir.
2022
Nada melhor do que jogar um joguinho e terminar sentindo que sua vida era melhor 3 horas atrás quando você ainda não tinha o começado. Fui achando que seria um indiezinho gostoso de terror, saí sendo ludibriado por um shitpost em formato de jogo. Pelo menos dá pra se sentir inteligente com aquelas sacadas engraçadinhas de adventure game pique Grim Fandango.
Sorte a minha que eu não tenho a mentalidade fraca de ficar falando que jogo é soninho; me fez apreciar o quão fodas são as ideias (dentro e fora do papel, haha) que tiveram aqui. Joguinho curto e gostoso, e uma experiência altamente recomendada pra quem jogou o primeiro jogo.
Aliás, Rachel Meadows, eu te amo.
Aliás, Rachel Meadows, eu te amo.
2005
“The living leave traces of themselves wherever they go; and once you’re gone, it’s the traces that tell the story”
Essa frase dita por um dos personagens de Trace Memory não só descreve perfeitamente como é desbravar a mansão Edwards, local onde se passa o jogo, mas também toda a essência de jogos de mistério desse tipo, ou mais profundamente, sobre como a memória também pode ser material, como a vida continua mesmo após seu fim.
Trace Memory é curto e agridoce, assim como a vida, e te faz lembrar deste fato. Abaixo da premissa simples e pessoal há muita maturidade, com adolescentes de diferentes épocas se encontrando e se aproximando em meio à tragédias pessoais.
Contando duas histórias paralelas de forma realista e com pé no chão, esse jogo utiliza as funcionalidades do DS de forma total e com muita criatividade, e fato disso ter vindo diretamente de 2005 torna tudo mais impressionante. É único e atmosférico, com efeitos sonoros (destaque especial para os sons de passos) e músicas assombrantes, em uma ambientação simples mas muito bem realizada. Para uma experiência de uma tarde, foi bem gratificante, e mal posso esperar pelo remake.
[ps. joguei a demo do remake e… esperarei promoções]
Essa frase dita por um dos personagens de Trace Memory não só descreve perfeitamente como é desbravar a mansão Edwards, local onde se passa o jogo, mas também toda a essência de jogos de mistério desse tipo, ou mais profundamente, sobre como a memória também pode ser material, como a vida continua mesmo após seu fim.
Trace Memory é curto e agridoce, assim como a vida, e te faz lembrar deste fato. Abaixo da premissa simples e pessoal há muita maturidade, com adolescentes de diferentes épocas se encontrando e se aproximando em meio à tragédias pessoais.
Contando duas histórias paralelas de forma realista e com pé no chão, esse jogo utiliza as funcionalidades do DS de forma total e com muita criatividade, e fato disso ter vindo diretamente de 2005 torna tudo mais impressionante. É único e atmosférico, com efeitos sonoros (destaque especial para os sons de passos) e músicas assombrantes, em uma ambientação simples mas muito bem realizada. Para uma experiência de uma tarde, foi bem gratificante, e mal posso esperar pelo remake.
[ps. joguei a demo do remake e… esperarei promoções]
2019
Peguei Katana ZERO despretensiosamente só para dar uma relembrada, e só consegui parar depois de ter desbloqueado todas as armas alternativas e matado o boss secreto. Esse é um daqueles jogos que acerta e surpreende em basicamente tudo, principalmente em sua coesão. Só não falo que é perfeito por ser tão curto e pelos inimigos serem inteligentes (e diferentes entre si) tanto quanto stormtroopers.
Insano que já vai fazer 10 anos desde que Eiji Aonuma apareceu com uns matos verdes atrás dele falando do futuro The Legend of Zelda para Wii U. Bizarro como fases da sua vida vêm e vão mas certas coisas nunca mudam, né?
Bom, na verdade mudam sim. Quando coloquei minhas mãos em BOTW lá em 2017, não consegui tirar minhas mãos daquele trombolho que era o Wii U Game Pad até explorar cada cantinho daquela Hyrule e descobrir como seria o desfecho daquela intriga que durou 100 anos. E salve alguns problemas com a narrativa e a dublagem, foi um momento muito especial da minha vida, que eu carrego comigo até hoje.
Desde então já se passaram quase 6 anos; tempo o suficiente para querer revisitar algo tão importante, até mais de uma vez. Fato é, toda vez que tentei, não consegui. Percebi uma coisa: a maravilha que esse senso de descoberta lhe faz sentir tem prazo de validade. Talvez tenha sido por conta da minha teimosia em fazer tudo que já havia feito novamente, de resgatar aquilo que havia sentido anos atrás, em vez de tentar aproveitar de um jeito diferente. Talvez seja por que após o período da lua de mel, os problemas ficam mais aparentes. Quer qual seja a resposta, acho que é claro que eu não conseguiria desbravar aquele jogo novamente; não tão cedo.
Bom, a última vez que eu tentei foi há quase um ano, animado para o lançamento para sua sequência. Foi a tentativa mais eficiente, mas que ainda me desgastou. E hoje percebo que isso foi um erro, pois quando Tears of the Kingdom foi lançado, não durou muito até esse me desgastar também. E isso me machucou.
Depois de meses tentando e tentando jogar, totalizando 35 horas dispersas ao longo desse tempo, decidi fazer uma promessa de ano novo. A única. Tears of the Kingdom seria o primeiro jogo que eu terminaria em 2024.
E ouviram minhas preces.
Com mais de 90 horas de jogo, posso dizer finalmente que terminei TOTK, e que é um dos melhores jogos que eu já joguei.
Não sei por que esse 180° aconteceu, mas me apaixonei profundamente pela ideia de aprofundar mais esse mundo, revisitá-lo após tanto tempo. Isso é intensificado pelo fato do tempo cronológico entre os dois jogos ser (ou aparentar ser) similar ao tempo real entre seus lançamentos, fazendo me sentir parte desse mundo, de certa forma.
Acho que o principal motivo é o fato desse jogo ser a realização do conceito de BOTW. É uma sequência em todos os sentidos, e não só me entregou o que faltava, mas também o que eu não sabia que estava faltando.
É basicamente um “conserto” de um jogo que já era excelente. É o BOTW mas com um mundo expandido, com o dobro de inimigos e funcionalidades que cresceram exponencialmente; isso tudo torna o loop de gameplay, que não sofreu muitas mudanças diretas, muito mais robusto, complexo e acima de tudo, DIVERTIDO.
A história dessa vez é intrigante, e é a realização da ideia que tiveram em seu antecessor. O fato da narrativa ser construída em torno de um mistério importante casa muito mais com a estrutura com foco em exploração; a busca por respostas se alinha com a busca pelo desconhecido (ou pelo conhecido transformado).
O fato dessa Hyrule ser extremamente viva ajuda bastante. Não é muito diferente de seu predecessor nesse sentido, mas é gratificante ver personagens reagindo às mudanças no mundo, e às suas ações. Até coisas breves como comentários sobre o clima adicionam muito à imersão. Os diálogos são bem escritos, e os personagens que os protagonizam, carismáticos.
Nessa meada, as quests secundárias melhoraram MUITO. Me senti instigado a fazer a maioria, e ver como cada uma impacta o mundo, mesmo que minimamente, é suficiente para me motivar a querer terminar todas eventualmente.
O fato das ferramentas serem intrigantes me motiva da mesma forma; as shrines desta vez são muito mais bonitas, divertidas e variadas (tanto que já havia feito a maioria antes de terminar o jogo). Sua integração com as lanternas das profundezas também foi uma surpresa agradável.
Sobre as Depths: muito se comenta, bem e mal; eu pessoalmente sinto que poderiam ter sido melhor utilizadas, mas elas cumprem bem seu papel: fornecem algo diferente ao se exaustar com a superfície ou o céu; existem como um ambiente novo e assustador onde você claramente não é bem vindo (penso na superfície como o território onde os monstros são invasores; já as profundezas são território de monstros onde VOCÊ é o invasor); e por fim, se casam com a narrativa de diversas formas, desde a ambientação até às suas origens.
Meu único problema real está na navegação de inventário e botões; o famoso “jank”. Em especial as habilidades que são desbloqueadas após concluir as dungeons principais; ativá-las é um porre e isso me fez usá-las muito menos do que gostaria. O principal culpado é o fato disso ser uma elaboração de um jogo de 2017; para um jogo que passou tanto tempo em desenvolvimento (e especificamente em polimento), poderiam ter modernizado os controles dessa forma; isso também contribuiria para uma maior diferenciação de seu predecessor.
Falando em dungeons, senti que foram bem satisfatórias e relaxantes, mesmo que breves. Eu gostaria de um número maior, mas estou satisfeito com o que fizeram. Também não vou julgar o jogo usando os antigos como parâmetro; faço isso com BOTW por serem tão conectados (como OoT e MM) mas prefiro pensar em como seus aspectos servem à soma de suas partes, em vez de como eles se encaixam nas minhas noções pré-estabelecidas.
Enfim, Tears of the Kingdom foi de uma decepção para o que provavelmente se tornará um dos jogos mais importantes da minha vida, e por isso agradeço muito. Por um momento achei que Zelda não significava mais a mesma coisa pra mim; ainda bem que não é verdade.
Bom, na verdade mudam sim. Quando coloquei minhas mãos em BOTW lá em 2017, não consegui tirar minhas mãos daquele trombolho que era o Wii U Game Pad até explorar cada cantinho daquela Hyrule e descobrir como seria o desfecho daquela intriga que durou 100 anos. E salve alguns problemas com a narrativa e a dublagem, foi um momento muito especial da minha vida, que eu carrego comigo até hoje.
Desde então já se passaram quase 6 anos; tempo o suficiente para querer revisitar algo tão importante, até mais de uma vez. Fato é, toda vez que tentei, não consegui. Percebi uma coisa: a maravilha que esse senso de descoberta lhe faz sentir tem prazo de validade. Talvez tenha sido por conta da minha teimosia em fazer tudo que já havia feito novamente, de resgatar aquilo que havia sentido anos atrás, em vez de tentar aproveitar de um jeito diferente. Talvez seja por que após o período da lua de mel, os problemas ficam mais aparentes. Quer qual seja a resposta, acho que é claro que eu não conseguiria desbravar aquele jogo novamente; não tão cedo.
Bom, a última vez que eu tentei foi há quase um ano, animado para o lançamento para sua sequência. Foi a tentativa mais eficiente, mas que ainda me desgastou. E hoje percebo que isso foi um erro, pois quando Tears of the Kingdom foi lançado, não durou muito até esse me desgastar também. E isso me machucou.
Depois de meses tentando e tentando jogar, totalizando 35 horas dispersas ao longo desse tempo, decidi fazer uma promessa de ano novo. A única. Tears of the Kingdom seria o primeiro jogo que eu terminaria em 2024.
E ouviram minhas preces.
Com mais de 90 horas de jogo, posso dizer finalmente que terminei TOTK, e que é um dos melhores jogos que eu já joguei.
Não sei por que esse 180° aconteceu, mas me apaixonei profundamente pela ideia de aprofundar mais esse mundo, revisitá-lo após tanto tempo. Isso é intensificado pelo fato do tempo cronológico entre os dois jogos ser (ou aparentar ser) similar ao tempo real entre seus lançamentos, fazendo me sentir parte desse mundo, de certa forma.
Acho que o principal motivo é o fato desse jogo ser a realização do conceito de BOTW. É uma sequência em todos os sentidos, e não só me entregou o que faltava, mas também o que eu não sabia que estava faltando.
É basicamente um “conserto” de um jogo que já era excelente. É o BOTW mas com um mundo expandido, com o dobro de inimigos e funcionalidades que cresceram exponencialmente; isso tudo torna o loop de gameplay, que não sofreu muitas mudanças diretas, muito mais robusto, complexo e acima de tudo, DIVERTIDO.
A história dessa vez é intrigante, e é a realização da ideia que tiveram em seu antecessor. O fato da narrativa ser construída em torno de um mistério importante casa muito mais com a estrutura com foco em exploração; a busca por respostas se alinha com a busca pelo desconhecido (ou pelo conhecido transformado).
O fato dessa Hyrule ser extremamente viva ajuda bastante. Não é muito diferente de seu predecessor nesse sentido, mas é gratificante ver personagens reagindo às mudanças no mundo, e às suas ações. Até coisas breves como comentários sobre o clima adicionam muito à imersão. Os diálogos são bem escritos, e os personagens que os protagonizam, carismáticos.
Nessa meada, as quests secundárias melhoraram MUITO. Me senti instigado a fazer a maioria, e ver como cada uma impacta o mundo, mesmo que minimamente, é suficiente para me motivar a querer terminar todas eventualmente.
O fato das ferramentas serem intrigantes me motiva da mesma forma; as shrines desta vez são muito mais bonitas, divertidas e variadas (tanto que já havia feito a maioria antes de terminar o jogo). Sua integração com as lanternas das profundezas também foi uma surpresa agradável.
Sobre as Depths: muito se comenta, bem e mal; eu pessoalmente sinto que poderiam ter sido melhor utilizadas, mas elas cumprem bem seu papel: fornecem algo diferente ao se exaustar com a superfície ou o céu; existem como um ambiente novo e assustador onde você claramente não é bem vindo (penso na superfície como o território onde os monstros são invasores; já as profundezas são território de monstros onde VOCÊ é o invasor); e por fim, se casam com a narrativa de diversas formas, desde a ambientação até às suas origens.
Meu único problema real está na navegação de inventário e botões; o famoso “jank”. Em especial as habilidades que são desbloqueadas após concluir as dungeons principais; ativá-las é um porre e isso me fez usá-las muito menos do que gostaria. O principal culpado é o fato disso ser uma elaboração de um jogo de 2017; para um jogo que passou tanto tempo em desenvolvimento (e especificamente em polimento), poderiam ter modernizado os controles dessa forma; isso também contribuiria para uma maior diferenciação de seu predecessor.
Falando em dungeons, senti que foram bem satisfatórias e relaxantes, mesmo que breves. Eu gostaria de um número maior, mas estou satisfeito com o que fizeram. Também não vou julgar o jogo usando os antigos como parâmetro; faço isso com BOTW por serem tão conectados (como OoT e MM) mas prefiro pensar em como seus aspectos servem à soma de suas partes, em vez de como eles se encaixam nas minhas noções pré-estabelecidas.
Enfim, Tears of the Kingdom foi de uma decepção para o que provavelmente se tornará um dos jogos mais importantes da minha vida, e por isso agradeço muito. Por um momento achei que Zelda não significava mais a mesma coisa pra mim; ainda bem que não é verdade.