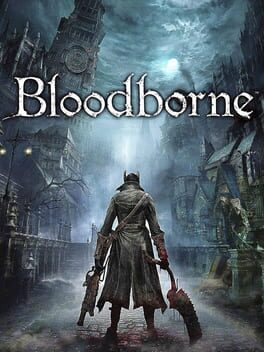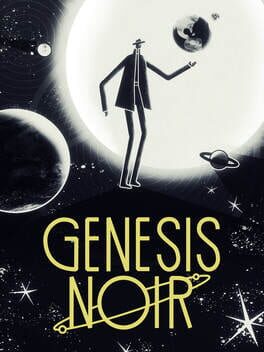jvalenteee
10 reviews liked by jvalenteee
This review contains spoilers
A família da jovem Edith Finch Jr. é amaldiçoada. A morte ronda sua linhagem, levando de forma trágica todos os Finch com exceção de um sobrevivente que consegue chegar à vida adulta e ter descendentes. Após a morte de sua mãe, Edith depara-se como a última sobrevivente de sua geração – e potencialmente a última Finch. Sozinha e procurando algum sentido em sua vida, Edith volta à casa ancestral de sua família pela primeira vez em sete anos. Lá ela pretende desvendar os mistérios que envolvem os Finches, aprender sobre suas mortes e, no processo, refletir sobre sua própria vida e futuro. É com essa premissa que What Remains of Edith Finch insere o jogador num mundo de realismo mágico em que a morte e os construtos sociais e subjetivos que fazemos dela são o tema central.
A mansão da família Finch talvez seja o aspecto mais absurdo da trama e aquele que a deixa no limite entre o realismo mágico e a pura fantasia. Sua arquitetura é bizarra no interior e exterior. Ao a avistarmos pela primeira vez, algo que fica bem evidente é a sua torre de anexo, que parece quase que acoplada de forma não muito segura à estrutura da casa, e dá ao conjunto arquitetônico uma silhueta um tanto surreal – silhueta que, diga-se de passagem, ilustra a capa do jogo.
O edifício tem função puramente simbólica, com sua utilidade como lugar de habitação ficando no segundo plano. A casa é a materialização da árvore genealógica da família Finch, com seu crescimento ascendente desordenado acompanhando a integração de novas gerações à família.
Se por fora a mansão é uma árvore genealógica, por dentro ela é um mausoléu. Cada quarto de um Finch é um pequeno túmulo, preservando artefatos, fotos, pinturas e outros apetrechos que resguardam sua memória e, especialmente, rememoram sua morte trágica. Novos membros da família não ocupam quartos antigos: eles ocupam novos cômodos, que são reapropriados ou construídos conforme a necessidade, até a sua inevitável (e normalmente trágica) morte tornar seu lugar de repouso diário em mais um lugar de repouso eterno.
Esse não é o único túmulo que os Finch ocupam. Além de seus quartos, cada Finch possui pelo menos mais duas sepulturas: uma mais tradicional no cemitério familiar, que se encontra dentro do terreno da mansão, em uma colina próxima; e outra mais abstrato na biblioteca da família.
O acesso de Edith a esses túmulos, não importa a forma que assumam, é limitado no início da narrativa. O cemitério é inacessível no começo do jogo; a biblioteca está trancada e sem uma forma aparente de como acessá-la; e os quartos foram todos selados por Dawn, mãe de Finch, antes de elas abandonarem a casa. De início, Finch pode apenas vislumbrar o interior dos quartos através de olhos mágicos que foram colocados nas portas: um acesso limitado e enviesado à vida de seus antepassados.
Para descobrir os segredos de sua família Edith precisa também descobrir os segredos de sua casa. Em mais um exemplo de seu projeto arquitetônico bizarro, a casa possui diversas passagens secretas que conectam os cômodos de forma inesperada. A chave que a protagonista recebeu de sua mãe como herança, em vez de abrir os portões principais da casa ou algum quarto, destrava uma das passagens secretas. É através dela que Edith inicia a exploração da casa e, por conseguinte, da história de sua família, a começar pelo quarto-túmulo de Molly Finch, sua falecida tia-avó.
Molly nasceu em 11 de dezembro de 1937 e morreu apenas dois dias após completar 10 anos de idade, em 13 de dezembro de 1947. Ela é a última Finch nascida na Noruega: todos os seus irmãos e o resto dos Finch nasceria em solo americano. Seu quarto-túmulo evidencia alguns elementos de sua personalidade enquanto viva. Em maior evidência fica o seu interesse pela natureza, com vários objetos decorativos representando animais e cenários naturais, além da presença de um aquário e uma pequena gaiola para roedores, onde outrora habitavam seu peixinho dourado e gerbilo de estimação.
O objeto de maior interesse para o jogador é o diário da antepassada. Nele temos os últimos escritos da criança na noite de sua morte. Ao manipularmos o objeto, o jogo muda a sua visão, com o jogador assumindo o papel de Molly naquela fatídica noite. Segue-se uma surreal narrativa de seus momentos finais.
Dois dias após seu aniversário, Molly acorda em sua cama sentindo muita fome. Por motivos não especificados ela foi enviada para seu quarto sem jantar naquela noite. Se o jogador tentar abrir a porta do quarto, a encontrará trancada e logo receberá uma bronca de sua mãe (Edith, bisavó da protagonista Edith), mandando-a voltar a dormir. Incapaz de ignorar sua fome, Molly procura em seu próprio quarto algo que a possa satisfazer. Após verificar que seus doces de Halloween acabaram, a garota come um pouco da comida de seu gerbilo. Ainda esfomeada, ela pondera se deve comer seu peixinho Christopher, mas se segura. No banheiro, ela ingere um tubo de pasta de dentes e algumas frutinhas vermelhas que serviam de decoração de natal nas janelas.
Incapaz de se satisfazer, Molly procura por mais alimento. É quando ela escuta chilro de uma pequena ave na janela de seu quarto. Ao tentar alcançá-lo, Molly repentinamente se transforma num gato. O choque da transformação não é o suficiente para diminuir sua fome. Após perseguir a pequena ave em sua forma felina e devorá-la, Molly passa por mais metamorfoses, cada uma delas refletindo sua crescente e insaciável fome: primeiro numa coruja, então num tubarão e finalmente num monstro marinho amorfo e cheio de tentáculos.
Após devorar um navio cheio de tripulantes, o monstro sente um cheiro irresistível. Seguindo-o através do mar até chegar num cano e, além dele, um banheiro, o monstro encontra-se nada menos do que de volta no quarto de Molly. Ele então se esconde debaixo da cama da criança, onde espera silenciosamente.
Molly então volta ao seu corpo, deitada em sua cama. A última coisa que ela escreve em seu diário é que sabe que o monstro está apenas esperando que ela vá dormir para devorá-la, e que ela sabe que será deliciosa. Na manhã seguinte, ela amanhece morta.
A interpretação da história de Molly não é muito difícil. Esfomeada, ela começou a digerir diversas coisas de seu quarto não apropriadas para humanos e potencialmente tóxicas, o que a levou a ter fortes alucinações antes de morrer. Em seus devaneios a garota transpassou os típicos e artificiais limites que colocamos entre seres humanos e o mundo natural; sua fome insaciável e insaciada a aproximou cada vez mais de um estado animalesco, consumindo sua mente até o momento de sua morte. Essa é, pelo menos, a explicação mais plausível. Interessantemente, ela não é elencada pela própria Edith Finch que, após ler o diário de sua antepassada, apenas comenta que não sabe se acredita naquilo tudo – mas afirma que sua bisavó Edith, a matriarca familiar a quem seu nome homenageia, com certeza acreditaria.
Para cada um dos antepassados de Edith Jr. temos uma experiência similar. Após explorar um pouco a casa através de passagens secretas chegamos a um novo quarto-túmulo, decorado de forma a relembrar quem habitava ali. No meio das decorações há algum objeto com o qual o jogador pode interagir e iniciar uma vinheta que reconta de forma dramática, poética e interativa os momentos finais daquele Finch. Mesmo após adentrar as alcovas a visão que Edith tem de seus antepassados continua tão limitada e enviesada quanto quando só podia observá-las através do olho mágico.
Nem todas as vinhetas são longas e variadas como a de Molly. Aquela que vemos imediatamente depois é uma das mais curtas, recontando a história de Odin Finch, trisavô da protagonista Edith Jr., pai da matriarca Edith e o responsável por trazer a família Finch da Noruega para os Estados Unidos.
Assim como a protagonista do jogo, Odin foi o último sobrevivente de sua geração. Tentando literalmente fugir da maldição que assolava sua família, ele emigrou para os Estados Unidos junto de sua filha, genro, neta – e casa, que de forma vagamente explicada no jogo foi transformada numa grande embarcação e levada para o outro lado do Oceano Atlântico. Mas a fuga foi em vão: nas margens de sua nova terra, Odin deparou-se com uma tempestade que afundou sua casa e o matou no processo. O restante de sua família sobreviveu e, na ilha em que atracaram, fundaram a nova casa dos Finch, literalmente sobre as sombras mórbidas da antiga casa, cujas ruínas podiam ser vistas semissubmersas a poucos metros de distância da costa.
Calvin, outro tio-avô de Edith Jr., parece ter herdado a teimosia inconsequente de Odin. Ele morreu aos 11 anos enquanto tentava realizar o sonho louco de muitas crianças e fazer o balanço de árvore em que brincava dar uma volta completa de 360º sobre o galho que estava preso. Apesar de bem-sucedido, como consequência ele foi lançado para fora do balanço em direção ao barranco na beira do mar e falecendo.
Quem reconta a história de Calvin, focando-se principalmente em sua teimosia e obstinação, é seu irmão gêmeo Sam. No quarto-túmulo de Calvin é que encontramos uma nota escrita pelo irmão sobrevivente, intitulada “Como Eu Quero Lembrar de Meu Irmão”.
Ou, sendo mais específico, na metade do quarto que se transformou no túmulo de Calvin. Sendo gêmeos, Calvin e Sam compartilhavam o mesmo cômodo. Mesmo após a morte de seu irmão Sam continuou a habitar o mesmo quarto até atingir a vida adulta. Como Edith Jr. bem elabora, “Meu avô Sam passou 7 anos compartilhando um quarto com seu irmão morto, Calvin.”
Antes de falarmos de Sam (que de diversas formas foi o “sobrevivente” de sua geração), faz-se necessário discorrer sobre seus outros dois irmãos, Barbara e Walter, cujas histórias estão intimamente ligadas.
Barbara foi uma estrela infantil cuja fama já havia acabado quando atingiu a adolescência. Sua juventude foi completamente ordinária, dedicando-se à high school, indo a festivais de música com amigas e realizando trabalhos de meio período para conseguir algum tipo de renda. Em meio a tudo isso ela ainda alimentava o desejo de retornar ao estrelato.
Em seu quarto-túmulo encontramos uma história em quadrinhos que reconta a noite de sua morte. Convidada para participar de um evento com fãs de seus filmes infantis, ela se vê frustrada quando seu pai sofre um acidente doméstico, obrigando-a a faltar ao evento e ficar em casa cuidando do irmão mais novo, Walter, enquanto sua mãe levava o pai ao hospital. Inicialmente acompanhada de seu namorado, depois de uma briga ficam apenas ela e seu irmão na casa. De madrugada, um homem mascarado invade a casa. Barbara luta contra ele e o joga da escada do segundo andar, mas ao descer não o encontra. É então que ela percebe que a casa foi invadida por vários monstros – vampiros, zumbis, lobisomens. Os monstros são na verdade seus fãs, que a devoram em seu “último papel”. Ao retornarem para casa, os pais de Barbara encontram apenas sua orelha esquartejada.
O quadrinho ficcionaliza e exagera grandemente a morte de Barbara, como de praxe nas vinhetas do jogo. De forma mais plausível, Barbara foi assassinada por um invasor humano, talvez o seu próprio namorado que retornou à casa depois da briga.
Não obstante os detalhes da morte de Barbara, Walter, seu irmão mais novo, testemunhou o evento. Durante o momento da invasão ele se escondeu debaixo da cama e viu pelo menos parte da luta de Barbara contra o invasor. Esse evento o traumatizou profundamente. Temendo ser atacado pelo mesmo “monstro” que matou sua irmã, Walter criou para si um bunker no subsolo da casa onde passou 30 anos de sua vida.
Se objetivamente Walter foi o membro de sua geração que viveu por mais tempo, vindo a falecer aos 52 anos em 31 de março de 2005, em termos pode-se dizer que sua vida, se não terminou, congelou no momento em que entrou no bunker. Durante os 30 anos em que ficou isolado no subsolo ele seguia uma mesma rotina repetitiva, em suas próprias palavras, literalmente vivendo o mesmo dia. Até que uma pequena mudança em seu itinerário causada por fatores exteriores – o trem que passava sempre no mesmo horário e lhe servia como um alarme para a hora de comer ficou defeituoso – o fez não aguentar mais o tédio. Após escrever uma carta de despedida, ele pegou uma marreta e destruiu uma das paredes do bunker, ganhando acesso a um túnel ferroviário. Antes que pudesse sair do túnel, ele foi atropelado pelo mesmo trem que durante todos aqueles anos serviu como âncora para sua rotina, consertado depois de uma semana inativo.
Sam, assim, pode não ter sido o membro de sua geração que viveu por mais tempo, mas é definitivamente o “sobrevivente” de sua geração e aquele que mais “viveu”. Sobrevivência, inclusive, é a grande obsessão do avô de Edith. Em vez de tentar fugir da morte, ele decidiu confrontá-la diretamente. Tão logo atingiu a vida adulta, entrou para o exército americano. Depois de sair da instituição, tomou como hobby a caça. Fui numa viagem de caça com sua filha Dawn (a mãe de Edith Jr.) que ele morreu, sendo jogado de um penhasco por um cervo que ele não verificou direito se estava morto.
Sam teve dois filhos além de Dawn, Gregory e Gus. Nenhum deles chegou à vida adulta. Gregory morreu quando ainda era um bebê, afogado numa banheira em que foi de forma negligente deixado enquanto sua mãe estava ao telefone brigando justamente com Sam – os dois estavam separados e em processo de divórcio. Já Gus morreu durante a festa de casamento de seu pai com sua nova esposa. Inconformado com o novo matrimônio do pai, ele ficou do lado de fora da festa soltando uma pipa e recusando-se a entrar ou abrigar-se mesmo com uma tempestade se formando. Durante o vendaval ele foi atingido por uma tenda.
Chegamos então à última geração dos Finches. Dawn, a última sobrevivente dos filhos de Sam e a única a chegar à vida adulta, casou-se com Sanjay Kumar enquanto fazia trabalhos voluntários na Índia. Com ele teve três filhos: Milton, Lewis e Edith Jr., a protagonista do jogo.
A geração de Edith Jr. era fortemente acometida com o que podemos chamar de uma crise de hiper-realidade: a incapacidade de distinguir a realidade da fantasia e, no limite, de perceber o mundo subjetivo como mais real do que o mundo objetivo. Se em toda a família Finch já era possível ver indícios dessa característica, é aqui que ela se demonstra de forma mais exacerbada. Milton e Lewis foram afetados de forma diferente por esse hiper-realismo: o primeiro, tornando sua morte completamente incerta; e no segundo, particularmente trágica.
Não há confirmação da morte de Milton. Aos 11 anos de idade, um ano após a morte de seu pai, o segundo filho de Dawn simplesmente desapareceu. Visitando o seu quarto e revendo suas memórias o destino do rapaz fica ainda mais ambíguo. Segundo a narrativa, certo dia o jovem simplesmente desenhou uma porta para outro mundo e a atravessou. Dawn nunca perdeu as esperanças de que um dia reencontraria o filho, publicando cartazes de “procura-se” até a sua morte e recusando-se a erguer um túmulo para ele no cemitério familiar. Apesar de seus esforços, ela nunca mais encontraria o seu filho.
Já no caso de Lewis, a finalidade de sua morte não poderia ter vindo de forma mais avassaladora para a sua família. O primogênito de Dawn enfrentou problemas com abuso de substâncias narcóticas durante a juventude e foi convencido por sua família a se tratar. A sobriedade trouxe à sua vida também monotonia. Trabalhando de forma mecânica e repetitiva numa fábrica de conservas, ele começou a se isolar do mundo. Para suportar o tédio, enquanto trabalhava criava em sua mente um mundo fantasioso em que ele era um rei aventureiro.
Para simular tanto o tédio quanto o escapismo de Lewis o jogo faz um excelente uso de suas mecânicas lúdicas. Com o mouse, fazendo movimentos repetitivos, o jogador deve pegar os peixes que chegam na linha de produção e decapitar suas cabeças numa navalha. Ao mesmo tempo, usando as teclas WASD do teclado, ele deve controlar um avatar no canto esquerdo da tela, que representa Lewis em seu mundo de fantasia. À medida que o tempo passa, esse mundo de fantasia que ocupa apenas um cantinho da tela começa a ocupar um espaço cada vez maior, ao passo que o jogador já não consegue mais ver os peixes vindo pela esteira – mas ele deve continuar fazendo os mesmos movimentos monótonos e repetitivos com o mouse, caso contrário a fantasia se desfará e ele voltará para o mundo real.
À medida que a fantasia de Lewis se expande ela também se torna cada vez mais imersiva e complexa. O avatar que a princípio era visto de cima para baixo vai ficando mais perto da tela, com a visão do jogo passando para a terceira pessoa sobre o ombro e depois primeira pessoa. Os sons da fantasia vão ficando cada vez mais altos, chegando ao ponto em que já não é mais possível escutar a cacofonia da fábrica de conservas. No ápice de sua fantasia, Lewis tem uma experiência extracorpórea. Como seu próprio avatar fantasioso, ele se vê na linha de produção da fábrica, mecanicamente empurrando os peixes que vêm da esteira para a guilhotina. Absorto completamente em sua fantasia, ele decidiu acabar com a vida de Lewis O Trabalhador da Fábrica de Conservas e viver apenas como Lewis Rei das Terras das Maravilhas. “Minha imaginação é tão real quanto meu corpo”6. Assim decidido, ele tragicamente se suicidou na fábrica em que trabalhava, decapitando-se na guilhotina do trabalho.
A morte de Lewis levou Dawn a tentar romper completamente seus laços com a família e, mais especificamente, com a casa. Ela estava convencida de que a maldição familiar é que havia lhe roubado os dois filhos e, mas especificamente, que o culto às histórias das mortes dos Finches ao qual Edith Sr. era tão dedicada havia sido uma influência determinante para que Lewis se perdesse em seu mundo fantasioso e eventualmente se matasse.
Edith Sr ocupava para toda a família o papel de grande matriarca. Além de ser a “sobrevivente” de sua geração e a Finch viva mais velha (morrendo aos 93 anos), foi ela, com seu marido Sven, quem construiu a casa dos Finches nos EUA após o óbito de Odin. Mas a casa que ela construiu foi dedicada aos mortos, não aos vivos. O primeiro local da nova morada da família a ser planejado e finalizado foi o cemitério, e foi dela a ideia de transformar os quartos de todos os Finches em quartos-túmulo. Além disso, ela se dedicava à decoração dos quartos, ao planejamento dos túmulos, à preservação das histórias trágicas dos Finches na biblioteca da família. Sua obsessão com e memória não apenas dos mortos, mas a memória da morte se estendia até para os animais da família, que tinham um lugar reservado no cemitério familiar. Edie Sr. não praticava um culto aos mortos, mas um culto à morte.
Já a relação de Dawn com a história de sua família e, especialmente, com a morte, era muito mais ambígua. Se por um lado ela via esse culto à morte praticado por sua avó como perigoso e estando na raiz da maldição familiar que levou muitos Finches, por outro ela tinha sua própria forma de comemorar seus antepassados. É interessante, por exemplo, como foi dela a ideia de dar ao gato da família o nome de Molly, e nomeou sua filha Edith em homenagem à matriarca. E a morte, do mesmo jeito que a afastou de Edith Sr. e a levou a sair da casa da família com sua única filha sobrevivente, foi o que inicialmente a aproximou da matriarca e a fez retornar à casa, quando do óbito de seu marido Sanjay.
Central na vida de Edith Sr. estava o culto aos mortos, e o culto à própria morte. Já na vida de Dawn estava o luto: pela morte de seus irmãos, então de seus pais, de seu marido e finalmente de seus filhos.
Edith Sr. morreu na noite em que Dawn e Edith Jr. saíra da casa ancestral da família. Num misto de desgosto, teimosia e insatisfação, ela misturou alguns de seus remédios com álcool e veio a óbito na manhã seguinte. Enquanto isso, Dawn morreu alguns anos depois, acometida por uma doença não identificada, acompanhada por sua filha. Em seu testamento deixou à Edith Jr. a chave que lhe daria acesso às passagens secretas da casa e seria o gatilho para seu retorno à mansão depois de sete anos.
Quando Edith Jr. visita a casa ancestral de sua família ela está grávida. Ela é a última Finch de sua geração, mas não a última Finch. Sua jornada de descoberta não tem o intuito apenas de processar o legado e o trauma familiar que ela carrega – um trauma tão grande que é visto como uma maldição de morte. Seu desejo é processar e entender a história de sua família para que possa comunicá-la ao seu futuro filho. E que, em posse dessa história, em vez de ele cultuar, fugir, confrontar, ignorar ou negar a morte, ele possa apreciar sua vida. “Eu quero que você se sinta maravilhado que qualquer um de nós já teve a chance de estar aqui.”
Ao final, Edith Jr. não é capaz de comunicar isso diretamente ao seu filho, Christopher. Ela vem a falecer durante o parto. Todas as suas considerações e o que ela descobriu da História e histórias de sua família estão em seu diário, que ela escreveu para seu filho. Christopher é o que restou de Edith Finch.
A mansão da família Finch talvez seja o aspecto mais absurdo da trama e aquele que a deixa no limite entre o realismo mágico e a pura fantasia. Sua arquitetura é bizarra no interior e exterior. Ao a avistarmos pela primeira vez, algo que fica bem evidente é a sua torre de anexo, que parece quase que acoplada de forma não muito segura à estrutura da casa, e dá ao conjunto arquitetônico uma silhueta um tanto surreal – silhueta que, diga-se de passagem, ilustra a capa do jogo.
O edifício tem função puramente simbólica, com sua utilidade como lugar de habitação ficando no segundo plano. A casa é a materialização da árvore genealógica da família Finch, com seu crescimento ascendente desordenado acompanhando a integração de novas gerações à família.
Se por fora a mansão é uma árvore genealógica, por dentro ela é um mausoléu. Cada quarto de um Finch é um pequeno túmulo, preservando artefatos, fotos, pinturas e outros apetrechos que resguardam sua memória e, especialmente, rememoram sua morte trágica. Novos membros da família não ocupam quartos antigos: eles ocupam novos cômodos, que são reapropriados ou construídos conforme a necessidade, até a sua inevitável (e normalmente trágica) morte tornar seu lugar de repouso diário em mais um lugar de repouso eterno.
Esse não é o único túmulo que os Finch ocupam. Além de seus quartos, cada Finch possui pelo menos mais duas sepulturas: uma mais tradicional no cemitério familiar, que se encontra dentro do terreno da mansão, em uma colina próxima; e outra mais abstrato na biblioteca da família.
O acesso de Edith a esses túmulos, não importa a forma que assumam, é limitado no início da narrativa. O cemitério é inacessível no começo do jogo; a biblioteca está trancada e sem uma forma aparente de como acessá-la; e os quartos foram todos selados por Dawn, mãe de Finch, antes de elas abandonarem a casa. De início, Finch pode apenas vislumbrar o interior dos quartos através de olhos mágicos que foram colocados nas portas: um acesso limitado e enviesado à vida de seus antepassados.
Para descobrir os segredos de sua família Edith precisa também descobrir os segredos de sua casa. Em mais um exemplo de seu projeto arquitetônico bizarro, a casa possui diversas passagens secretas que conectam os cômodos de forma inesperada. A chave que a protagonista recebeu de sua mãe como herança, em vez de abrir os portões principais da casa ou algum quarto, destrava uma das passagens secretas. É através dela que Edith inicia a exploração da casa e, por conseguinte, da história de sua família, a começar pelo quarto-túmulo de Molly Finch, sua falecida tia-avó.
Molly nasceu em 11 de dezembro de 1937 e morreu apenas dois dias após completar 10 anos de idade, em 13 de dezembro de 1947. Ela é a última Finch nascida na Noruega: todos os seus irmãos e o resto dos Finch nasceria em solo americano. Seu quarto-túmulo evidencia alguns elementos de sua personalidade enquanto viva. Em maior evidência fica o seu interesse pela natureza, com vários objetos decorativos representando animais e cenários naturais, além da presença de um aquário e uma pequena gaiola para roedores, onde outrora habitavam seu peixinho dourado e gerbilo de estimação.
O objeto de maior interesse para o jogador é o diário da antepassada. Nele temos os últimos escritos da criança na noite de sua morte. Ao manipularmos o objeto, o jogo muda a sua visão, com o jogador assumindo o papel de Molly naquela fatídica noite. Segue-se uma surreal narrativa de seus momentos finais.
Dois dias após seu aniversário, Molly acorda em sua cama sentindo muita fome. Por motivos não especificados ela foi enviada para seu quarto sem jantar naquela noite. Se o jogador tentar abrir a porta do quarto, a encontrará trancada e logo receberá uma bronca de sua mãe (Edith, bisavó da protagonista Edith), mandando-a voltar a dormir. Incapaz de ignorar sua fome, Molly procura em seu próprio quarto algo que a possa satisfazer. Após verificar que seus doces de Halloween acabaram, a garota come um pouco da comida de seu gerbilo. Ainda esfomeada, ela pondera se deve comer seu peixinho Christopher, mas se segura. No banheiro, ela ingere um tubo de pasta de dentes e algumas frutinhas vermelhas que serviam de decoração de natal nas janelas.
Incapaz de se satisfazer, Molly procura por mais alimento. É quando ela escuta chilro de uma pequena ave na janela de seu quarto. Ao tentar alcançá-lo, Molly repentinamente se transforma num gato. O choque da transformação não é o suficiente para diminuir sua fome. Após perseguir a pequena ave em sua forma felina e devorá-la, Molly passa por mais metamorfoses, cada uma delas refletindo sua crescente e insaciável fome: primeiro numa coruja, então num tubarão e finalmente num monstro marinho amorfo e cheio de tentáculos.
Após devorar um navio cheio de tripulantes, o monstro sente um cheiro irresistível. Seguindo-o através do mar até chegar num cano e, além dele, um banheiro, o monstro encontra-se nada menos do que de volta no quarto de Molly. Ele então se esconde debaixo da cama da criança, onde espera silenciosamente.
Molly então volta ao seu corpo, deitada em sua cama. A última coisa que ela escreve em seu diário é que sabe que o monstro está apenas esperando que ela vá dormir para devorá-la, e que ela sabe que será deliciosa. Na manhã seguinte, ela amanhece morta.
A interpretação da história de Molly não é muito difícil. Esfomeada, ela começou a digerir diversas coisas de seu quarto não apropriadas para humanos e potencialmente tóxicas, o que a levou a ter fortes alucinações antes de morrer. Em seus devaneios a garota transpassou os típicos e artificiais limites que colocamos entre seres humanos e o mundo natural; sua fome insaciável e insaciada a aproximou cada vez mais de um estado animalesco, consumindo sua mente até o momento de sua morte. Essa é, pelo menos, a explicação mais plausível. Interessantemente, ela não é elencada pela própria Edith Finch que, após ler o diário de sua antepassada, apenas comenta que não sabe se acredita naquilo tudo – mas afirma que sua bisavó Edith, a matriarca familiar a quem seu nome homenageia, com certeza acreditaria.
Para cada um dos antepassados de Edith Jr. temos uma experiência similar. Após explorar um pouco a casa através de passagens secretas chegamos a um novo quarto-túmulo, decorado de forma a relembrar quem habitava ali. No meio das decorações há algum objeto com o qual o jogador pode interagir e iniciar uma vinheta que reconta de forma dramática, poética e interativa os momentos finais daquele Finch. Mesmo após adentrar as alcovas a visão que Edith tem de seus antepassados continua tão limitada e enviesada quanto quando só podia observá-las através do olho mágico.
Nem todas as vinhetas são longas e variadas como a de Molly. Aquela que vemos imediatamente depois é uma das mais curtas, recontando a história de Odin Finch, trisavô da protagonista Edith Jr., pai da matriarca Edith e o responsável por trazer a família Finch da Noruega para os Estados Unidos.
Assim como a protagonista do jogo, Odin foi o último sobrevivente de sua geração. Tentando literalmente fugir da maldição que assolava sua família, ele emigrou para os Estados Unidos junto de sua filha, genro, neta – e casa, que de forma vagamente explicada no jogo foi transformada numa grande embarcação e levada para o outro lado do Oceano Atlântico. Mas a fuga foi em vão: nas margens de sua nova terra, Odin deparou-se com uma tempestade que afundou sua casa e o matou no processo. O restante de sua família sobreviveu e, na ilha em que atracaram, fundaram a nova casa dos Finch, literalmente sobre as sombras mórbidas da antiga casa, cujas ruínas podiam ser vistas semissubmersas a poucos metros de distância da costa.
Calvin, outro tio-avô de Edith Jr., parece ter herdado a teimosia inconsequente de Odin. Ele morreu aos 11 anos enquanto tentava realizar o sonho louco de muitas crianças e fazer o balanço de árvore em que brincava dar uma volta completa de 360º sobre o galho que estava preso. Apesar de bem-sucedido, como consequência ele foi lançado para fora do balanço em direção ao barranco na beira do mar e falecendo.
Quem reconta a história de Calvin, focando-se principalmente em sua teimosia e obstinação, é seu irmão gêmeo Sam. No quarto-túmulo de Calvin é que encontramos uma nota escrita pelo irmão sobrevivente, intitulada “Como Eu Quero Lembrar de Meu Irmão”.
Ou, sendo mais específico, na metade do quarto que se transformou no túmulo de Calvin. Sendo gêmeos, Calvin e Sam compartilhavam o mesmo cômodo. Mesmo após a morte de seu irmão Sam continuou a habitar o mesmo quarto até atingir a vida adulta. Como Edith Jr. bem elabora, “Meu avô Sam passou 7 anos compartilhando um quarto com seu irmão morto, Calvin.”
Antes de falarmos de Sam (que de diversas formas foi o “sobrevivente” de sua geração), faz-se necessário discorrer sobre seus outros dois irmãos, Barbara e Walter, cujas histórias estão intimamente ligadas.
Barbara foi uma estrela infantil cuja fama já havia acabado quando atingiu a adolescência. Sua juventude foi completamente ordinária, dedicando-se à high school, indo a festivais de música com amigas e realizando trabalhos de meio período para conseguir algum tipo de renda. Em meio a tudo isso ela ainda alimentava o desejo de retornar ao estrelato.
Em seu quarto-túmulo encontramos uma história em quadrinhos que reconta a noite de sua morte. Convidada para participar de um evento com fãs de seus filmes infantis, ela se vê frustrada quando seu pai sofre um acidente doméstico, obrigando-a a faltar ao evento e ficar em casa cuidando do irmão mais novo, Walter, enquanto sua mãe levava o pai ao hospital. Inicialmente acompanhada de seu namorado, depois de uma briga ficam apenas ela e seu irmão na casa. De madrugada, um homem mascarado invade a casa. Barbara luta contra ele e o joga da escada do segundo andar, mas ao descer não o encontra. É então que ela percebe que a casa foi invadida por vários monstros – vampiros, zumbis, lobisomens. Os monstros são na verdade seus fãs, que a devoram em seu “último papel”. Ao retornarem para casa, os pais de Barbara encontram apenas sua orelha esquartejada.
O quadrinho ficcionaliza e exagera grandemente a morte de Barbara, como de praxe nas vinhetas do jogo. De forma mais plausível, Barbara foi assassinada por um invasor humano, talvez o seu próprio namorado que retornou à casa depois da briga.
Não obstante os detalhes da morte de Barbara, Walter, seu irmão mais novo, testemunhou o evento. Durante o momento da invasão ele se escondeu debaixo da cama e viu pelo menos parte da luta de Barbara contra o invasor. Esse evento o traumatizou profundamente. Temendo ser atacado pelo mesmo “monstro” que matou sua irmã, Walter criou para si um bunker no subsolo da casa onde passou 30 anos de sua vida.
Se objetivamente Walter foi o membro de sua geração que viveu por mais tempo, vindo a falecer aos 52 anos em 31 de março de 2005, em termos pode-se dizer que sua vida, se não terminou, congelou no momento em que entrou no bunker. Durante os 30 anos em que ficou isolado no subsolo ele seguia uma mesma rotina repetitiva, em suas próprias palavras, literalmente vivendo o mesmo dia. Até que uma pequena mudança em seu itinerário causada por fatores exteriores – o trem que passava sempre no mesmo horário e lhe servia como um alarme para a hora de comer ficou defeituoso – o fez não aguentar mais o tédio. Após escrever uma carta de despedida, ele pegou uma marreta e destruiu uma das paredes do bunker, ganhando acesso a um túnel ferroviário. Antes que pudesse sair do túnel, ele foi atropelado pelo mesmo trem que durante todos aqueles anos serviu como âncora para sua rotina, consertado depois de uma semana inativo.
Sam, assim, pode não ter sido o membro de sua geração que viveu por mais tempo, mas é definitivamente o “sobrevivente” de sua geração e aquele que mais “viveu”. Sobrevivência, inclusive, é a grande obsessão do avô de Edith. Em vez de tentar fugir da morte, ele decidiu confrontá-la diretamente. Tão logo atingiu a vida adulta, entrou para o exército americano. Depois de sair da instituição, tomou como hobby a caça. Fui numa viagem de caça com sua filha Dawn (a mãe de Edith Jr.) que ele morreu, sendo jogado de um penhasco por um cervo que ele não verificou direito se estava morto.
Sam teve dois filhos além de Dawn, Gregory e Gus. Nenhum deles chegou à vida adulta. Gregory morreu quando ainda era um bebê, afogado numa banheira em que foi de forma negligente deixado enquanto sua mãe estava ao telefone brigando justamente com Sam – os dois estavam separados e em processo de divórcio. Já Gus morreu durante a festa de casamento de seu pai com sua nova esposa. Inconformado com o novo matrimônio do pai, ele ficou do lado de fora da festa soltando uma pipa e recusando-se a entrar ou abrigar-se mesmo com uma tempestade se formando. Durante o vendaval ele foi atingido por uma tenda.
Chegamos então à última geração dos Finches. Dawn, a última sobrevivente dos filhos de Sam e a única a chegar à vida adulta, casou-se com Sanjay Kumar enquanto fazia trabalhos voluntários na Índia. Com ele teve três filhos: Milton, Lewis e Edith Jr., a protagonista do jogo.
A geração de Edith Jr. era fortemente acometida com o que podemos chamar de uma crise de hiper-realidade: a incapacidade de distinguir a realidade da fantasia e, no limite, de perceber o mundo subjetivo como mais real do que o mundo objetivo. Se em toda a família Finch já era possível ver indícios dessa característica, é aqui que ela se demonstra de forma mais exacerbada. Milton e Lewis foram afetados de forma diferente por esse hiper-realismo: o primeiro, tornando sua morte completamente incerta; e no segundo, particularmente trágica.
Não há confirmação da morte de Milton. Aos 11 anos de idade, um ano após a morte de seu pai, o segundo filho de Dawn simplesmente desapareceu. Visitando o seu quarto e revendo suas memórias o destino do rapaz fica ainda mais ambíguo. Segundo a narrativa, certo dia o jovem simplesmente desenhou uma porta para outro mundo e a atravessou. Dawn nunca perdeu as esperanças de que um dia reencontraria o filho, publicando cartazes de “procura-se” até a sua morte e recusando-se a erguer um túmulo para ele no cemitério familiar. Apesar de seus esforços, ela nunca mais encontraria o seu filho.
Já no caso de Lewis, a finalidade de sua morte não poderia ter vindo de forma mais avassaladora para a sua família. O primogênito de Dawn enfrentou problemas com abuso de substâncias narcóticas durante a juventude e foi convencido por sua família a se tratar. A sobriedade trouxe à sua vida também monotonia. Trabalhando de forma mecânica e repetitiva numa fábrica de conservas, ele começou a se isolar do mundo. Para suportar o tédio, enquanto trabalhava criava em sua mente um mundo fantasioso em que ele era um rei aventureiro.
Para simular tanto o tédio quanto o escapismo de Lewis o jogo faz um excelente uso de suas mecânicas lúdicas. Com o mouse, fazendo movimentos repetitivos, o jogador deve pegar os peixes que chegam na linha de produção e decapitar suas cabeças numa navalha. Ao mesmo tempo, usando as teclas WASD do teclado, ele deve controlar um avatar no canto esquerdo da tela, que representa Lewis em seu mundo de fantasia. À medida que o tempo passa, esse mundo de fantasia que ocupa apenas um cantinho da tela começa a ocupar um espaço cada vez maior, ao passo que o jogador já não consegue mais ver os peixes vindo pela esteira – mas ele deve continuar fazendo os mesmos movimentos monótonos e repetitivos com o mouse, caso contrário a fantasia se desfará e ele voltará para o mundo real.
À medida que a fantasia de Lewis se expande ela também se torna cada vez mais imersiva e complexa. O avatar que a princípio era visto de cima para baixo vai ficando mais perto da tela, com a visão do jogo passando para a terceira pessoa sobre o ombro e depois primeira pessoa. Os sons da fantasia vão ficando cada vez mais altos, chegando ao ponto em que já não é mais possível escutar a cacofonia da fábrica de conservas. No ápice de sua fantasia, Lewis tem uma experiência extracorpórea. Como seu próprio avatar fantasioso, ele se vê na linha de produção da fábrica, mecanicamente empurrando os peixes que vêm da esteira para a guilhotina. Absorto completamente em sua fantasia, ele decidiu acabar com a vida de Lewis O Trabalhador da Fábrica de Conservas e viver apenas como Lewis Rei das Terras das Maravilhas. “Minha imaginação é tão real quanto meu corpo”6. Assim decidido, ele tragicamente se suicidou na fábrica em que trabalhava, decapitando-se na guilhotina do trabalho.
A morte de Lewis levou Dawn a tentar romper completamente seus laços com a família e, mais especificamente, com a casa. Ela estava convencida de que a maldição familiar é que havia lhe roubado os dois filhos e, mas especificamente, que o culto às histórias das mortes dos Finches ao qual Edith Sr. era tão dedicada havia sido uma influência determinante para que Lewis se perdesse em seu mundo fantasioso e eventualmente se matasse.
Edith Sr ocupava para toda a família o papel de grande matriarca. Além de ser a “sobrevivente” de sua geração e a Finch viva mais velha (morrendo aos 93 anos), foi ela, com seu marido Sven, quem construiu a casa dos Finches nos EUA após o óbito de Odin. Mas a casa que ela construiu foi dedicada aos mortos, não aos vivos. O primeiro local da nova morada da família a ser planejado e finalizado foi o cemitério, e foi dela a ideia de transformar os quartos de todos os Finches em quartos-túmulo. Além disso, ela se dedicava à decoração dos quartos, ao planejamento dos túmulos, à preservação das histórias trágicas dos Finches na biblioteca da família. Sua obsessão com e memória não apenas dos mortos, mas a memória da morte se estendia até para os animais da família, que tinham um lugar reservado no cemitério familiar. Edie Sr. não praticava um culto aos mortos, mas um culto à morte.
Já a relação de Dawn com a história de sua família e, especialmente, com a morte, era muito mais ambígua. Se por um lado ela via esse culto à morte praticado por sua avó como perigoso e estando na raiz da maldição familiar que levou muitos Finches, por outro ela tinha sua própria forma de comemorar seus antepassados. É interessante, por exemplo, como foi dela a ideia de dar ao gato da família o nome de Molly, e nomeou sua filha Edith em homenagem à matriarca. E a morte, do mesmo jeito que a afastou de Edith Sr. e a levou a sair da casa da família com sua única filha sobrevivente, foi o que inicialmente a aproximou da matriarca e a fez retornar à casa, quando do óbito de seu marido Sanjay.
Central na vida de Edith Sr. estava o culto aos mortos, e o culto à própria morte. Já na vida de Dawn estava o luto: pela morte de seus irmãos, então de seus pais, de seu marido e finalmente de seus filhos.
Edith Sr. morreu na noite em que Dawn e Edith Jr. saíra da casa ancestral da família. Num misto de desgosto, teimosia e insatisfação, ela misturou alguns de seus remédios com álcool e veio a óbito na manhã seguinte. Enquanto isso, Dawn morreu alguns anos depois, acometida por uma doença não identificada, acompanhada por sua filha. Em seu testamento deixou à Edith Jr. a chave que lhe daria acesso às passagens secretas da casa e seria o gatilho para seu retorno à mansão depois de sete anos.
Quando Edith Jr. visita a casa ancestral de sua família ela está grávida. Ela é a última Finch de sua geração, mas não a última Finch. Sua jornada de descoberta não tem o intuito apenas de processar o legado e o trauma familiar que ela carrega – um trauma tão grande que é visto como uma maldição de morte. Seu desejo é processar e entender a história de sua família para que possa comunicá-la ao seu futuro filho. E que, em posse dessa história, em vez de ele cultuar, fugir, confrontar, ignorar ou negar a morte, ele possa apreciar sua vida. “Eu quero que você se sinta maravilhado que qualquer um de nós já teve a chance de estar aqui.”
Ao final, Edith Jr. não é capaz de comunicar isso diretamente ao seu filho, Christopher. Ela vem a falecer durante o parto. Todas as suas considerações e o que ela descobriu da História e histórias de sua família estão em seu diário, que ela escreveu para seu filho. Christopher é o que restou de Edith Finch.
Eu me odeio por ter jogado isso no feriado de finados, hoje não foi um bom dia pra minha cabeça, e eu tenho muitos arrependimentos de coisas que deixei de fazer com aqueles que já se foram. Foi um dia aonde eu chorei com as historias que eu lembrei juntos de meus tios, mesmo que eu seja tomado pela saudade, e pela culpa daquele ultimo abraço não dado, foi um dia que eu aceitei a efemeridade da vida e lidar com os meus demônios.
Edith Finch é uma aula em tudo que se permite fazer, mas principalmente de narrativa, trabalhar morte com tanta delicadeza é pra poucos. Mas o que me fez gostar de Edith Finch é algo muito mais pessoal.
Jogar despretensiosamente me fez ser pego de surpresa pelos seus temas, mas era a mensagem que eu precisava ouvir no final desse dia. Tá tudo bem, coisas ruins acontecem, elas podem doer, magoar, divertir e até mesmo te fazer chorar, mas são historias, e alguém precisa ficar pra conta-las. Talvez uma das melhores narrativas da oitava geração, mas é certo que é um jogo que vai ficar no meu coração.
Edith Finch é uma aula em tudo que se permite fazer, mas principalmente de narrativa, trabalhar morte com tanta delicadeza é pra poucos. Mas o que me fez gostar de Edith Finch é algo muito mais pessoal.
Jogar despretensiosamente me fez ser pego de surpresa pelos seus temas, mas era a mensagem que eu precisava ouvir no final desse dia. Tá tudo bem, coisas ruins acontecem, elas podem doer, magoar, divertir e até mesmo te fazer chorar, mas são historias, e alguém precisa ficar pra conta-las. Talvez uma das melhores narrativas da oitava geração, mas é certo que é um jogo que vai ficar no meu coração.
Stray
2022
The Messenger
2018
This review contains spoilers
Eu pensei que The Messenger era uma paródia afetuosa de Ninja Gaiden. Após 12 horas de jogatina, descubro que estou errado. A apatia coletiva por trás de todos os personagens, que parecem a todo momento não levar nada a sério e não perderem a oportunidade de fazer trocadilhos e piadinhas não importa a situação, é um mecanismo de defesa. O mundo de The Messenger não é o mundo de u desenho animado que sempre tem tempo para tirar sarro da aparente falta de lógica de vários de seus tropos: é um mundo de horror cósmico em que os poucos sobreviventes de um holocausto que transcende o tempo e espaço fazem o que podem para manter seus resquícios de sanidade e esperança. Que isso tenho sido tão bem camuflado por boa parte do jogo e, quando revelado, se demonstre perfeitamente coerente com narrativa, é um testemunho do quão bem escrito é o game e como ele sabe escolher a hora certa para se revelar como mais profundo do que parece.
Eu diria que, na base, é esse senso de ritmo o segredo de The Messenger, a grande característica que o torna especial. Veja, por exemplo, a maneira como a aventura é dividida em duas partes: o que é a princípio um action-platformer 8-bits linear depois se revela como um quasi-metroidvania com viagem no tempo e gráficos 16-bits. Essa estrutura permite que todas as principais mecânicas do jogo sejam introduzidas uma a uma, de forma isolada, com os desafios se complexificando de forma progressiva antes do jogo te deixar "livre" para usar tudo o que aprendeu. Tecnicamente, as seis primeiras horas do jogo são apenas um longo tutorial — mas está tudo inserido de forma tão coesa na narrativa e o ritmo em que novas coisas vão aparecendo é tão bom que você nunca fica com a sensação de que é um tutorial.
Minha maior crítica para o game fica mais pelo potencial desperdiçado em certas partes. O jogo adora subverter tropos do gênero, usando isso como sua principal fonte de humor, mas a subversão nunca sai do campo narrativo. No momento que pensei que ele quebraria todas minhas expectativas, virando um shopping simulator, ele logo fez uma correção de curso e voltou a ser um action-platformer tradicional (ainda que com um temperinho de metroidvania). Talvez seria pós-modernista demais fazer algo desse tipo, mas, hey, um homem pode sonhar.
Eu diria que, na base, é esse senso de ritmo o segredo de The Messenger, a grande característica que o torna especial. Veja, por exemplo, a maneira como a aventura é dividida em duas partes: o que é a princípio um action-platformer 8-bits linear depois se revela como um quasi-metroidvania com viagem no tempo e gráficos 16-bits. Essa estrutura permite que todas as principais mecânicas do jogo sejam introduzidas uma a uma, de forma isolada, com os desafios se complexificando de forma progressiva antes do jogo te deixar "livre" para usar tudo o que aprendeu. Tecnicamente, as seis primeiras horas do jogo são apenas um longo tutorial — mas está tudo inserido de forma tão coesa na narrativa e o ritmo em que novas coisas vão aparecendo é tão bom que você nunca fica com a sensação de que é um tutorial.
Minha maior crítica para o game fica mais pelo potencial desperdiçado em certas partes. O jogo adora subverter tropos do gênero, usando isso como sua principal fonte de humor, mas a subversão nunca sai do campo narrativo. No momento que pensei que ele quebraria todas minhas expectativas, virando um shopping simulator, ele logo fez uma correção de curso e voltou a ser um action-platformer tradicional (ainda que com um temperinho de metroidvania). Talvez seria pós-modernista demais fazer algo desse tipo, mas, hey, um homem pode sonhar.
Gravity Rush 2
2017
This is one of the rare times where I kept with a game hoping for it to get better. I had issues with the first game, but I liked the concept, I liked the art direction - surely a sequel on a stronger console could refine the experience into something good or great. But my god, Gravity Rush 2 is so much worse! Gravity Rush 2 is so much more expensive looking I didn’t notice right away, but the physics are more borked than they were in the previous game. Each of the player character’s actions needed more time in development to be fun or useful. Instead, that needed money went into polishing a terrible, incomprehensible story, and all the cheap filler with which a Video Game Product gets stuffed to fill out menus and marketing materials.
I’m not cracking open a bottle of haterade for this game. I want to like it so bad. There is so much of this game that is done so well, (like the engrossing score and the ambient atmosphere of its elaborate floating cities), that I completely understand how one could love Gravity Rush 2 and not notice most of the complaints I have about its technical elements. The game’s world is rich for people who like to mill about in hub areas or take in-game selfies, and the game’s campaign is easy enough most people won’t notice a jank interaction or two. But any time the game required precise movements or otherwise challenged player ability, more flaws came to my attention. And for a game that bills itself on its brand of movement, movement being a weak link compounded my frustrations the more I played.
Fundamentally, this series only has vague game concepts with a “gravity” theme instead of a cohesive gameplay loop. It has transversal mechanics like a flight simulator, but combat like an action platformer, with a camera that properly serves neither. I forgave this disjointed feeling a bit in the first game since it was a new IP. Instead of forging a firm gameplay identity, Gravity Rush 2 doubles down on introducing separate abilities with negative synergy, and inadvertently breaks some of the elements that worked better in the first game.
Gravity Rush 2 has serious frame-pacing issues that frequently result in dropped inputs. This is rarely a problem when the game’s focus is the leisurely novelty of flight, but becomes more pronounced with combat. The game’s targeting system for combat, specifically for Kat’s flying gravity kicks, is terrible. By using the right stick and gyro controls, the player must manually move a reticle until the auto-targeting system picks a target. There is no way to make the camera track a target, or lock on to a single target among many - made more frustrating by the inconsistency with which the targeting reticle will oscillate between targets. Sometimes the target will change mid-attack to an unseeable object on the other side of a building, throwing off the player character’s flight trajectory and sending them hurtling into space. More than once when this happened, the camera glitched and was left behind, my missed target jeering in the center of my screen while Kat became a speck in the distance. And unfortunately, gravity kicks were not the only mechanic that caused this to happen.
The series’ substitute for a run, where Kat slides along any surface as if falling down an incline, is incredibly jittery in this game. Due to the sequel’s increased budget and stronger hardware, the more meticulously modeled environments contain more polygons upon which the game may calculate Kat’s sliding trajectory. As a result, small eaves and window insets can be enough to throw Kat off a building at a completely unforeseen angle - a scenario made more likely by the camera constantly bouncing as it tries to find the ever-shifting “ground”. There are so many answers to the problems that arise from this mechanic I don’t know how the game shipped as is;
- make the hitboxes uniform on buildings and other textures with multiple small jagged edges
- stop Kat from flying off into one direction if the vector makes too sharp an angle from the vector of her previous heading from the last .4 seconds
- stabilize the camera to not auto-adjust to her gravity angle while sliding
- have the option for gravity shifting to follow a building or object’s geometry Mario Galaxy-style so the player character can circumnavigate objects instead of always falling if they get too close to an edge
The lack of control was so bad I had an easier time navigating through some levels specifically asking me to use this power by… walking. I’m not a game developer, so I know something is wrong when I start brainstorming fixes for a basic movement mechanic.
For all of the flaws in the first Gravity Rush, it was firmly a game about movement. Reckless, crashy, simple movement, intermixed with unwieldy combat, but the focus was on moving through that game world in a unique, flight-adjacent way. It had some video-game-y elements I thought it was stronger without, only feeling natural once Kat’s skill trees were maxed out. Gravity Rush 2 seemed to half-agree with me, as Kat’s fall speed, stamina gauge, and attack strength were all made constants. But yet, Gravity Rush 2 also has different, more expensive looking, more useless skill trees, which is the least egregious symptom of its Video Game Product bloat.
This bloat is everywhere. In addition to the ignorable skill tree abilities, there are also farmable, craftable talismans with equally ignorable abilities. These talismans originate in a randomized dungeon with some sort of superfluous asynchronous online multiplayer element that has already gone offline. But the husk of that online service is everywhere, with the first option of the pause menu being a now useless “Announcements” tab instead of the map, skill tree, or task list. The pointlessness of it all would be inoffensive and annoying on its own, but unfortunately, this bloat seeps into the gameplay in the worst ways.
Because the number of unique levels in Gravity Rush 2 is still geared towards a shorter experience. Three large cities, five mining sites, and a few campaign mission exclusive levels. Plenty of variety for rivaling the content of the first game. However, completing everything Gravity Rush 2 has to offer takes twice as long as the first game. How is this accomplished, you might ask? With some of the most tedious Video Game Side Quest Bullshit I have ever experienced.
Video Game Side Quest Bullshit is easy to smell. Does the game normally let me do something cool, then ask me to stop doing that cool thing for “variety”? Does the genre of gameplay change to something completely unrelated to the core gameplay loop? Is that new gameplay genre, “walking up to NPCs and pressing a ‘talk’ button”? Does the NPC have a lore-building name like Rich Woman? Does she exist solely so you can take out her trash? Is your reward - nothing? A checkbox being checked? Even describing this phenomenon makes my eyes glaze over and drift away from the page.
Gravity Rush 2, by time spent, is as much a flight simulator / 3D action platformer hybrid as it is an eye-spy puzzle, a fetch-quest walking simulator, and/or stealth game. Gravity Rush the first had 20 challenge missions of various obstacle course races and combat trials. Gravity Rush 2 also has 20 challenge missions, but also has 49 side missions that often completely ignore or actively prohibit Kat’s gravity shifting powers - the whole point of the game. Worst of all, these gravity-power-less missions are intermingled in the main campaign’s missions! You never know before you start a mission whether you’ll be fighting an army, taking a selfie, or walking someone’s dog.
Oh my god the dog side mission. That might be the worst. An escort dog mission. Absolutely no use of gravity powers. Just. walking around a park, looking for a dog toy. With a dog who randomly wanders away and can’t hear you calling her to come back. and has a little animation that takes like ten seconds every time she wants to examine something. which is most likely a waste of time. and you can see it's a waste of time. it's not her toy. it’s a duck. but you still have to wait for her to sniff the duck, and for Kat to wonder if he found something, and then you can get the text box that it was just a duck. And because that text box is up, you can’t press the “call” button to stop the dog from going to investigate some other waste of time. This mission lasts over ten god damn minutes even if you already know where to go because you must watch the dog putz about the park X number of times before she’ll sniff the first NPC who will actually advance the quest. This sucks.
And that’s just the first part of the mission! Then you have to play fetch with the dog, and she has a happiness meter that goes down if you don’t throw the frisbee exactly where she wants it. Which highlights how much the “picking up objects with your local gravity field” still does not work as a gameplay concept, because objects you pick up will randomly orbit Kat in unpredictable ways. So when you press the “throw” button, you cannot predict where or when the object will leave its orbit, or what vector the game will choose for transitioning from your orbit towards your target. So sometimes you’ll have the frisbee throwing reticle perfectly lined up, and pressing the “throw” button will have it whiff right on the ground. Or you’ll over-correct and now it’ll bounce off a tree that was off-screen but still within Kat’s orbit radius. And each time a little girl will tell you you’re making the dog sad, and now you have to throw the frisbee even more to escape this dog park purgatory.
And oh no, that’s not even the only dog mission! There’s another where you have to walk behind a dog as it randomly sniffs garbage and other dogs until it leads you to a random part of the city, where you can then start the next part of the side mission’s fetch-quest chain. And there’s another mission where you have to catch a dog, but keeps getting away because it pees on the player character, who drops it so you have to chase it around three separate parks.
Those examples were side missions, completely optional, but are not that different from story missions where you are tasked with finding a specific NPC with minimal guidance and no waypoint markers. Gravity Rush has a chaotic camera system, as the player is constantly changing their perspective on what is “up” and “down”, which reorients automatically every time gravity powers are activated or disengaged, or any time Kat lands on a surface or careens off an enemy. The world design takes place in floating cities, so there is often no universal “ground” or “sky” distinction. As a result, waypoint markers are a necessity for navigating this 3D space. But this game is not immune to the experience I have where, after waypoint markers are introduced, my sense of curiosity and exploration for a game space is significantly reduced, and never rebounds when the markers are turned off. All that remains is lingering annoyance at their absence.
So when multiple missions in this game, both mandatory and otherwise, task me to look for NPCs so that NPC can give me a waypoint towards finding another NPC in a process that can go as many as five NPCs deep, my frustration boils. I know the game knows where the NPC is hiding, because waypoints are the default in this game. So turning off the waypoint can only be artificially wasting my time. Because you can’t use your gravity powers and look for NPCs at the same time - you are either flying too far away from them to make out details, or get too close and they’ll cower in fear of being flung into space. Looking for NPCs sucks in any and every game! And it super sucks in this one! And you have to do it so much! The function of these quests in other games is to teach the player level geography, if they serve a purpose at all. But in this game you can fly above and ignore urban planning and are blindly falling towards waypoints 80% of the time anyway, which makes these NPC tracking tasks always feel pointless!
Maybe if the story was worth a grain of salt, all this dialog and NPC hunting wouldn’t grate against my soul as much. I had high hopes for the start of this game, as the editing and pacing of the story segments had improved in communicating what the player character needed to do and why. But friend, let me tell you - for a brief time in 2019, I understood the plot and knew all the lore of both the Kingdom Hearts franchise and Death Stranding at the same time. So believe me when I say the story of this game makes no goddamn sense. The kindest thing I can say about Gravity Rush’s writing, as a series, is that at least it is bad in uniquely incomprehensible ways instead of being bad in anime ways.
Gravity Rush will not stop introducing new magical elements. I routinely felt like I was missing three chapter’s worth of context when characters would reveal new cutscene-only abilities, or reveal they had secret connections to ambiguous god characters, or reveal they had / did not have memories of another life that were displaced across time. I even watched a terrible anime special that was “supposed to bridge the gap between the two games,” and it only introduced MORE new characters and magical nonsense that never even appeared in the games.
To give an example, within the span of like three chapters, the game introduces a kabal of evil government officials who plan to kill the poors, a class war happens between the working class and the military, and a magical portal opens in the sky and a smoke monster eats the kabal of evil men. Then Kat gets thrown through another magical portal back to her original hometown, where she is also evicted by the police and learns an entire quarter of the city is filled with the discarded and subjugated homeless. But instead of joining up for another revolution of reformation, she immediately joins up with the police! After she just saw a military force try to kill her friends like two days ago! It was clear to me then the writing had zero idea what it was doing or what it was going for, and continued to confuse and offend me right up until the end.
Which, without spoilers, was one of the most soul-draining gauntlet of bosses I have ever fought that also felt incredibly easy. I died like 20 times because the camera was not designed to handle the quick movements of what the game was expecting of me, and I laughed out loud when I still died even after the game gave me its equivalent of the Golden Tanooki Leaf. It perfectly encapsulated every design, narrative, and mechanical flaw of the game in one all-encompassing experience, which in a way I guess is everything you could hope from a game’s finale. It only missed out on making me ask some NPCs for directions first.
In my rating system, 2 stars represents an average, C rank game. Gravity Rush 2 gets a C-, and at least one of its 1.5 stars is due to that sweet saxophone that plays where the rich assholes live.
I’m not cracking open a bottle of haterade for this game. I want to like it so bad. There is so much of this game that is done so well, (like the engrossing score and the ambient atmosphere of its elaborate floating cities), that I completely understand how one could love Gravity Rush 2 and not notice most of the complaints I have about its technical elements. The game’s world is rich for people who like to mill about in hub areas or take in-game selfies, and the game’s campaign is easy enough most people won’t notice a jank interaction or two. But any time the game required precise movements or otherwise challenged player ability, more flaws came to my attention. And for a game that bills itself on its brand of movement, movement being a weak link compounded my frustrations the more I played.
Fundamentally, this series only has vague game concepts with a “gravity” theme instead of a cohesive gameplay loop. It has transversal mechanics like a flight simulator, but combat like an action platformer, with a camera that properly serves neither. I forgave this disjointed feeling a bit in the first game since it was a new IP. Instead of forging a firm gameplay identity, Gravity Rush 2 doubles down on introducing separate abilities with negative synergy, and inadvertently breaks some of the elements that worked better in the first game.
Gravity Rush 2 has serious frame-pacing issues that frequently result in dropped inputs. This is rarely a problem when the game’s focus is the leisurely novelty of flight, but becomes more pronounced with combat. The game’s targeting system for combat, specifically for Kat’s flying gravity kicks, is terrible. By using the right stick and gyro controls, the player must manually move a reticle until the auto-targeting system picks a target. There is no way to make the camera track a target, or lock on to a single target among many - made more frustrating by the inconsistency with which the targeting reticle will oscillate between targets. Sometimes the target will change mid-attack to an unseeable object on the other side of a building, throwing off the player character’s flight trajectory and sending them hurtling into space. More than once when this happened, the camera glitched and was left behind, my missed target jeering in the center of my screen while Kat became a speck in the distance. And unfortunately, gravity kicks were not the only mechanic that caused this to happen.
The series’ substitute for a run, where Kat slides along any surface as if falling down an incline, is incredibly jittery in this game. Due to the sequel’s increased budget and stronger hardware, the more meticulously modeled environments contain more polygons upon which the game may calculate Kat’s sliding trajectory. As a result, small eaves and window insets can be enough to throw Kat off a building at a completely unforeseen angle - a scenario made more likely by the camera constantly bouncing as it tries to find the ever-shifting “ground”. There are so many answers to the problems that arise from this mechanic I don’t know how the game shipped as is;
- make the hitboxes uniform on buildings and other textures with multiple small jagged edges
- stop Kat from flying off into one direction if the vector makes too sharp an angle from the vector of her previous heading from the last .4 seconds
- stabilize the camera to not auto-adjust to her gravity angle while sliding
- have the option for gravity shifting to follow a building or object’s geometry Mario Galaxy-style so the player character can circumnavigate objects instead of always falling if they get too close to an edge
The lack of control was so bad I had an easier time navigating through some levels specifically asking me to use this power by… walking. I’m not a game developer, so I know something is wrong when I start brainstorming fixes for a basic movement mechanic.
For all of the flaws in the first Gravity Rush, it was firmly a game about movement. Reckless, crashy, simple movement, intermixed with unwieldy combat, but the focus was on moving through that game world in a unique, flight-adjacent way. It had some video-game-y elements I thought it was stronger without, only feeling natural once Kat’s skill trees were maxed out. Gravity Rush 2 seemed to half-agree with me, as Kat’s fall speed, stamina gauge, and attack strength were all made constants. But yet, Gravity Rush 2 also has different, more expensive looking, more useless skill trees, which is the least egregious symptom of its Video Game Product bloat.
This bloat is everywhere. In addition to the ignorable skill tree abilities, there are also farmable, craftable talismans with equally ignorable abilities. These talismans originate in a randomized dungeon with some sort of superfluous asynchronous online multiplayer element that has already gone offline. But the husk of that online service is everywhere, with the first option of the pause menu being a now useless “Announcements” tab instead of the map, skill tree, or task list. The pointlessness of it all would be inoffensive and annoying on its own, but unfortunately, this bloat seeps into the gameplay in the worst ways.
Because the number of unique levels in Gravity Rush 2 is still geared towards a shorter experience. Three large cities, five mining sites, and a few campaign mission exclusive levels. Plenty of variety for rivaling the content of the first game. However, completing everything Gravity Rush 2 has to offer takes twice as long as the first game. How is this accomplished, you might ask? With some of the most tedious Video Game Side Quest Bullshit I have ever experienced.
Video Game Side Quest Bullshit is easy to smell. Does the game normally let me do something cool, then ask me to stop doing that cool thing for “variety”? Does the genre of gameplay change to something completely unrelated to the core gameplay loop? Is that new gameplay genre, “walking up to NPCs and pressing a ‘talk’ button”? Does the NPC have a lore-building name like Rich Woman? Does she exist solely so you can take out her trash? Is your reward - nothing? A checkbox being checked? Even describing this phenomenon makes my eyes glaze over and drift away from the page.
Gravity Rush 2, by time spent, is as much a flight simulator / 3D action platformer hybrid as it is an eye-spy puzzle, a fetch-quest walking simulator, and/or stealth game. Gravity Rush the first had 20 challenge missions of various obstacle course races and combat trials. Gravity Rush 2 also has 20 challenge missions, but also has 49 side missions that often completely ignore or actively prohibit Kat’s gravity shifting powers - the whole point of the game. Worst of all, these gravity-power-less missions are intermingled in the main campaign’s missions! You never know before you start a mission whether you’ll be fighting an army, taking a selfie, or walking someone’s dog.
Oh my god the dog side mission. That might be the worst. An escort dog mission. Absolutely no use of gravity powers. Just. walking around a park, looking for a dog toy. With a dog who randomly wanders away and can’t hear you calling her to come back. and has a little animation that takes like ten seconds every time she wants to examine something. which is most likely a waste of time. and you can see it's a waste of time. it's not her toy. it’s a duck. but you still have to wait for her to sniff the duck, and for Kat to wonder if he found something, and then you can get the text box that it was just a duck. And because that text box is up, you can’t press the “call” button to stop the dog from going to investigate some other waste of time. This mission lasts over ten god damn minutes even if you already know where to go because you must watch the dog putz about the park X number of times before she’ll sniff the first NPC who will actually advance the quest. This sucks.
And that’s just the first part of the mission! Then you have to play fetch with the dog, and she has a happiness meter that goes down if you don’t throw the frisbee exactly where she wants it. Which highlights how much the “picking up objects with your local gravity field” still does not work as a gameplay concept, because objects you pick up will randomly orbit Kat in unpredictable ways. So when you press the “throw” button, you cannot predict where or when the object will leave its orbit, or what vector the game will choose for transitioning from your orbit towards your target. So sometimes you’ll have the frisbee throwing reticle perfectly lined up, and pressing the “throw” button will have it whiff right on the ground. Or you’ll over-correct and now it’ll bounce off a tree that was off-screen but still within Kat’s orbit radius. And each time a little girl will tell you you’re making the dog sad, and now you have to throw the frisbee even more to escape this dog park purgatory.
And oh no, that’s not even the only dog mission! There’s another where you have to walk behind a dog as it randomly sniffs garbage and other dogs until it leads you to a random part of the city, where you can then start the next part of the side mission’s fetch-quest chain. And there’s another mission where you have to catch a dog, but keeps getting away because it pees on the player character, who drops it so you have to chase it around three separate parks.
Those examples were side missions, completely optional, but are not that different from story missions where you are tasked with finding a specific NPC with minimal guidance and no waypoint markers. Gravity Rush has a chaotic camera system, as the player is constantly changing their perspective on what is “up” and “down”, which reorients automatically every time gravity powers are activated or disengaged, or any time Kat lands on a surface or careens off an enemy. The world design takes place in floating cities, so there is often no universal “ground” or “sky” distinction. As a result, waypoint markers are a necessity for navigating this 3D space. But this game is not immune to the experience I have where, after waypoint markers are introduced, my sense of curiosity and exploration for a game space is significantly reduced, and never rebounds when the markers are turned off. All that remains is lingering annoyance at their absence.
So when multiple missions in this game, both mandatory and otherwise, task me to look for NPCs so that NPC can give me a waypoint towards finding another NPC in a process that can go as many as five NPCs deep, my frustration boils. I know the game knows where the NPC is hiding, because waypoints are the default in this game. So turning off the waypoint can only be artificially wasting my time. Because you can’t use your gravity powers and look for NPCs at the same time - you are either flying too far away from them to make out details, or get too close and they’ll cower in fear of being flung into space. Looking for NPCs sucks in any and every game! And it super sucks in this one! And you have to do it so much! The function of these quests in other games is to teach the player level geography, if they serve a purpose at all. But in this game you can fly above and ignore urban planning and are blindly falling towards waypoints 80% of the time anyway, which makes these NPC tracking tasks always feel pointless!
Maybe if the story was worth a grain of salt, all this dialog and NPC hunting wouldn’t grate against my soul as much. I had high hopes for the start of this game, as the editing and pacing of the story segments had improved in communicating what the player character needed to do and why. But friend, let me tell you - for a brief time in 2019, I understood the plot and knew all the lore of both the Kingdom Hearts franchise and Death Stranding at the same time. So believe me when I say the story of this game makes no goddamn sense. The kindest thing I can say about Gravity Rush’s writing, as a series, is that at least it is bad in uniquely incomprehensible ways instead of being bad in anime ways.
Gravity Rush will not stop introducing new magical elements. I routinely felt like I was missing three chapter’s worth of context when characters would reveal new cutscene-only abilities, or reveal they had secret connections to ambiguous god characters, or reveal they had / did not have memories of another life that were displaced across time. I even watched a terrible anime special that was “supposed to bridge the gap between the two games,” and it only introduced MORE new characters and magical nonsense that never even appeared in the games.
To give an example, within the span of like three chapters, the game introduces a kabal of evil government officials who plan to kill the poors, a class war happens between the working class and the military, and a magical portal opens in the sky and a smoke monster eats the kabal of evil men. Then Kat gets thrown through another magical portal back to her original hometown, where she is also evicted by the police and learns an entire quarter of the city is filled with the discarded and subjugated homeless. But instead of joining up for another revolution of reformation, she immediately joins up with the police! After she just saw a military force try to kill her friends like two days ago! It was clear to me then the writing had zero idea what it was doing or what it was going for, and continued to confuse and offend me right up until the end.
Which, without spoilers, was one of the most soul-draining gauntlet of bosses I have ever fought that also felt incredibly easy. I died like 20 times because the camera was not designed to handle the quick movements of what the game was expecting of me, and I laughed out loud when I still died even after the game gave me its equivalent of the Golden Tanooki Leaf. It perfectly encapsulated every design, narrative, and mechanical flaw of the game in one all-encompassing experience, which in a way I guess is everything you could hope from a game’s finale. It only missed out on making me ask some NPCs for directions first.
In my rating system, 2 stars represents an average, C rank game. Gravity Rush 2 gets a C-, and at least one of its 1.5 stars is due to that sweet saxophone that plays where the rich assholes live.
I honestly loved this game it delivered on almost every aspect i had hoped it would. The gameplay is satisfying and challenging enough to bring a lot of suspense. With mind-blowing set pieces and incredible visuals, every chapter in this game has a lot to offer. I didn't mind the heavy use of the climbing feature, because it was such a good vehicle for navigating the story and incredible locations that I was exploring as Nathan Drake. I had a ton of fun with this game, but the worst part was definitely the main relationship between Nathan and Elena. The story was decent; it kept my interest and was full of good acting from most (Elena's acting was a bit iffy). Even though it was predictable and sometimes reminded me of a Hollywood blockbuster, it was pretty fun to follow. Nathan and Elena's part of the story, however, hurt to witness. Nathan was such an idiot lying to her so many times and the way they "make up" is pretty unimpressive. Also, they're flirting and banter was sometimes so bland it was almost too painful to keep the sound on. The game as a whole, however, is definitely up there as some of the most fun I have had in a video game, and I just didn't want it to end.
Bloodborne
2015
Genesis Noir
2021
Agh, the frustration! This is genuinely one of the most beautiful games I've ever played from an artistic perspective, the monochromatic surrealist illustrations and smooth animations popping out in every moment, a perfect choice to illustrate a universe defined by metaphysics and equations. I didn't love how the story was paced throughout but the way it tells human narratives of perseverance and survival with minimal spoken dialogue is admirable, whilst riffing on noir without resorting to cheap parody. I enjoyed experiencing Genesis Noir, but I didn't always enjoy playing it.
I'm all for interactive experiences and Genesis Noir has more traditional 'gameplay' than the majority of story-driven walking sims out there, but the puzzles and point-and-click sequences are so wildly inconsistent, it's ruthlessly easy to be taken out of the world entirely. I had multiple bugged puzzles where the solutions didn't work until I restarted on top of several occasions where I solved a puzzle only to have no idea why that solution was even the correct one, or what logic to follow. Minimal presentation is preferable to me than a deluge of information, but I ended up craving more context in these moments. Interacting with objects sometimes takes a few seconds to work properly and by the time it's over, these obtuse and exhausting moments stick out more than the positives (at least for me). I'm not exaggerating that the final hour involves a sequence requiring the mouse to be held forward 16 different times. At that point, I'd much rather just watch a walkthrough. I'd recommend this to anyone looking for a unique, stunning cinematic experience but with the serious caveat that it's either better to wait until these bugs are resolved, or to experience it online rather than interactively (which in itself is a huge shame).
I'm all for interactive experiences and Genesis Noir has more traditional 'gameplay' than the majority of story-driven walking sims out there, but the puzzles and point-and-click sequences are so wildly inconsistent, it's ruthlessly easy to be taken out of the world entirely. I had multiple bugged puzzles where the solutions didn't work until I restarted on top of several occasions where I solved a puzzle only to have no idea why that solution was even the correct one, or what logic to follow. Minimal presentation is preferable to me than a deluge of information, but I ended up craving more context in these moments. Interacting with objects sometimes takes a few seconds to work properly and by the time it's over, these obtuse and exhausting moments stick out more than the positives (at least for me). I'm not exaggerating that the final hour involves a sequence requiring the mouse to be held forward 16 different times. At that point, I'd much rather just watch a walkthrough. I'd recommend this to anyone looking for a unique, stunning cinematic experience but with the serious caveat that it's either better to wait until these bugs are resolved, or to experience it online rather than interactively (which in itself is a huge shame).
Inside
2016
INSIDE is easily one of the most profound games ever created.
It embraces the fact that it is a game, confidently telling its story through its interaction with the player.
The environments are beautiful. Nature slowly fades away as you delve deeper into collosal concrete structures and human industry.
I can see how people may not find it 'fun' because there are no assault rifles and explosions, but this experience will stay with you longer than any first-person shooter.
It embraces the fact that it is a game, confidently telling its story through its interaction with the player.
The environments are beautiful. Nature slowly fades away as you delve deeper into collosal concrete structures and human industry.
I can see how people may not find it 'fun' because there are no assault rifles and explosions, but this experience will stay with you longer than any first-person shooter.