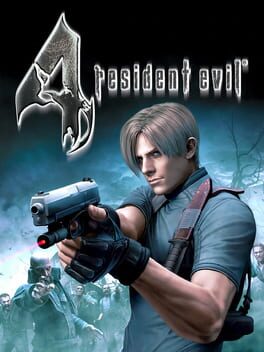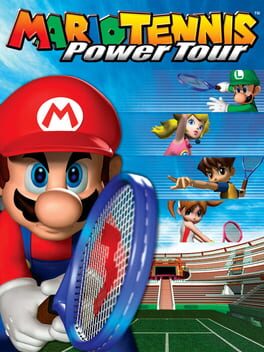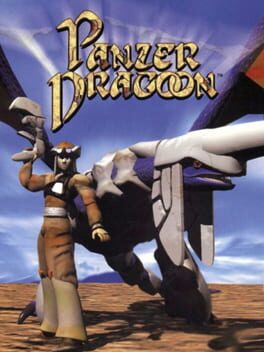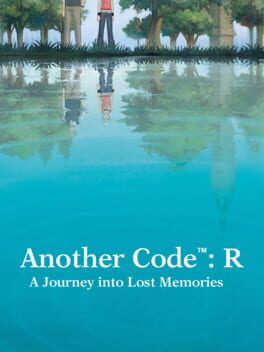felipelee
2023
Há alguns anos um filme com proposta de comédia me arrebatou lágrimas copiosas e saí em um estado deplorável do cinema. Este filme, "Click!", doeu no fundo da minha alma com suas cenas dramáticas que me deram um soco no coração e mostraram como família me afeta de uma maneira tão profunda.
Paralelamente, obras e jogos com temática de comida me atraem bastante pois sou entusiasta da culinária, e apesar da preguiça habitual, curto muito sentar pra cozinhar com os amigos, encarando o desafio de reproduzir uma receita.
Cooking Mama, Battle Chef Brigade, Culina, Cook Serve Delicious, são alguns títulos que já joguei e cada um com suas propostas diferentes em cima da temática de culinária. Mas Venba se destaca de uma forma bem distinta de cada um desses jogos.
Normalmente, o processo de preparo dos alimentos é uma série de minigames, focada em imitar e simular as etapas do processo de forma lúdica. Venba opta por ser bem mais simples que seus colegas, adotando uma abordagem mais focada em "desvendar" um livro de receitas deteriorado com o tempo, passada de mãe para filha, de maneira que o jogador precisa muito mais entender a ordem de executar as etapas do que simular o ato de realizá-las.
Entretanto, o gameplay é apenas um pretexto pra desenvolver um aspecto ainda mais importante de Venba: a memória afetiva que envolve os pratos que comemos. Acredito que este é seu mote principal, uma vez que é a ponte que liga o gameplay à narrativa.
O roteiro intercala as cenas de diálogos similares ao gênero Visual Novel com trechos de gameplay, e sempre relacionando estes com memórias da personagem principal, Venba, em contraposição aos momentos atuais de sua vida.
Quando está na cozinha, Venba se distrai dos problemas do cotidiano e tenta resgatar suas raízes culturais por meio da reprodução das receitas tradicionais que sua mãe preparava quando morava na Índia, embalada por canções indianas que sempre tocam em seu radinho.
Ela e o marido são imigrantes que se estabeleceram no Canadá na cidade de Toronto, e juntos constroem sua família enquanto lutam contra as adversidades internas e externas.
A narrativa de Venba intercalada com o gameplay explora temas como infância e adolescência, problemas familiares, desemprego, preconceito racial, necessidades financeiras, vocação x subsistência, perda familiar e acima de tudo, o amor.
Por meio de uma sutileza emocionante, tece sua trama com intensidade dramática contida em seus elementos visuais e ludonarrativos, abrindo mão da verbalização que caracteriza o famoso "show, do not tell", tão comum e apreciado pela crítica literária e de cinema.
Em sua breve duração, afinal o jogo tem pouco mais de 1h, Venba oferece emoções encrustadas em seu duo jogabilidade e narrativa que denotam uma vivência real, com uma carga dramática humana e dolorosamente verossímil.
Quanto mais experiente e vivido você for, provavelmente mais irá encontrar em Venba algo relacionável, verdadeiro e emocionante, capaz de arrancar lágrimas, bater uma bad ou ressoar em suas memórias de diversas formas, negativas e positivas.
Afinal de contas, estamos todos de passagem, a vida é um sopro, e nem sempre conseguimos dedicar o tempo que gostaríamos com aqueles que amamos. Mas nunca subestime o poder que tradições familiares, raízes culturais e laços familiares possuem. Especialmente a comida que você come.
Paralelamente, obras e jogos com temática de comida me atraem bastante pois sou entusiasta da culinária, e apesar da preguiça habitual, curto muito sentar pra cozinhar com os amigos, encarando o desafio de reproduzir uma receita.
Cooking Mama, Battle Chef Brigade, Culina, Cook Serve Delicious, são alguns títulos que já joguei e cada um com suas propostas diferentes em cima da temática de culinária. Mas Venba se destaca de uma forma bem distinta de cada um desses jogos.
Normalmente, o processo de preparo dos alimentos é uma série de minigames, focada em imitar e simular as etapas do processo de forma lúdica. Venba opta por ser bem mais simples que seus colegas, adotando uma abordagem mais focada em "desvendar" um livro de receitas deteriorado com o tempo, passada de mãe para filha, de maneira que o jogador precisa muito mais entender a ordem de executar as etapas do que simular o ato de realizá-las.
Entretanto, o gameplay é apenas um pretexto pra desenvolver um aspecto ainda mais importante de Venba: a memória afetiva que envolve os pratos que comemos. Acredito que este é seu mote principal, uma vez que é a ponte que liga o gameplay à narrativa.
O roteiro intercala as cenas de diálogos similares ao gênero Visual Novel com trechos de gameplay, e sempre relacionando estes com memórias da personagem principal, Venba, em contraposição aos momentos atuais de sua vida.
Quando está na cozinha, Venba se distrai dos problemas do cotidiano e tenta resgatar suas raízes culturais por meio da reprodução das receitas tradicionais que sua mãe preparava quando morava na Índia, embalada por canções indianas que sempre tocam em seu radinho.
Ela e o marido são imigrantes que se estabeleceram no Canadá na cidade de Toronto, e juntos constroem sua família enquanto lutam contra as adversidades internas e externas.
A narrativa de Venba intercalada com o gameplay explora temas como infância e adolescência, problemas familiares, desemprego, preconceito racial, necessidades financeiras, vocação x subsistência, perda familiar e acima de tudo, o amor.
Por meio de uma sutileza emocionante, tece sua trama com intensidade dramática contida em seus elementos visuais e ludonarrativos, abrindo mão da verbalização que caracteriza o famoso "show, do not tell", tão comum e apreciado pela crítica literária e de cinema.
Em sua breve duração, afinal o jogo tem pouco mais de 1h, Venba oferece emoções encrustadas em seu duo jogabilidade e narrativa que denotam uma vivência real, com uma carga dramática humana e dolorosamente verossímil.
Quanto mais experiente e vivido você for, provavelmente mais irá encontrar em Venba algo relacionável, verdadeiro e emocionante, capaz de arrancar lágrimas, bater uma bad ou ressoar em suas memórias de diversas formas, negativas e positivas.
Afinal de contas, estamos todos de passagem, a vida é um sopro, e nem sempre conseguimos dedicar o tempo que gostaríamos com aqueles que amamos. Mas nunca subestime o poder que tradições familiares, raízes culturais e laços familiares possuem. Especialmente a comida que você come.
1999
Incrivelmente interessante pra um gênero que eu não gosto. A habilidade de se movimentar, girar rapidamente para o inimigo e ficar parado no ar ao invés de estar sempre em trilhos tornam o jogo mais dinâmico e mais rico.
Ele consegue dar uma sensação de vôo livre em alguns momentos, apesar de ainda ter sua progressão em trilhos.
A trilha sonora também é excelente, e os valores de produção impressionantes. Há cenas em FMV com atores reais alterados por CGI misturados com efeitos práticos e figurino próprio que são de alta qualidade.
Não esperava me divertir tanto (enquanto durou).
Ele consegue dar uma sensação de vôo livre em alguns momentos, apesar de ainda ter sua progressão em trilhos.
A trilha sonora também é excelente, e os valores de produção impressionantes. Há cenas em FMV com atores reais alterados por CGI misturados com efeitos práticos e figurino próprio que são de alta qualidade.
Não esperava me divertir tanto (enquanto durou).
2005
1990
Eu tenho memórias especiais de Paciência. Meu pai jogava como passatempo no PC dele, na década de 90, num 486 rodando Windows 3.11 que posteriormente se tornou meu (e do meu irmão) quando ele comprou um Pentium pra ele.
Eu ficava maravilhado com os efeitos finais de cascata ao completar o jogo.
Eu joguei tanto, mas tanto, que se tornou meio que um gosto adquirido por jogos do estilo, por isso curto tanto não só ele como Campo Minado, Freecell, Sudoku e outros jogos que a Microsoft trazia gratuitamente nos PC mais antigos.
Na época eu também jogava muito os jogos da revista Coquetel, que trazia palavras cruzadas, torto, criptogramas, desafios de lógica e posteriormente sudoku e nonogramas.
Paciência foi o pioneiro nessa leva de jogos que formou parte do meu gosto pessoal e sempre é uma alegria jogá-lo novamente.
Eu ficava maravilhado com os efeitos finais de cascata ao completar o jogo.
Eu joguei tanto, mas tanto, que se tornou meio que um gosto adquirido por jogos do estilo, por isso curto tanto não só ele como Campo Minado, Freecell, Sudoku e outros jogos que a Microsoft trazia gratuitamente nos PC mais antigos.
Na época eu também jogava muito os jogos da revista Coquetel, que trazia palavras cruzadas, torto, criptogramas, desafios de lógica e posteriormente sudoku e nonogramas.
Paciência foi o pioneiro nessa leva de jogos que formou parte do meu gosto pessoal e sempre é uma alegria jogá-lo novamente.
Mario Tennis é mais um jogo da Camelot para a Nintendo, uma empresa que carrega uma história e um legado que se auto referencia. Hiroyuki Takahashi, tendo trabalhado como produtor assistente na Enix, saiu da empresa e fundou a Climax Entertainment, um estúdio que veio a lançar o jogo Shining in the Darkness para o Megadrive.
Após esse projeto, ele fundou a própria empresa, a “Sonic! Software Planning”. O nome é em homenagem ao ouriço mais famoso dos jogos mesmo, já que a empresa teve investimento e trabalhava diretamente com a Sega, constando como subsidiária até 1997.
A “Sonic!” trabalhou em toda a franquia Shining até 1998, em parceria com a empresa do irmão de Takahashi, Shugo Takahashi, chamada Camelot. O próprio Hiroyuki foi então nomeado presidente da empresa e deixou a Sonic!, que foi dissolvida.
Por que eu falei da história da Camelot? Bem, quem jogou algum jogo da empresa desde a série Shining consegue entender perfeitamente quando falei de se auto referenciar.
É que toda a estética no design de personagens e dos menus e interface dos jogos da Camelot carregavam algumas convenções de design desde essa época. Mas em algum momento, quando a empresa passou a somente produzir jogos de esporte para a Nintendo, ela foi perdendo essa identidade mais forte e carregada.
Talvez essa sensação mais brusca tenha surgido quando a Nintendo criou os Miis. A razão é que até então os jogos de esporte produzidos pela Camelot usavam a direção de arte da própria Camelot para personagens humanos. Eles ficaram bastante reconhecíveis ao longo da franquia Golden Sun e nos jogos Beyond the Beyond e Everybody’s Golf, em seus traços, modelagem e render. Após os Miis eles deixaram de existir, sendo substituídos por eles.
Como a empresa não tem feito nada além de jogos de esporte para a Nintendo, nunca mais vimos essa direção de arte. Como Power Tour é de uma era que antecede os Miis, podemos ver os personagens humanos seguindo a linha de design, tanto nos protagonistas, quanto nos outros personagens do jogo.
Outros elementos de design, como a interface e a fonte dos diálogos, também seguem as características que compõem o estilo da Camelot e se assemelha bastante com os jogos contemporâneos dele, como Golden Sun e Mario Golf, colegas de época e console, já que são todos jogos de Gameboy Advance.
Seguindo também convenções dos modelos Camelot de fusão de RPG e Esporte, Power Tour propõe um roteiro que joga um mistério no ar (trocadilho não intencional com o toss do Tênis, mas que agora passa a ser intencional) para instigar o jogador.
É algo um tanto complicado criar uma história e um roteiro interessante para um RPG Esportivo mundano que não envolva torneios. Qualquer tentativa, mesmo as fantásticas, meio que envolve um torneio, já que essa temática costuma ser tradicional em animações shounen e seus roteiros recorrentes, influenciando também jogos de esporte com roteiros mais elaborados.
Quase que inevitavelmente, inclusive em nome do apelo a todas as idades de Mario, Power Tour segue essa rota narrativa, optando por representar um torneio extremamente mundano e cotidiano, bem “baunilha”. O único destaque que se faz é justamente os pequenos mistérios que são plantados no começo da história.
A história gira em torno da escalada do ranking interno dos protagonistas na Academia de Tênis, com a posterior participação destes no Torneio da Ilha, onde será finalmente revelada a resposta do mistério inicial. O segmento referente a essa escalada tem a presença de diversos personagens com suas personalidades superficiais, desenvolvida majoritariamente por meio do design de personagens, sua animação e suas breves linhas de diálogo.
As cenas são curtinhas e não tomam muito tempo do jogador, já que o foco é sempre desenvolver as habilidades por meio de treinos e partidas, utilizando os elementos de RPG para explicar técnicas e táticas reais do esporte misturados com as mecânicas fantásticas do jogo.
O sistemas de RPG cuida em fornecer um senso de progressão numérica do personagem, além de permitir a customização do jogo. A opção por elementos de RPG aqui pode ser responsável somente em prolongar a experiência, já que a customização vai vindo lentamente com a passagem de níveis e distribuição de pontos de experiência.
Como o resultado dos investimentos dos pontos de experiência vem devagar a cada partida e treino, alguns jogadores mais habilidosos podem sentir que o jogo está arrastando o tempo de forma artificial. Isso pode ser verdade, ao passo que jogadores menos habilidosos podem se sentir evoluindo junto com o personagem.
Pessoalmente eu senti uma sensação mista de “o jogo tá fácil pq eu tenho muita experiência com jogos de tênis” com “interessante estou construindo lentamente a evolução desse personagem e tornando ele um profissional de forma estelar”. É um sentimento no fim das coisas positivo porque me incentivou a ficar buscando uma partida atrás da outra para farmar pontos de experiência e assim desenvolver minha “build”.
Uma abordagem mais tradicional esportiva me colocaria em um avanço mais incremental, com uma pobreza narrativa, apenas mecânica e casual, enquanto essa opção me fez jogar por oito horas ininterruptas o jogo.
Até que ponto foi mérito do jogo ou eu ser um viciado em jogos de tênis eu não sei, mas é um fato que essa abordagem de Power Tour me deu uma sensação melhor do que de a jogar multiplayer e ir avançando conforme vou ficando melhor nos rankings online. Normalmente jogos singleplayer não têm essa capacidade.
Essa não foi a primeira e espero que não seja a última vez que a Camelot me traz essa sensação.
Mas como nem tudo são flores, eu achei que o jogo toma algumas decisões que eu desafiaria. A primeira é que jogamos com dois personagens, o principal e seu parceiro de jogos em dupla: Ace ou Clay, nós que decidimos. No decorrer do jogo a experiência é distribuída para os dois personagens e cabe a nós decidir onde investir e que build montar para cada um.
Entretanto, mesmo gerenciando ambos, só podemos optar por jogar partidas simples com o que selecionamos como principal. Isso gera um pequeno problema com alguns desafios dos treinos. Isso porque certos desafios exigem mais velocidade, outros mais força, ou controle. A build que fiz eu priorizei controle de voleios e efeitos para a principal, enquanto o secundário focou em força nos saque e voleios, e velocidade geral. Teve desafio de conseguir um ace que eu não conseguir vencer. Não sei se eram feitos para o endgame ou se eu precisava ter focado em força, mas não consegui passar deles.
Mas como tudo isso é totalmente opcional, deixei de lado e segui com a campanha sem problemas. Teria sido ruim se bloqueasse meu progresso ou me impedisse de conseguir uma habilidade em específico, mas não foi o que aconteceu.
Por fim, para encerrar esse review, eu achei as respostas ao mistério tremendamente secas. É como se no começo do roteiro o escritor tivesse tido o cuidado de contextualizar bem o ambiente, mas quando chegou perto do final ele muda o tom e ao invés de criar uma ponte para a revelação apenas vai lá e revela sem muita explicação.
Se temos jogadores misteriosos que causaram um alvoroço na Academia e toda uma série de cenas pra contextualizar e explanar essa que será nossa coceira narrativa, no fim parece que foi banalizada e revelada de uma só vez, sem voltar a desenvolver os motivos do alvoroço.
Se eu puder explicar melhor, seria como se eles tivessem caprichado no estabelecimento da premissa e no fim optado por “respeitar nossa inteligência” e deixar uma lacuna narrativa proposital para revelar quem eram tais jogadores.
Ficamos sem entender bem as possíveis motivações, o que deixaria a história mais redondinha, ficando apenas com uma espécie de parada celebratória na forma de cerimônia, deixando as lacunas esquecidas em segundo plano e partindo para a conclusão.
Meio exigente da minha parte, talvez? Talvez. Mas é pra ser um RPG, né…narrativa deveria ser mais robusta.
Mas o que que eu tô dizendo? É um jogo de Mario, pelo amor de deus! ESQUEÇA TUDO, ESSE JOGO É PEAK.
PEAK!
Após esse projeto, ele fundou a própria empresa, a “Sonic! Software Planning”. O nome é em homenagem ao ouriço mais famoso dos jogos mesmo, já que a empresa teve investimento e trabalhava diretamente com a Sega, constando como subsidiária até 1997.
A “Sonic!” trabalhou em toda a franquia Shining até 1998, em parceria com a empresa do irmão de Takahashi, Shugo Takahashi, chamada Camelot. O próprio Hiroyuki foi então nomeado presidente da empresa e deixou a Sonic!, que foi dissolvida.
Por que eu falei da história da Camelot? Bem, quem jogou algum jogo da empresa desde a série Shining consegue entender perfeitamente quando falei de se auto referenciar.
É que toda a estética no design de personagens e dos menus e interface dos jogos da Camelot carregavam algumas convenções de design desde essa época. Mas em algum momento, quando a empresa passou a somente produzir jogos de esporte para a Nintendo, ela foi perdendo essa identidade mais forte e carregada.
Talvez essa sensação mais brusca tenha surgido quando a Nintendo criou os Miis. A razão é que até então os jogos de esporte produzidos pela Camelot usavam a direção de arte da própria Camelot para personagens humanos. Eles ficaram bastante reconhecíveis ao longo da franquia Golden Sun e nos jogos Beyond the Beyond e Everybody’s Golf, em seus traços, modelagem e render. Após os Miis eles deixaram de existir, sendo substituídos por eles.
Como a empresa não tem feito nada além de jogos de esporte para a Nintendo, nunca mais vimos essa direção de arte. Como Power Tour é de uma era que antecede os Miis, podemos ver os personagens humanos seguindo a linha de design, tanto nos protagonistas, quanto nos outros personagens do jogo.
Outros elementos de design, como a interface e a fonte dos diálogos, também seguem as características que compõem o estilo da Camelot e se assemelha bastante com os jogos contemporâneos dele, como Golden Sun e Mario Golf, colegas de época e console, já que são todos jogos de Gameboy Advance.
Seguindo também convenções dos modelos Camelot de fusão de RPG e Esporte, Power Tour propõe um roteiro que joga um mistério no ar (trocadilho não intencional com o toss do Tênis, mas que agora passa a ser intencional) para instigar o jogador.
É algo um tanto complicado criar uma história e um roteiro interessante para um RPG Esportivo mundano que não envolva torneios. Qualquer tentativa, mesmo as fantásticas, meio que envolve um torneio, já que essa temática costuma ser tradicional em animações shounen e seus roteiros recorrentes, influenciando também jogos de esporte com roteiros mais elaborados.
Quase que inevitavelmente, inclusive em nome do apelo a todas as idades de Mario, Power Tour segue essa rota narrativa, optando por representar um torneio extremamente mundano e cotidiano, bem “baunilha”. O único destaque que se faz é justamente os pequenos mistérios que são plantados no começo da história.
A história gira em torno da escalada do ranking interno dos protagonistas na Academia de Tênis, com a posterior participação destes no Torneio da Ilha, onde será finalmente revelada a resposta do mistério inicial. O segmento referente a essa escalada tem a presença de diversos personagens com suas personalidades superficiais, desenvolvida majoritariamente por meio do design de personagens, sua animação e suas breves linhas de diálogo.
As cenas são curtinhas e não tomam muito tempo do jogador, já que o foco é sempre desenvolver as habilidades por meio de treinos e partidas, utilizando os elementos de RPG para explicar técnicas e táticas reais do esporte misturados com as mecânicas fantásticas do jogo.
O sistemas de RPG cuida em fornecer um senso de progressão numérica do personagem, além de permitir a customização do jogo. A opção por elementos de RPG aqui pode ser responsável somente em prolongar a experiência, já que a customização vai vindo lentamente com a passagem de níveis e distribuição de pontos de experiência.
Como o resultado dos investimentos dos pontos de experiência vem devagar a cada partida e treino, alguns jogadores mais habilidosos podem sentir que o jogo está arrastando o tempo de forma artificial. Isso pode ser verdade, ao passo que jogadores menos habilidosos podem se sentir evoluindo junto com o personagem.
Pessoalmente eu senti uma sensação mista de “o jogo tá fácil pq eu tenho muita experiência com jogos de tênis” com “interessante estou construindo lentamente a evolução desse personagem e tornando ele um profissional de forma estelar”. É um sentimento no fim das coisas positivo porque me incentivou a ficar buscando uma partida atrás da outra para farmar pontos de experiência e assim desenvolver minha “build”.
Uma abordagem mais tradicional esportiva me colocaria em um avanço mais incremental, com uma pobreza narrativa, apenas mecânica e casual, enquanto essa opção me fez jogar por oito horas ininterruptas o jogo.
Até que ponto foi mérito do jogo ou eu ser um viciado em jogos de tênis eu não sei, mas é um fato que essa abordagem de Power Tour me deu uma sensação melhor do que de a jogar multiplayer e ir avançando conforme vou ficando melhor nos rankings online. Normalmente jogos singleplayer não têm essa capacidade.
Essa não foi a primeira e espero que não seja a última vez que a Camelot me traz essa sensação.
Mas como nem tudo são flores, eu achei que o jogo toma algumas decisões que eu desafiaria. A primeira é que jogamos com dois personagens, o principal e seu parceiro de jogos em dupla: Ace ou Clay, nós que decidimos. No decorrer do jogo a experiência é distribuída para os dois personagens e cabe a nós decidir onde investir e que build montar para cada um.
Entretanto, mesmo gerenciando ambos, só podemos optar por jogar partidas simples com o que selecionamos como principal. Isso gera um pequeno problema com alguns desafios dos treinos. Isso porque certos desafios exigem mais velocidade, outros mais força, ou controle. A build que fiz eu priorizei controle de voleios e efeitos para a principal, enquanto o secundário focou em força nos saque e voleios, e velocidade geral. Teve desafio de conseguir um ace que eu não conseguir vencer. Não sei se eram feitos para o endgame ou se eu precisava ter focado em força, mas não consegui passar deles.
Mas como tudo isso é totalmente opcional, deixei de lado e segui com a campanha sem problemas. Teria sido ruim se bloqueasse meu progresso ou me impedisse de conseguir uma habilidade em específico, mas não foi o que aconteceu.
Por fim, para encerrar esse review, eu achei as respostas ao mistério tremendamente secas. É como se no começo do roteiro o escritor tivesse tido o cuidado de contextualizar bem o ambiente, mas quando chegou perto do final ele muda o tom e ao invés de criar uma ponte para a revelação apenas vai lá e revela sem muita explicação.
Se temos jogadores misteriosos que causaram um alvoroço na Academia e toda uma série de cenas pra contextualizar e explanar essa que será nossa coceira narrativa, no fim parece que foi banalizada e revelada de uma só vez, sem voltar a desenvolver os motivos do alvoroço.
Se eu puder explicar melhor, seria como se eles tivessem caprichado no estabelecimento da premissa e no fim optado por “respeitar nossa inteligência” e deixar uma lacuna narrativa proposital para revelar quem eram tais jogadores.
Ficamos sem entender bem as possíveis motivações, o que deixaria a história mais redondinha, ficando apenas com uma espécie de parada celebratória na forma de cerimônia, deixando as lacunas esquecidas em segundo plano e partindo para a conclusão.
Meio exigente da minha parte, talvez? Talvez. Mas é pra ser um RPG, né…narrativa deveria ser mais robusta.
Mas o que que eu tô dizendo? É um jogo de Mario, pelo amor de deus! ESQUEÇA TUDO, ESSE JOGO É PEAK.
PEAK!
2021
It Takes Two é um jogo cooperativo fantástico, que faz uma constante mudança de mecânicas mantendo o gameplay sempre fresco, dando ampla variedade à jornada.
Os belos cenários e o level design espetacular se somam à troca de mecânicas criando uma sensação única em cada fase.
O sentimento de celebração na evolução de gameplay também tá presente, pois as referências que o design se baseia são integrantes da história dos jogos e conseguem também emocionar num sentido mais nostálgico.
A história do jogo, empresta da fórmula Pixar aquele estado de "não tão boba que não se possa aprender algo legal e nem tão sério que uma criança não possa se divertir pra cacete."
Os belos cenários e o level design espetacular se somam à troca de mecânicas criando uma sensação única em cada fase.
O sentimento de celebração na evolução de gameplay também tá presente, pois as referências que o design se baseia são integrantes da história dos jogos e conseguem também emocionar num sentido mais nostálgico.
A história do jogo, empresta da fórmula Pixar aquele estado de "não tão boba que não se possa aprender algo legal e nem tão sério que uma criança não possa se divertir pra cacete."
2023
Pikmin é um daqueles títulos que esbanjam criatividade surgindo no mercado AAA e marcam pelo seu caráter único.
A mistura temática com o gameplay baseado em RTS nas mãos de uma veterana na arte de game design como a Nintendo é algo que alegra pelo frescor de suas ideias, especialmente em relação à direção de arte.
A duração mais curta do jogo também incentiva o replay das pessoas mais competitivas, mas provê quem curte experiências menores com uma agradável aventura bastante objetiva e cheia de personalidade.
A urgência do limite temporal atua como um estressante e incentivo para que o jogador seja o mais eficiente possível. Não há um game over ao falhar em coletar as peças da nave durante um dia, mas um resultado insatisfatório caso o tempo acabe e todas as peças não tenham sido coletadas.
Essa decisão favorece um reinício de fases onde algo deu muito errado e não permite ao jogador jogar de forma mais relaxada, sempre preocupado com o tempo final. Talvez com mais runs seguidas haja um relaxamento que permita experimentar mais com as fases, afinal, é uma das características comuns em jogos curtos.
Mas definitivamente não é algo que farei, estou aqui para conhecer propostas e executá-las, não exauri-las como se não houvesse mais nada a se jogar na vida. Esse aspecto me deixou um tanto pressionado e não curti muito isso na experiência.
Mal posso esperar pra jogar as sequências e ver como a franquia evolui seguindo a filosofia de design da Big N, especialmente sabendo de antemão que o elemento temporal estressante foi removido, talvez por não ter sido tão popular.
A mistura temática com o gameplay baseado em RTS nas mãos de uma veterana na arte de game design como a Nintendo é algo que alegra pelo frescor de suas ideias, especialmente em relação à direção de arte.
A duração mais curta do jogo também incentiva o replay das pessoas mais competitivas, mas provê quem curte experiências menores com uma agradável aventura bastante objetiva e cheia de personalidade.
A urgência do limite temporal atua como um estressante e incentivo para que o jogador seja o mais eficiente possível. Não há um game over ao falhar em coletar as peças da nave durante um dia, mas um resultado insatisfatório caso o tempo acabe e todas as peças não tenham sido coletadas.
Essa decisão favorece um reinício de fases onde algo deu muito errado e não permite ao jogador jogar de forma mais relaxada, sempre preocupado com o tempo final. Talvez com mais runs seguidas haja um relaxamento que permita experimentar mais com as fases, afinal, é uma das características comuns em jogos curtos.
Mas definitivamente não é algo que farei, estou aqui para conhecer propostas e executá-las, não exauri-las como se não houvesse mais nada a se jogar na vida. Esse aspecto me deixou um tanto pressionado e não curti muito isso na experiência.
Mal posso esperar pra jogar as sequências e ver como a franquia evolui seguindo a filosofia de design da Big N, especialmente sabendo de antemão que o elemento temporal estressante foi removido, talvez por não ter sido tão popular.
2022
Existem jogos que se propõem a ter um nível de épico tão grande, mas tão grande, que sua ambição se torna sua ruína. Jogos como Zelda BOTW e Elden Ring são dessa categoria.
Não me entenda mal. A experiência de Elden Ring está, junto de BOTW, e acima deste, como melhores experiências em jogos de mundo aberto massivo, mas mesmo assim sofrem dos males que esse tipo de escopo me traz.
Isso significa que, em suas primeiras, 20, 40, 50 horas, Elden Ring é um deleite completo. A sensação de aventura em conjunto com as recompensas da exploração, somadas à letalidade dos combates e a tensão de perder recursos do personagem ao morrer fazem de Elden Ring, com tranquilidade, a melhor que já tive nesse estilo de jogo.
Se BOTW maravilha pela liberdade de exploração que permite escalar praticamente qualquer tipo de terreno e não ter amarras de onde ir, Elden RIng compensa a falta desse aspecto com um mundo recheado de perigos e segredos que recompensam muito melhor a curiosidade do jogador.
Funcionalidades/habilidades extra de customização de armas, itens únicos que permitem personalizar a construção dos personagens em conjunto com uma variedade de construções viáveis para experimentar, invocações, magias novas, linhas de aventura e até o próprio mapa que não contém todas as informações ao ser adquirido e vai sendo preenchido com a exploração, tudo isso contribui para instigar, saciar e premiar a sagacidade e a curiosidade do jogador, sem mencionar sua resiliência e persistência em vencer alguns desafios mais pesados.
Isso só é possível por conta do conjunto de design que Elden Ring se baseia, que tornou a série Souls tão popular. Apesar de não trabalhar com uma narrativa exatamente linear, mas mista e fragmentada, seguindo as próprias convenções da filosofia de design de Hidetaka Miyazaki, há um foco primário no gameplay, como acontece nos jogos da Nintendo, mas diferente desta, há também um trabalho muito mais considerado e profundo em matéria de enredo e construção do mundo, mas de uma forma híbrida que nem fica na superfície como jogos da Nintendo, tampouco descamba pra cinematografia da Sony, dois modelos frequentemente arremessados um contra o outro quando se trabalha narrativa em um jogo.
Assim, Elden Ring consegue adicionar a própria narrativa como recompensa à exploração, expandindo o leque de premiações concedidas ao jogador. E dessa forma, ele vai não só desenvolvendo o gameplay e o level design, mas apresentando fragmentos de uma narrativa complexa que exige trabalho do jogador para montar, quiçá da comunidade, uma vez que leva tempo demais para uma só pessoa explorar, catalogar e juntar tudo. E isso sem perder o aspecto poético, com personalidade bem marcada e subtexto. Decifrar a lore é o primeiro passo, interpretar é o próximo, com a beleza da possibilidade de discussão com outros jogadores, algo que aproxima bastante os fãs do modelo.
Elden Ring também conta com uma não linearidade considerável que permite ao jogador não precisar ficar batendo cabeça contra um chefe específico, já que ele pode desviar do caminho, ficar mais forte (ou muito mais forte), com mais recursos, e assim ter melhores condições de enfrentar uma determinada rocha em seu caminho. Caso o jogador não queira por si só aprimorar seu personagem e a si mesmo, ainda há bastante espaço para invocar personagens especiais ou mesmo algum amigo para jogar cooperativamente.
Vale destacar ainda, por fim, que Elden Ring faz um uso muito mais generoso de checkpoints, não só por meio dos pontos de salvamento, mas também estacas especiais que o põem de volta a ação em poucos segundos, tornando menos árdua e mais eficiente em matéria de tempo a tarefa de tentar novamente vencer um chefe mais complicado que o jogador acabou de falhar.
É um sistema que ainda precisaria de uns melhores ajustes, mas poder voltar rapidamente à ação torna bem mais agradável a experiência de um soulslike, e definitivamente Elden Ring merece esse adjetivo, até o ponto em que se torna enfadonho, cansativo e repetitivo, algo que acontece por conta de sua extensão colossal, reutilização de chefes e de assets inevitável pra algo desse tamanho. O frescor das ideias e ambientes vai sendo lavado embora, e a impaciência vai tomando conta de forma que, tendo passado 110 horas nesse universo, eu mal posso esperar pra nunca mais voltar a jogá-lo.
Não me entenda mal. A experiência de Elden Ring está, junto de BOTW, e acima deste, como melhores experiências em jogos de mundo aberto massivo, mas mesmo assim sofrem dos males que esse tipo de escopo me traz.
Isso significa que, em suas primeiras, 20, 40, 50 horas, Elden Ring é um deleite completo. A sensação de aventura em conjunto com as recompensas da exploração, somadas à letalidade dos combates e a tensão de perder recursos do personagem ao morrer fazem de Elden Ring, com tranquilidade, a melhor que já tive nesse estilo de jogo.
Se BOTW maravilha pela liberdade de exploração que permite escalar praticamente qualquer tipo de terreno e não ter amarras de onde ir, Elden RIng compensa a falta desse aspecto com um mundo recheado de perigos e segredos que recompensam muito melhor a curiosidade do jogador.
Funcionalidades/habilidades extra de customização de armas, itens únicos que permitem personalizar a construção dos personagens em conjunto com uma variedade de construções viáveis para experimentar, invocações, magias novas, linhas de aventura e até o próprio mapa que não contém todas as informações ao ser adquirido e vai sendo preenchido com a exploração, tudo isso contribui para instigar, saciar e premiar a sagacidade e a curiosidade do jogador, sem mencionar sua resiliência e persistência em vencer alguns desafios mais pesados.
Isso só é possível por conta do conjunto de design que Elden Ring se baseia, que tornou a série Souls tão popular. Apesar de não trabalhar com uma narrativa exatamente linear, mas mista e fragmentada, seguindo as próprias convenções da filosofia de design de Hidetaka Miyazaki, há um foco primário no gameplay, como acontece nos jogos da Nintendo, mas diferente desta, há também um trabalho muito mais considerado e profundo em matéria de enredo e construção do mundo, mas de uma forma híbrida que nem fica na superfície como jogos da Nintendo, tampouco descamba pra cinematografia da Sony, dois modelos frequentemente arremessados um contra o outro quando se trabalha narrativa em um jogo.
Assim, Elden Ring consegue adicionar a própria narrativa como recompensa à exploração, expandindo o leque de premiações concedidas ao jogador. E dessa forma, ele vai não só desenvolvendo o gameplay e o level design, mas apresentando fragmentos de uma narrativa complexa que exige trabalho do jogador para montar, quiçá da comunidade, uma vez que leva tempo demais para uma só pessoa explorar, catalogar e juntar tudo. E isso sem perder o aspecto poético, com personalidade bem marcada e subtexto. Decifrar a lore é o primeiro passo, interpretar é o próximo, com a beleza da possibilidade de discussão com outros jogadores, algo que aproxima bastante os fãs do modelo.
Elden Ring também conta com uma não linearidade considerável que permite ao jogador não precisar ficar batendo cabeça contra um chefe específico, já que ele pode desviar do caminho, ficar mais forte (ou muito mais forte), com mais recursos, e assim ter melhores condições de enfrentar uma determinada rocha em seu caminho. Caso o jogador não queira por si só aprimorar seu personagem e a si mesmo, ainda há bastante espaço para invocar personagens especiais ou mesmo algum amigo para jogar cooperativamente.
Vale destacar ainda, por fim, que Elden Ring faz um uso muito mais generoso de checkpoints, não só por meio dos pontos de salvamento, mas também estacas especiais que o põem de volta a ação em poucos segundos, tornando menos árdua e mais eficiente em matéria de tempo a tarefa de tentar novamente vencer um chefe mais complicado que o jogador acabou de falhar.
É um sistema que ainda precisaria de uns melhores ajustes, mas poder voltar rapidamente à ação torna bem mais agradável a experiência de um soulslike, e definitivamente Elden Ring merece esse adjetivo, até o ponto em que se torna enfadonho, cansativo e repetitivo, algo que acontece por conta de sua extensão colossal, reutilização de chefes e de assets inevitável pra algo desse tamanho. O frescor das ideias e ambientes vai sendo lavado embora, e a impaciência vai tomando conta de forma que, tendo passado 110 horas nesse universo, eu mal posso esperar pra nunca mais voltar a jogá-lo.
2022
A equipe francesa Splashteam salta do mundo 2D de Splasher direto pro mundo 3D em Tinykin. É uma mudança brusca de direção, mas felizmente o time demonstra domínio de referências e faz uma transição não só tecnicamente invejável, como criativamente e artisticamente notável.
A proposta de Tinykin não soa tão inovadora, entretanto. Temos um puzzle-platformer com estética mista 2D e 3D estilizada, algo que lembra visual e conceitualmente Toy Story (ponto de vista micro e temática ambiental de objetos mundanos) e ao mesmo tempo Vida de Inseto (interagimos com insetos antropomórficos), em um gameplay que empresta elementos de jogos como Pikmin (uso de criaturinhas), Chibi-Robo (tarefas mundanas feitas por agentes diminutos), Yoshi’s World (vários pequenos puzzles ao longo das fases, feitas de material mundano e sucata) e Mario 3D, em especial Mario Odyssey (cada fase recheada de pequenos puzzles que conferem colecionáveis).
No comando de Milodane, um humano que vive no espaço em uma época muito além do nosso tempo, onde a Terra não mais existe e a humanidade vaga pela galáxia, chegamos nesse mundo onde interagimos com insetos falantes em uma casa humana gigante. Já de cara somos introduzidos ao escopo e dimensão do jogo, que não se deixa intimidar por grandes nomes como Banjo & Kazooie, dentre outros platformers 3D de sucesso.
As mecânicas de maior destaque envolvem coletar e utilizar os tinykins, criaturas que por alguma razão se dão bem com Milodane e o auxiliam sob seu comando, extremamente similar ao que acontece com o Capitão Olimar e os pikmins na série da Nintendo. Cada um dos tinykins representa uma mecânica específica: trabalho braçal/força, construção de pontes, condução de eletricidade e explosões. Coletamos e usamos as criaturinhas em quantidade necessária pra realizar cada tarefa, tal e qual Pikmin.
Mas não há aqui nenhuma sombra de plágio ou cópia. Tinykin segue suas próprias ideias e faz um mix interessante de seus objetivos e principalmente movimentação e exploração do cenário. É que enquanto Pikmin é pra todos os efeitos um RTS, Tinykin segue por um caminho bem mais próximo dos Marios 3D de exploração, como Mario Odyssey, no comando livre do protagonista Milodane.
Saltar, planar e vasculhar os cantos do cenário fazem parte do loop de gameplay, que se entrelaça com o uso das criaturinhas para resolver quebra-cabeças. Não são exatamente difíceis, mas possuem requisitos que demandam a exploração do cenário e dão gostosas sensação de “eureca” quando solucionadas.
Pra ser sincero, encarei mais como “tarefas” do que “quebra-cabeças”, já que a solução muitas vezes é bem óbvia pra quem já possui mais bagagem. A ausência de grandes perigos como inimigos comuns ou mesmo chefes não se torna incômoda.
Realizar as tarefas principais de cada fase envolve resolver uma série de tarefas menores, de modo a completar partes de um todo e assim passar pro próximo estágio. Esse trabalho equivale ao que seria uma luta contra um chefe, eliminando, entretanto, qualquer dificuldade mais voltada para a ação.
Ao longo das fases, que são bastante amplas, com muita verticalidade e movimentação rápida, se coleta pólens, se resolve pequenos puzzles extras e se explora bem as mecânicas que vão se acumulando. A título de comparação, jogos da Nintendo como Mario e Yoshi costumam apresentar e explorar mecânicas que muitas vezes são utilizadas somente em uma única fase, prezando pela experimentação e variedade ao invés de maior profundidade, algo que vemos aqui em Tinykin.
Pra facilitar ainda mais o acesso a áreas mais altas, um sistema de atalhos com “ziplines” e cordas verticais onde o jogador pode deslizar como um skate ou escalar vai sendo liberado à medida que o jogador avança na exploração da fase. Esse sistema facilita o retorno a áreas previamente visitadas, além da movimentação mais dinâmica pelo cenário.
Vale lembrar que cada fase não possui mapa, então quem está mal acostumado com “GPS” em jogos modernos de mundo aberto vai ter de penar um pouco para se acostumar com o ambiente virtual de cada estágio e se familiarizar com cada um. Isso não é um problema, pois elas são bem icônicas, intuitivas (são cômodos de uma casa gigante) e reconhecíveis. Esse tipo de design ajuda a desenvolver habilidades específicas de noção espacial, skill muito útil até na vida real dos jogadores.
Num geral cada fase tem sua situação-problema bem orientada e direcionada, direto ao ponto da missão principal. Isso não impede que cada ambiente seja recheado de passagens secretas, cantinhos escondidos, com direito a cavernas entre móveis e alvenaria. São diversos segredinhos e tarefas extra que dão ao jogador mais atividades pra explorar mais o jogo, alongando sua duração. Mas querendo ir direto ao ponto, não tem obstáculos para tanto.
Tinykin também é um festival de Easter Eggs com uma pá de personagens e diálogos fazendo referência a obras de cultura pop, com direito a uma boa dose de localização, que em PT-BR está excelente. Senna versus Alain Prost (Fórmula 1, anos 90), Star Wars, John Wick, Star Trek, House, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda…a lista é grande e não fui capaz de captar e catalogar tudo.
Se Tinykin tem algum ponto que tira um pouco de seu brilho perfeito, talvez esteja na trilha sonora. Ela tem inspiração e originalidade o suficiente pra lhe conferir personalidade própria, mas pra mim ela não soou tão marcante. Não é um demérito, mas também não é nenhum destaque, infelizmente.
A proposta de Tinykin não soa tão inovadora, entretanto. Temos um puzzle-platformer com estética mista 2D e 3D estilizada, algo que lembra visual e conceitualmente Toy Story (ponto de vista micro e temática ambiental de objetos mundanos) e ao mesmo tempo Vida de Inseto (interagimos com insetos antropomórficos), em um gameplay que empresta elementos de jogos como Pikmin (uso de criaturinhas), Chibi-Robo (tarefas mundanas feitas por agentes diminutos), Yoshi’s World (vários pequenos puzzles ao longo das fases, feitas de material mundano e sucata) e Mario 3D, em especial Mario Odyssey (cada fase recheada de pequenos puzzles que conferem colecionáveis).
No comando de Milodane, um humano que vive no espaço em uma época muito além do nosso tempo, onde a Terra não mais existe e a humanidade vaga pela galáxia, chegamos nesse mundo onde interagimos com insetos falantes em uma casa humana gigante. Já de cara somos introduzidos ao escopo e dimensão do jogo, que não se deixa intimidar por grandes nomes como Banjo & Kazooie, dentre outros platformers 3D de sucesso.
As mecânicas de maior destaque envolvem coletar e utilizar os tinykins, criaturas que por alguma razão se dão bem com Milodane e o auxiliam sob seu comando, extremamente similar ao que acontece com o Capitão Olimar e os pikmins na série da Nintendo. Cada um dos tinykins representa uma mecânica específica: trabalho braçal/força, construção de pontes, condução de eletricidade e explosões. Coletamos e usamos as criaturinhas em quantidade necessária pra realizar cada tarefa, tal e qual Pikmin.
Mas não há aqui nenhuma sombra de plágio ou cópia. Tinykin segue suas próprias ideias e faz um mix interessante de seus objetivos e principalmente movimentação e exploração do cenário. É que enquanto Pikmin é pra todos os efeitos um RTS, Tinykin segue por um caminho bem mais próximo dos Marios 3D de exploração, como Mario Odyssey, no comando livre do protagonista Milodane.
Saltar, planar e vasculhar os cantos do cenário fazem parte do loop de gameplay, que se entrelaça com o uso das criaturinhas para resolver quebra-cabeças. Não são exatamente difíceis, mas possuem requisitos que demandam a exploração do cenário e dão gostosas sensação de “eureca” quando solucionadas.
Pra ser sincero, encarei mais como “tarefas” do que “quebra-cabeças”, já que a solução muitas vezes é bem óbvia pra quem já possui mais bagagem. A ausência de grandes perigos como inimigos comuns ou mesmo chefes não se torna incômoda.
Realizar as tarefas principais de cada fase envolve resolver uma série de tarefas menores, de modo a completar partes de um todo e assim passar pro próximo estágio. Esse trabalho equivale ao que seria uma luta contra um chefe, eliminando, entretanto, qualquer dificuldade mais voltada para a ação.
Ao longo das fases, que são bastante amplas, com muita verticalidade e movimentação rápida, se coleta pólens, se resolve pequenos puzzles extras e se explora bem as mecânicas que vão se acumulando. A título de comparação, jogos da Nintendo como Mario e Yoshi costumam apresentar e explorar mecânicas que muitas vezes são utilizadas somente em uma única fase, prezando pela experimentação e variedade ao invés de maior profundidade, algo que vemos aqui em Tinykin.
Pra facilitar ainda mais o acesso a áreas mais altas, um sistema de atalhos com “ziplines” e cordas verticais onde o jogador pode deslizar como um skate ou escalar vai sendo liberado à medida que o jogador avança na exploração da fase. Esse sistema facilita o retorno a áreas previamente visitadas, além da movimentação mais dinâmica pelo cenário.
Vale lembrar que cada fase não possui mapa, então quem está mal acostumado com “GPS” em jogos modernos de mundo aberto vai ter de penar um pouco para se acostumar com o ambiente virtual de cada estágio e se familiarizar com cada um. Isso não é um problema, pois elas são bem icônicas, intuitivas (são cômodos de uma casa gigante) e reconhecíveis. Esse tipo de design ajuda a desenvolver habilidades específicas de noção espacial, skill muito útil até na vida real dos jogadores.
Num geral cada fase tem sua situação-problema bem orientada e direcionada, direto ao ponto da missão principal. Isso não impede que cada ambiente seja recheado de passagens secretas, cantinhos escondidos, com direito a cavernas entre móveis e alvenaria. São diversos segredinhos e tarefas extra que dão ao jogador mais atividades pra explorar mais o jogo, alongando sua duração. Mas querendo ir direto ao ponto, não tem obstáculos para tanto.
Tinykin também é um festival de Easter Eggs com uma pá de personagens e diálogos fazendo referência a obras de cultura pop, com direito a uma boa dose de localização, que em PT-BR está excelente. Senna versus Alain Prost (Fórmula 1, anos 90), Star Wars, John Wick, Star Trek, House, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda…a lista é grande e não fui capaz de captar e catalogar tudo.
Se Tinykin tem algum ponto que tira um pouco de seu brilho perfeito, talvez esteja na trilha sonora. Ela tem inspiração e originalidade o suficiente pra lhe conferir personalidade própria, mas pra mim ela não soou tão marcante. Não é um demérito, mas também não é nenhum destaque, infelizmente.
Breath of The Wild foi um jogo que, mesmo com seus defeitos (aos meus olhos), foi uma das melhores experiências de mundo aberto que já joguei. TOTK pega (quase) tudo que BOTW não me agradou e trabalha em cima de formas que subverte as expectativas ruins que eu tinha (quase todas).
Templos e habilidades p/ cada templo estão de volta com bastante criatividade e engenhosidade, superando as meras 4 bestas de BOTW, mas ainda em quantidade inferior a outros jogos da franquia que costumam ter de 6 a 12 templos.
Ao invés de mais templos, retornam as inúmeras shrines (132, argh). Ao menos elas são todas distintas e oferecem desafios mais curtos pra trocar por corações/resistência, não tomando tanto tempo, mas ainda mantendo a pulverização de design que ao meu ver cansa bastante no jogo.
Os novos poderes são estupidamente engenhosos e levam não só a inúmeras ideias de quebra-cabeça, como também adicionam qualidade de vida e praticidade na exploração do mundo. Do ponto de vista de poderes, TOTK é extremamente diferente de BOTW, já que substitui todos os de seu antecessor.
Só o Ultrahand adiciona toda uma camada de experimentação e expressão do jogador ao permitir construir estruturas e engenhocas. Nas redes sociais a gente vê o nível insano que as mentes mais desocupadas conseguem produzir, é ridiculamente impressionante.
Fusion adiciona camadas de utilidade aos itens absurdas. As armas passam a render mais e combinações curiosas resultam em escudos ou armas bastante interessantes. Uma vibe “Monster Hunter”, onde você usa pedaços dos monstros que alteram o design das armas.
Os outros poderes são igualmente impactantes no gameplay e diferente o bastante da experiência do jogo anterior. No fim das contas, TOTK faz tudo que BOTW faz, mas com diferenças consideráveis pra justificar se chamar de sequência.
No tocante à história, TOTK segue uma direção diferente de BOTW. Ao invés de imagens com dicas de onde se encontram as cutscenes, agora temos um mix bacana de cutscenes nas missões principais e geoglífos espalhados pelo mundo com uma enorme marcação no mapa de onde se localizam. As torres agora lançam Link ao ar, permitindo identificar pontos de interesse dos céus. A exploração bem orientada leva o jogador aos pontos onde se encontram as cutscenes que contam o que aconteceu com a princesa Zelda, enquanto os eventos principais complementam outro lado e outro momento dessa história.
No fim das contas, a experiência é não só melhor, mais muito melhor que BOTW, apesar de se passar no mesmo mundo e mapa. Isso não se torna um problema em matérias de localidades, já que todas foram alteradas para simbolizar a passagem de tempo, com pessoas e atividades diferentes.
Mas se BOTW tinha um mapa colossal criando um jogo muito extenso e muito inflado, TOTK segue na mesma linha. E as 165h de BOTW me ensinaram que não há tanta recompensa que justifique a exploração livre. Dessa forma, em 90hs terminei TOTK, com uma sensação muito boa de ter sido uma experiência satisfatória e energizante para o futuro da série, contrariando expectativas que eu tinha anteriormente.
Templos e habilidades p/ cada templo estão de volta com bastante criatividade e engenhosidade, superando as meras 4 bestas de BOTW, mas ainda em quantidade inferior a outros jogos da franquia que costumam ter de 6 a 12 templos.
Ao invés de mais templos, retornam as inúmeras shrines (132, argh). Ao menos elas são todas distintas e oferecem desafios mais curtos pra trocar por corações/resistência, não tomando tanto tempo, mas ainda mantendo a pulverização de design que ao meu ver cansa bastante no jogo.
Os novos poderes são estupidamente engenhosos e levam não só a inúmeras ideias de quebra-cabeça, como também adicionam qualidade de vida e praticidade na exploração do mundo. Do ponto de vista de poderes, TOTK é extremamente diferente de BOTW, já que substitui todos os de seu antecessor.
Só o Ultrahand adiciona toda uma camada de experimentação e expressão do jogador ao permitir construir estruturas e engenhocas. Nas redes sociais a gente vê o nível insano que as mentes mais desocupadas conseguem produzir, é ridiculamente impressionante.
Fusion adiciona camadas de utilidade aos itens absurdas. As armas passam a render mais e combinações curiosas resultam em escudos ou armas bastante interessantes. Uma vibe “Monster Hunter”, onde você usa pedaços dos monstros que alteram o design das armas.
Os outros poderes são igualmente impactantes no gameplay e diferente o bastante da experiência do jogo anterior. No fim das contas, TOTK faz tudo que BOTW faz, mas com diferenças consideráveis pra justificar se chamar de sequência.
No tocante à história, TOTK segue uma direção diferente de BOTW. Ao invés de imagens com dicas de onde se encontram as cutscenes, agora temos um mix bacana de cutscenes nas missões principais e geoglífos espalhados pelo mundo com uma enorme marcação no mapa de onde se localizam. As torres agora lançam Link ao ar, permitindo identificar pontos de interesse dos céus. A exploração bem orientada leva o jogador aos pontos onde se encontram as cutscenes que contam o que aconteceu com a princesa Zelda, enquanto os eventos principais complementam outro lado e outro momento dessa história.
No fim das contas, a experiência é não só melhor, mais muito melhor que BOTW, apesar de se passar no mesmo mundo e mapa. Isso não se torna um problema em matérias de localidades, já que todas foram alteradas para simbolizar a passagem de tempo, com pessoas e atividades diferentes.
Mas se BOTW tinha um mapa colossal criando um jogo muito extenso e muito inflado, TOTK segue na mesma linha. E as 165h de BOTW me ensinaram que não há tanta recompensa que justifique a exploração livre. Dessa forma, em 90hs terminei TOTK, com uma sensação muito boa de ter sido uma experiência satisfatória e energizante para o futuro da série, contrariando expectativas que eu tinha anteriormente.
2022
Desenhado como uma cópia sem muita inspiração de Smash Bros, Multiversus estreia de forma estrondosamente abissal.
Bugs, desbalanceamento, modelo de negócios limitante como os de MOBA, instabilidade e sensação ruim de gravidade e impacto de golpes, Multiversus ainda tem um loooongo caminho pra se tornar um jogo bom.
Há boas ideais presentes em conceito, mas com uma execução que deixa bastante a desejar em matéria de polimento e estabilidade. Destaco funções específicas de papel, que especializam determinados personagens.
Mas com uma gama de heróis extremamente limitada, a empresa deveria começar distribuindo todos os poucos personagens disponíveis pra criar uma base sólida e depois construir expansões pagas por passes de temporadas.
Como jogo-serviço, provavelmente esses problemas irão se solucionando com o tempo, mas em seu lançamento multiversus é um amontoado de problemas com um jogo por trás a ser lapidado.
Dai tempo ao tempo, quem sabe daqui um ano ou dois?
Bugs, desbalanceamento, modelo de negócios limitante como os de MOBA, instabilidade e sensação ruim de gravidade e impacto de golpes, Multiversus ainda tem um loooongo caminho pra se tornar um jogo bom.
Há boas ideais presentes em conceito, mas com uma execução que deixa bastante a desejar em matéria de polimento e estabilidade. Destaco funções específicas de papel, que especializam determinados personagens.
Mas com uma gama de heróis extremamente limitada, a empresa deveria começar distribuindo todos os poucos personagens disponíveis pra criar uma base sólida e depois construir expansões pagas por passes de temporadas.
Como jogo-serviço, provavelmente esses problemas irão se solucionando com o tempo, mas em seu lançamento multiversus é um amontoado de problemas com um jogo por trás a ser lapidado.
Dai tempo ao tempo, quem sabe daqui um ano ou dois?
2020
"Eu só quero chorar por enquanto."
Essas foram as únicas palavras que me vieram a mente assim que concluí Evan's Remains. Não é de hoje que existem narrativas muito impactantes e emocionantes em jogos. To the Moon é uma referência frequente no que tange roteiro emotivo trabalhando na mídia.
Evan's Remains conta uma história com uma boa mixagem de gameplay engajador de puzzle com visual novel. Os diálogos e cutscenes se alternam com as seções de gameplay pra criar a experiência que ele se propõe, e com sucesso, utilizando elementos que mantém a harmonia ludonarrativa.
A narrativa também alterna cenas no presente com flashbacks, usando o recurso da não-linearidade pra montar um roteiro intrigante, impactante e emocionante.
E isso com uma duração que respeita o tempo do jogador, sem jamais se estender desnecessariamente, se mantendo objetiva e eficiente, sem abrir mão de diálogos divertidos e com uma certa dose de filosofia e maturidade pra abordar seus temas.
O loop do gameplay se torna um pouquinho incômodo em virtude da alternância dos momentos em que o jogador tem ou não o controle. Certos pontos uma cutscene acaba e devolve o controle ao jogador, só pra ele andar alguns poucos passos e já perder o controle novamente pra outra cutscene.
Às vezes faz sentido, por permitir ao jogar retornar e solucionar puzzles que ele deixou pra trás, mas às vezes é só incômodo mesmo esse toma lá dá cá de controle, ao que poderia ter uma cutscene mais comprida e com o personagem fazendo o movimento de deslocamento sozinho, sem necessidade de dar o controle ao jogador por um momento tão breve.
Fora isso, o jogo também conta com alguns troféus/achievements contra-intuitivos e que não adicionam em nada à experiência, existindo ali de forma um tanto esdrúxula somente para caçador de troféu ter um trabalho extra e estúpido para conquistar.
Mas de forma alguma esses dois pontos são capazes de manchar a beleza e o encanto dessa experiência curtinha e intensa que ele fornece.
E novamente eu só quero chorar mais um pouco.
Essas foram as únicas palavras que me vieram a mente assim que concluí Evan's Remains. Não é de hoje que existem narrativas muito impactantes e emocionantes em jogos. To the Moon é uma referência frequente no que tange roteiro emotivo trabalhando na mídia.
Evan's Remains conta uma história com uma boa mixagem de gameplay engajador de puzzle com visual novel. Os diálogos e cutscenes se alternam com as seções de gameplay pra criar a experiência que ele se propõe, e com sucesso, utilizando elementos que mantém a harmonia ludonarrativa.
A narrativa também alterna cenas no presente com flashbacks, usando o recurso da não-linearidade pra montar um roteiro intrigante, impactante e emocionante.
E isso com uma duração que respeita o tempo do jogador, sem jamais se estender desnecessariamente, se mantendo objetiva e eficiente, sem abrir mão de diálogos divertidos e com uma certa dose de filosofia e maturidade pra abordar seus temas.
O loop do gameplay se torna um pouquinho incômodo em virtude da alternância dos momentos em que o jogador tem ou não o controle. Certos pontos uma cutscene acaba e devolve o controle ao jogador, só pra ele andar alguns poucos passos e já perder o controle novamente pra outra cutscene.
Às vezes faz sentido, por permitir ao jogar retornar e solucionar puzzles que ele deixou pra trás, mas às vezes é só incômodo mesmo esse toma lá dá cá de controle, ao que poderia ter uma cutscene mais comprida e com o personagem fazendo o movimento de deslocamento sozinho, sem necessidade de dar o controle ao jogador por um momento tão breve.
Fora isso, o jogo também conta com alguns troféus/achievements contra-intuitivos e que não adicionam em nada à experiência, existindo ali de forma um tanto esdrúxula somente para caçador de troféu ter um trabalho extra e estúpido para conquistar.
Mas de forma alguma esses dois pontos são capazes de manchar a beleza e o encanto dessa experiência curtinha e intensa que ele fornece.
E novamente eu só quero chorar mais um pouco.
1995
Eu detesto Star Fox. O que eu poderia esperar de Panzer Dragoon?
A capa do jogo em japonês inclusive vende um jogo que não consegue transpor para os gráficos intrajogo sua bela direção de arte.
Achei um jogo feio, chato, e com design arcade que eu não me conecto. Não me instiga, não me prende, não me ganha.
Dropei na 3ª fase. De Apenas 7. Que exigem mta repetição pra dominar suas mecânicas e jogabilidade pra passar de forma eficiente e não tomar um game over.
Definitivamente não é meu estilo de jogo.
A capa do jogo em japonês inclusive vende um jogo que não consegue transpor para os gráficos intrajogo sua bela direção de arte.
Achei um jogo feio, chato, e com design arcade que eu não me conecto. Não me instiga, não me prende, não me ganha.
Dropei na 3ª fase. De Apenas 7. Que exigem mta repetição pra dominar suas mecânicas e jogabilidade pra passar de forma eficiente e não tomar um game over.
Definitivamente não é meu estilo de jogo.
Eu não gosto de Open World. Isso é algo que já tenho firmado no meu gosto pessoal por ter experimentado diversos tipos de jogos com esse tipo de design.
Se eu pego um jogo, vou até o final e o termino, apesar dele ser Open World, então algo muito bom ele fez.
Marvel’s Spiderman tem todos os defeitos que me afastam de Open World. Perda de tempo massiva se locomovendo do ponto A até o B onde a missão será realizada, com um cenário repetitivo, deslocamento repetitivo e missões secundárias repetitivas, mas não sem ter seus méritos.
Primeiramente o core do jogo tem um grau de polimento extremamente satisfatório. Movimento dinâmico, animações variadas, fluidas, e cheias de personalidade e vivacidade, gravidade numa medida que serve ao gameplay, sensação de controle precisa e responsiva (nem sempre) e de impacto com um design de som e efeitos que amplificam a ação e a intensidade dos golpes durante o combate e as manobras com a teia.
Atravessar a cidade não é um deslocamento tedioso, mas bastante estimulante, já que tem uma certa curva de aprendizado para balançar e saltar por entre os prédios sem se chocar com os inúmeros obstáculos. A programação das animações e a fluidez de transição entre elas está quase 100% do tempo perfeita, contribuindo ainda mais para o prazer de conseguir fazer o chamado “web swing” (balançar nas teias) pela cidade de Nova York.
Ainda assim, depois de um certo tempo mesmo esse deslocamento estimulante perde seu brilho e se torna repetitivo, me encorajando a utilizar os pontos de Viagem Rápida e otimizar meu tempo com o jogo.
Os menus e a interface também são refinados com cores harmoniosas e fontes legíveis e divertidas, dando sempre muita personalidade em todos os aspectos do jogo, o que é completamente esperado de uma produção AAA.
Mas estamos falando de um jogo de mundo aberto da Sony, e isso implica que teremos um mapa no estilo GPS com uma série de pings indicando atividades paralelas que o jogador pode fazer enquanto não inicia a próxima missão. Pra um jogador com bastante apreço e tempo livre, há uma enorme quantidade de tarefas secundárias, e elas recompensam bem com upgrades para os equipamentos e novos trajes para o Homem-Aranha.
Pra quem não suporta esse modelo de design que foi popularizado pela Ubisoft, com regiões do mapa recheadas de atividades que são “liberadas e evidenciadas” quando o jogador ativa uma espécie de “torre” (Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, The Division…Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone e agora Spiderman, sem falar de outros jogos da Rockstar, títulos AA e indies), temos aqui mais uma aventura montada em cima de uma estrutura (framework) pra mim cansada e cansativa, pensada para “inchar” o jogo com conteúdo repetitivo e pouco variado para esticar as horas de jogo necessárias para complecionistas “platinarem” cada gasto de 250, 300 e agora 350 reais em jogos AAA.
Isso não impede que em seu núcleo duro, em sua missão principal, Marvel’s Spiderman ofereça uma aventura que não depende desse conteúdo extra, com atalhos e formas de agilizar a jogatina, e que dura umas boas 20h. Soma-se ainda a presença de um roteiro pareado com outros roteiros transmídia do Homem-Aranha, certamente melhor que diversos filmes que apareceram nas telonas.
Isso porque seu roteiro utiliza bem seu tempo para apresentar os personagens, construir suas personalidades, motivações e objetivos, com direito a uma variedade de vilões clássicos da série, sem precisar de uma história introdutória para cada um. Temos aqui um prato cheio para os fãs de longa-data que não exclui novatos, e desenvolve uma trama redondinha com seus protagonistas e antagonistas tendo bastante “tempo de tela” ou melhor adaptando à mídia: tempo de interação.
Alguns personagens secundários são explorados em outros meios narrativos dentro do jogo, como via uma espécie de “rede social” onde Peter interage como Homem-Aranha, e trechos eventuais de uma espécie de programa de rádio do enervante JJ Jameson em sua cruzada para vilanizar o nosso herói da vizinhança.
Utilizando todos os recursos narrativos típicos de videojogos, Marvel’s Spiderman cria um mundo rico e recheado de informações e interações que transporta o jogador para a pele do Homem-Aranha e seus aliados. Com uma variação de gameplay e perspectiva ele também permite que o jogador vivencie as contribuições de outros personagens, criando vínculos e diversificando o ritmo e loop. Tudo em conjunto de belas cutscenes cinemáticas que abusam da experiência da Sony como produtora de cinema e enriquece ainda mais a narrativa do título, sem deixar de mencionar o excelentíssimo design de som e composições da trilha sonora.
Para todos os efeitos, Marvel’s Spiderman é um título cinemático em sua excelência, uma jóia finamente lapidada pela Insomniac para contribuir para o portfólio da família Playstation, do gênero de jogos licenciados de super-heróis e sobretudo, do próprio Homem-Aranha.
Se eu pego um jogo, vou até o final e o termino, apesar dele ser Open World, então algo muito bom ele fez.
Marvel’s Spiderman tem todos os defeitos que me afastam de Open World. Perda de tempo massiva se locomovendo do ponto A até o B onde a missão será realizada, com um cenário repetitivo, deslocamento repetitivo e missões secundárias repetitivas, mas não sem ter seus méritos.
Primeiramente o core do jogo tem um grau de polimento extremamente satisfatório. Movimento dinâmico, animações variadas, fluidas, e cheias de personalidade e vivacidade, gravidade numa medida que serve ao gameplay, sensação de controle precisa e responsiva (nem sempre) e de impacto com um design de som e efeitos que amplificam a ação e a intensidade dos golpes durante o combate e as manobras com a teia.
Atravessar a cidade não é um deslocamento tedioso, mas bastante estimulante, já que tem uma certa curva de aprendizado para balançar e saltar por entre os prédios sem se chocar com os inúmeros obstáculos. A programação das animações e a fluidez de transição entre elas está quase 100% do tempo perfeita, contribuindo ainda mais para o prazer de conseguir fazer o chamado “web swing” (balançar nas teias) pela cidade de Nova York.
Ainda assim, depois de um certo tempo mesmo esse deslocamento estimulante perde seu brilho e se torna repetitivo, me encorajando a utilizar os pontos de Viagem Rápida e otimizar meu tempo com o jogo.
Os menus e a interface também são refinados com cores harmoniosas e fontes legíveis e divertidas, dando sempre muita personalidade em todos os aspectos do jogo, o que é completamente esperado de uma produção AAA.
Mas estamos falando de um jogo de mundo aberto da Sony, e isso implica que teremos um mapa no estilo GPS com uma série de pings indicando atividades paralelas que o jogador pode fazer enquanto não inicia a próxima missão. Pra um jogador com bastante apreço e tempo livre, há uma enorme quantidade de tarefas secundárias, e elas recompensam bem com upgrades para os equipamentos e novos trajes para o Homem-Aranha.
Pra quem não suporta esse modelo de design que foi popularizado pela Ubisoft, com regiões do mapa recheadas de atividades que são “liberadas e evidenciadas” quando o jogador ativa uma espécie de “torre” (Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, The Division…Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone e agora Spiderman, sem falar de outros jogos da Rockstar, títulos AA e indies), temos aqui mais uma aventura montada em cima de uma estrutura (framework) pra mim cansada e cansativa, pensada para “inchar” o jogo com conteúdo repetitivo e pouco variado para esticar as horas de jogo necessárias para complecionistas “platinarem” cada gasto de 250, 300 e agora 350 reais em jogos AAA.
Isso não impede que em seu núcleo duro, em sua missão principal, Marvel’s Spiderman ofereça uma aventura que não depende desse conteúdo extra, com atalhos e formas de agilizar a jogatina, e que dura umas boas 20h. Soma-se ainda a presença de um roteiro pareado com outros roteiros transmídia do Homem-Aranha, certamente melhor que diversos filmes que apareceram nas telonas.
Isso porque seu roteiro utiliza bem seu tempo para apresentar os personagens, construir suas personalidades, motivações e objetivos, com direito a uma variedade de vilões clássicos da série, sem precisar de uma história introdutória para cada um. Temos aqui um prato cheio para os fãs de longa-data que não exclui novatos, e desenvolve uma trama redondinha com seus protagonistas e antagonistas tendo bastante “tempo de tela” ou melhor adaptando à mídia: tempo de interação.
Alguns personagens secundários são explorados em outros meios narrativos dentro do jogo, como via uma espécie de “rede social” onde Peter interage como Homem-Aranha, e trechos eventuais de uma espécie de programa de rádio do enervante JJ Jameson em sua cruzada para vilanizar o nosso herói da vizinhança.
Utilizando todos os recursos narrativos típicos de videojogos, Marvel’s Spiderman cria um mundo rico e recheado de informações e interações que transporta o jogador para a pele do Homem-Aranha e seus aliados. Com uma variação de gameplay e perspectiva ele também permite que o jogador vivencie as contribuições de outros personagens, criando vínculos e diversificando o ritmo e loop. Tudo em conjunto de belas cutscenes cinemáticas que abusam da experiência da Sony como produtora de cinema e enriquece ainda mais a narrativa do título, sem deixar de mencionar o excelentíssimo design de som e composições da trilha sonora.
Para todos os efeitos, Marvel’s Spiderman é um título cinemático em sua excelência, uma jóia finamente lapidada pela Insomniac para contribuir para o portfólio da família Playstation, do gênero de jogos licenciados de super-heróis e sobretudo, do próprio Homem-Aranha.
O ritmo de Journey é prejudicado por sua movimentação pelo cenário em câmera over-the-shoulder que muitas vezes é constantemente interrompida por diálogos e cutscenes. Quando desimpedida, oferece quase nenhum estímulo durante a locomoção, infelizmente.
Há também uma perda em relação ao material original em virtude da troca de hardware, mas há uma compensação na forma de adaptação de suas mecânicas originais.
Entretanto, o roteiro explora elementos do primeiro e do segundo jogo, fechando as pontas e amarras, desenvolvendo melhor temáticas que ficaram superficiais na primeira parte e arrematando com um final que mistura ficção científica e emoções humanas de forma maestral, digna de Rika Suzuki.
É um jogo que no fim das contas coleciona alguns solavancos no gameplay que o roteiro e o desenvolvimento de personagens e temáticas cuida em amparar, segurando bem o conjunto.
Há também uma perda em relação ao material original em virtude da troca de hardware, mas há uma compensação na forma de adaptação de suas mecânicas originais.
Entretanto, o roteiro explora elementos do primeiro e do segundo jogo, fechando as pontas e amarras, desenvolvendo melhor temáticas que ficaram superficiais na primeira parte e arrematando com um final que mistura ficção científica e emoções humanas de forma maestral, digna de Rika Suzuki.
É um jogo que no fim das contas coleciona alguns solavancos no gameplay que o roteiro e o desenvolvimento de personagens e temáticas cuida em amparar, segurando bem o conjunto.