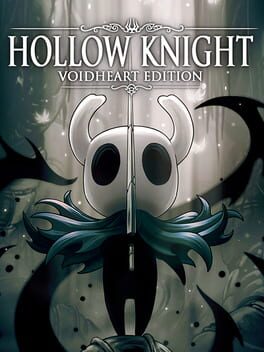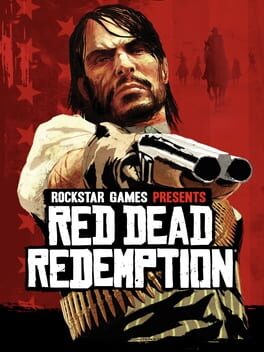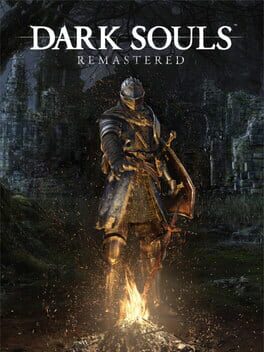Walgyre
169 reviews liked by Walgyre
Enfim, uma das maiores pendências da minha vida se esvai, deixando pra trás um sentimento de arrependimento por nunca ter mergulhado nesse universo antes.
Desde a ascensão do sub-gênero dos "metroidvania", acredito que nada se compara ao nível absoluto de Hollow Knight. Não se trata apenas de uma experiência definitiva, se trata de uma experiência incomparável a qualquer outro similar.
Hollow Knight está no panteão de colossos dentre os maiores e melhores jogos independentes da história.
Muito me fascina o quanto traços de Dark Souls estão presentes por aqui, e não falo da dificuldade, mesmo que seja um ponto muito abordado no jogo.
A forma como cada cenário conta uma história à sua maneira, de um modo sutil e extremamente imersivo, nos ambientando em um universo tomado pela melancolia, fadado a ceder a uma infecção que se alastra cada vez mais, mas que em contraponto nos apresenta pequenas fagulhas de esperança fixadas a personagens únicos e inesquecíveis.
Há muitas memórias que eu gostaria de apagar, apenas para poder reviver todas elas pela primeira vez. Como quando chegamos na Cidade das Lágrimas pela primeira vez, viajamos pelos túneis com o Velho Besouro ou até mesmo quando enfrentamos os Lordes Louva-a-Deus, uma das lutas mais satisfatórias que já experienciei.
Hollow Knight caminha para se tornar um confort game pessoal, e acredito que minha passagem por esse universo ainda esteja distante de um fim.
Desde a ascensão do sub-gênero dos "metroidvania", acredito que nada se compara ao nível absoluto de Hollow Knight. Não se trata apenas de uma experiência definitiva, se trata de uma experiência incomparável a qualquer outro similar.
Hollow Knight está no panteão de colossos dentre os maiores e melhores jogos independentes da história.
Muito me fascina o quanto traços de Dark Souls estão presentes por aqui, e não falo da dificuldade, mesmo que seja um ponto muito abordado no jogo.
A forma como cada cenário conta uma história à sua maneira, de um modo sutil e extremamente imersivo, nos ambientando em um universo tomado pela melancolia, fadado a ceder a uma infecção que se alastra cada vez mais, mas que em contraponto nos apresenta pequenas fagulhas de esperança fixadas a personagens únicos e inesquecíveis.
Há muitas memórias que eu gostaria de apagar, apenas para poder reviver todas elas pela primeira vez. Como quando chegamos na Cidade das Lágrimas pela primeira vez, viajamos pelos túneis com o Velho Besouro ou até mesmo quando enfrentamos os Lordes Louva-a-Deus, uma das lutas mais satisfatórias que já experienciei.
Hollow Knight caminha para se tornar um confort game pessoal, e acredito que minha passagem por esse universo ainda esteja distante de um fim.
Uma sequência direta que cobre muito bem alguns dos principais defeitos de seu antecessor, mas que infelizmente insiste em repetir alguns deles.
Shadows of New York se passa logo após os acontecimentos de Coteries of New York, e se tratando de uma continuação direta da história que foi construída anteriormente, apresenta um seguimento narrativo muito satisfatório.
Estar no controle de uma protagonista muito mais interessante ajuda bastante nesse quesito.
"𝘚𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘐 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘰𝘧 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘦𝘦𝘤𝘩, 𝘧𝘦𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴, 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘐'𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘢𝘵𝘪𝘴𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘦".
Julia Sowinski, uma vampira recém-transformada cuja vida como jornalista investigativa freelancer repleta de dificuldades acabara de ficar para trás.
Inicialmente, vivendo o oposto do que uma glamourosa vida de vampiro parecia ser, nos vemos trabalhando como uma oficial de migração, controlando e supervisionando o fluxo de vampiros dentro e fora de Nova Iorque.
Monótono, assim como parece. Até que a experiência de Julia como jornalista acaba lhe dando a oportunidade de liderar uma investigação de assassinato, cuja resolução definiria seu futuro na sociedade vampírica.
De início, parece ser uma premissa interessante. O problema é: Tudo é imensamente menos emocionante do que a premissa indica.
Há de fato uma investigação, mas em nenhum momento me senti parte dela.
Apesar dos visuais extremamente lindos, Shadows of New York falha em fazer com que o jogador se sinta parte da obra, como se suas escolhas fossem completamente insignificantes pra investigação e não causassem nenhum impacto.
Fico com a sensação de que houve um certo potencial desperdiçado, mas devo dizer que houve uma evolução.
Tanto os diálogos quanto os pensamentos próprios de Julia são muito bem escritos e repletos de uma personalidade forte e complexa que a personagem carrega consigo.
Apesar de não ser a experiência definitiva de Vampire: The Masquerade, suas 5 horas de leituras e mais leituras valeram a pena.
Shadows of New York se passa logo após os acontecimentos de Coteries of New York, e se tratando de uma continuação direta da história que foi construída anteriormente, apresenta um seguimento narrativo muito satisfatório.
Estar no controle de uma protagonista muito mais interessante ajuda bastante nesse quesito.
"𝘚𝘰𝘮𝘦𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴 𝘐 𝘵𝘩𝘪𝘯𝘬 𝘰𝘧 𝘮𝘺𝘴𝘦𝘭𝘧 𝘢𝘴 𝘢 𝘭𝘦𝘦𝘤𝘩, 𝘧𝘦𝘦𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦'𝘴 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴, 𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘰𝘯𝘴, 𝘢𝘯𝘥 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘫𝘶𝘴𝘵 𝘣𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘐'𝘮 𝘯𝘰𝘵 𝘴𝘢𝘵𝘪𝘴𝘧𝘪𝘦𝘥 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘮𝘪𝘯𝘦".
Julia Sowinski, uma vampira recém-transformada cuja vida como jornalista investigativa freelancer repleta de dificuldades acabara de ficar para trás.
Inicialmente, vivendo o oposto do que uma glamourosa vida de vampiro parecia ser, nos vemos trabalhando como uma oficial de migração, controlando e supervisionando o fluxo de vampiros dentro e fora de Nova Iorque.
Monótono, assim como parece. Até que a experiência de Julia como jornalista acaba lhe dando a oportunidade de liderar uma investigação de assassinato, cuja resolução definiria seu futuro na sociedade vampírica.
De início, parece ser uma premissa interessante. O problema é: Tudo é imensamente menos emocionante do que a premissa indica.
Há de fato uma investigação, mas em nenhum momento me senti parte dela.
Apesar dos visuais extremamente lindos, Shadows of New York falha em fazer com que o jogador se sinta parte da obra, como se suas escolhas fossem completamente insignificantes pra investigação e não causassem nenhum impacto.
Fico com a sensação de que houve um certo potencial desperdiçado, mas devo dizer que houve uma evolução.
Tanto os diálogos quanto os pensamentos próprios de Julia são muito bem escritos e repletos de uma personalidade forte e complexa que a personagem carrega consigo.
Apesar de não ser a experiência definitiva de Vampire: The Masquerade, suas 5 horas de leituras e mais leituras valeram a pena.
Quality superhero films may be the norm these days, but in hindsight it’s strange how little we’ve gotten in the way of narratively-equivalent video games. Sure, there’s the occasionally great movie tie-in(+), but outside of the Arkham and Spider-Man series, you could count on one hand the number of solid story-driven titles out there.
It’s a shame, then, that Guardians of the Galaxy reportedly underperformed as it’s the kind of game I felt the industry really needed with regards to the comic book genre, and what makes it particularly amazing is how it manages to craft its own path whilst still staying true to the characterizations of the eponymous film. See, compared to Batman and Spider-Man, where their numerous iterations have made audiences open to new versions, Guardians is different in that most people are liable to only knowing the characters from James Gunn’s flick, and so the writers at Eidos-Montréal had a tough task before them: how do we create our own version of the team that concurrently pays homage to the comics without alienating any cinephiles?
Well, I’m not sure what their thought process entailed, but the end result was taking the core personalities personified in the movie and combining it with an original backstory, namely one in which every Guardian was a veteran of a conflict known as the Galactic War. Each member played a different role during the war, and the way such information is divulged over the course of the game goes a long way towards distinguishing its cast from their cinematic interactions. Yes, Quill is still comedic, Drax a literalist, Rocket a loudmouth, etc…etc…, but their experiences have led to them developing varied demeanors towards society as a whole. Gamora, for example, seeks some form of redemption for her support of Thanos; Rocket & Groot are purely about surviving, and Drax hunts for honor over his inability to protect his clan.
Found familyhood was cited as a major inspiration behind the tale, and I can safely say the writers successfully accomplished this task via the sheer amount of dialogue they crafted for the game. Seriously, fans of the Mass Effect or Red Dead series may find themselves in awe at the innumerable conversations typed-up for every chapter; convos that go a long way towards establishing relationships, lore, scenarios, and general camaraderie. Hearing Drax repeatedly call Gamora an assassin, seeing everyone snicker at Quill’s attempts at self-aggrandizement, or catching Rocket’s reactions to Groot’s various statements truly render the Guardians as three-dimensional people who’ve had a lot of laughs & cries along the way. No matter their disagreements, there’s a basic-level of respect amongst each peer, and while you occasionally have the option to interject with a unique response, both choices ultimately contribute to that looming amity.
I’m not exaggerating when I say GOTG has a ton of impromptu chatter -- your main hub of a ship spouts the lion’s share of these, with characters either speaking to each other out of their own volition, or engaging in ones triggered by unique items found during missions. Both moulds give-off a big Mass Effect vibe, and I was constantly amazed whenever I discerned some new interaction, whether it be petty, dramatic, or (in most cases) downright amusing.
None of this is even taking into consideration the outside convos in which characters often shout unique battle cries or make special observations should you be standing in a specific place. One of the best things GOTG does is resolve TLOU Problem I’ve had with certain narrative-driven games wherein your hero is meant to progress forward in stark contrast to the gameplay encouraging dicking around; it breaks the game’s immersion to see your next objective or companion kindly wait on you as you do whatever it is you feel like doing. By having the other Guardians actually remark on Quill’s strays off the beaten path, it goes a long way towards maintaining GOTG’s atmosphere.
In some ways, all the dialogue can get a little overwhelming, particularly for people (like myself) who suffer from FOMO: there’s a solid chance you’ll unintentionally cut-off or outright miss at least 15 percent of the optional scripting here, and that’s just something you’ll have to contend with should you wish to play the game.
Of course, no one would’ve cared about these palavers had the voice acting not been good, and that’s thankfully not the case here. Guardians of the Galaxy is interesting in that it opted for an entirely unknown cast -- I consider myself pretty well-versed in the voice acting industry, and I honestly only recognized a single name here (Andreas Apergis, and even then that was mainly because of his recurrent roles in the Assassin’s Creed franchise). That said, their unknownness doesn’t impede the project in any way as they are all terrific, embodying their characters fully as they wander amidst a full spectrum of emotions. Like I noted with the script, there was a difficult balancing act required in terms of making sure these takes on the Guardians were both similar and dissimilar from their movie counterparts, and all the actors proficiently did-so whilst rendering their characters their own. All cards on the table, I actually preferred most of these takes over the celebrityhood of James Gunn’s enterprise: Jason Cavalier grants Drax far more tragic introspective depth than Bautista ever did; Alex Weiner removes that atrocious Gilbert Gottfried inflection Cooper gave his Rocket (RIP Gottfried, but I was not a fan); and even Robert Montcalm manages to provide Groot a more-variegated personality than the one Diesel was limited to.
Given the strong vocal bounce between the characters (Rocket & Groot standing out as the best), GOTG deserves further acclamation for its robust ADR direction. See, there’s a good chance the actors did not record their lines together, and so their ability to resound like they had good chemistry owes a lot of fealty to the narrative directors for providing the appropriate context for each delivery.
There were only two voices I had issues with, the first being Jon McLaren’s Star-Lord. This may come as a surprise given that Quill is the lead protagonist and only playable character, but I did not like the inherent stoner-esque gravel McLaren provided him. Don’t get me wrong, the performance is otherwise solid; however, more often than not, I found myself thinking of a Seth Green character over a Marvel superhero.
The second is Emmanuelle Lussier-Martinez’s Mantis, though I don’t hold this against her as it’s evident the writers were going for this crazed NPC wrought with constant knowledge: the problem is, rather than do a Dr. Manhattan-type performance, they opted to portray her like Omi in that episode of Xiaolin Showdown where he gets infused with factoids from the Fountain of Hui (and yes, for the uninitiated, that’s a bad thing when done in spades).
Regardless, everyone’s performance was successfully transposed into the game via top-quality facial capture, rendering their squints and frowns through phenomenal animations. When you visibly see pain and happiness on your characters’ faces, it does a lot for the execution of the overarching story.
On that note, the narrative has its pros and cons. As I harped on earlier, the scribes do a phenomenal job developing the relationships between the Guardians: while this version of the team is already well-acquainted, it still takes place in the early part of their formation, meaning this is where you see them go from world-weary associates to the makeshift family we all know-and-love. In terms of the grand adventure you’re set out on (i.e., the campaign those interactions fall under), your mileage is going to vary. The entire game is full of heart, and there are some emotional moments that genuinely touched me to my core, but getting to those moments means engaging in standard superhero schlock wherein you’re charged with saving the universe from despair. Yes, other comic book games like Arkham Asylum and Shattered Dimensions indulged in similar premises, but I’d argue the difference is those titles were carried by their villains and a sense of mystery towards uncovering said villain’s plot. GOTG’s problem is that it’s upfront about its secrets from the get-go and, more importantly, lacks memorable antagonists: the main one, in particular, being a generic evil shroud akin to such classics as the Rising Darkness from Constantine, Galactus from Tim Story’s Fantastic 4, and Smallville’s version of Darkseid (yes, this is sarcasm). A couple of the secondary adversaries like Lady Hellbender fare a bit better, but, as they’re not a constant presence, this is a game you’ll largely be playing for the protagonists.
For the record, I had a good time with the story -- it’s well-told, has minimal pacing issues (save the end++), and would’ve worked well as an officially-published graphic novel. It’s just, post-completion, you won’t recall the majority of the chapters (the interactions within, yes, but not the events).
Thanks to James Gunn, the GOTG franchise is also permanently associated with comedy, and on that front the game works quite well. Whereas Gunn’s films were more about gags and one-liners, Eidos goes for a more situational style-of-humor wherein you’re witnessing how a coterie of charismatic individuals with sharp comportments would behave when placed in an enclosed dwelling. I wouldn’t call it laugh-out-loud, but more-so chuckle humor: you’ll smile and giggle like a schoolgirl, yet rarely twist your stomach out from hooting, and I think the tactic works great. There are times when the game tries to mimic the Gunn route; however, those scenes fall very flat and are thankfully few-and-far between(+++).
Of course, Arkham and Spider-Man didn’t get popular solely from their narratives or witticism: they had phenomenal gameplay systems to back everything up, and on that note, Guardians of the Galaxy is pretty dang good. It’s interesting that I made the comparison to Mass Effect earlier as the similarities between the two even extend to combat: you control Quill while his comrades are AI-guided, each of whom can be called upon to use a special attack against a foe or foes. Quill himself is equipped with his fists, dual blasters (primed with elemental shots obtained during set story beats), and a batch of special moves ranging from electro mines to the iconic jet boots. Much like the original Mass Effect, ammo for every tool has been replaced with a cooldown period, and there is no cover: if you’re not on the run, you’re likely to get swamped quickly (similar to Control).
With the exception of the final slot (garnered through story progression), every Guardian’s super attack has to be unlocked by way of good old-fashioned experience points gathered from combat scenarios, lending the game a bit of a lite-RPG schematic. Supplementing this are a heap of 15 additional perks players can add to Quill’s stockpile via select work benches scattered throughout most chapters, the only catch being that you have to scavenge the requisite components in the world (akin to TLOU).
Overall, fighting is fun if a bit repetitive - not every Guardian attack is practical, and their icons (save the final one) weren’t distinguished enough to avoid confusion between the useful and the useless. It also suffers from being too easy for its own good due to a number of mechanisms present even on the hardest difficulty: the option to do a one-hit KO team combo(++++) once an enemy’s health has been whittled down enough; the Huddle -- a unique feature wherein Quill can pause the skirmish, call over his team, and give everyone (including himself) an attack boost/HP recovery; and a third one I’m going to avoid stating for fear of spoilers(+++++).
Besides brawling, you’ll be conducting basic exploration involving simple puzzles that solely come down to figuring out which Guardian to employ against which obstacle. It’s a shame more wasn’t (or wasn’t able to be) done as the novel abilities specific to each alien could’ve led to some really cool environmental enigmas. In fact, part of me wonders if that was the original plan as there’s an immersive sim aspect here in the form of Quill being able to leap around and ascend most structures, only for it to not lead anywhere.
That said, the minimal scavenging didn’t bother me too much in light of how gorgeous everything is. This is one of those titles where you can tell no expense was spared, and that probably had to do with Square and Eidos’s well-intentioned belief that the GOTG IP was fertile enough for mass profit.
Well, we’ll talk about the reasons why the game faltered later, but for now, let’s at least appreciate the sheer production value on display. Guardians is interesting in that it occupies that same Jim Lee aesthetic Arkham Asylum imbibed apropos to toeing the line between photorealism and comic book poppiness (i.e., the game is liable to aging better than some of its eighth gen brethren). When it comes to the graphics, their beauty originates from three major areas: clothing, character modeling, and texture streaming.
With the first, GOTG arguably has the greatest textile work I have ever seen in a video game -- courtesy of the camera mode, I was able to zoom-in on various suits, and not a single one was shortchanged as far as detail or composition. From the individual stitches on Star-Lord’s jacket to the wear-and-tear knee creases of security guard latex to the overlapping of plate metal & linen on Gamora’s byrnie, there were so many wonderful subtleties in the wardrobe department that to list them all would drag this review out by several pages.
That same effort was continued over into the modeling, where humans and aliens alike boast pores, wrinkles, and follicles upon closer inspection. Ironically, though, it’s Groot and Rocket who deserve the most acclaim if only for the virtuosity of their respective hides: being able to glean splintered bark and singular bristles of fur on each member’s skin respectively was absolutely mind-blowing when you consider just how much easier it would’ve been to draw a single layer (what TellTale did back in 2017).
Environments maintain this quality by matching the diversity with appropriate texturization. Eidos leaned heavily on the comics and their imagination when devising the areas to throw players into, and while some of them are admittedly a bit standard (the red deserts of Lamentis; the frostbitten scape of Maklua IV), the majority do take you to some pretty sweet locales ripe with filled-in gubbins and walling. The golden-lacquered Sacrosanct and magenta-strewn matter of the Quarantine Zone are predisposed to being fan favorites, but for my own tea I personally adored the cyberpunk vibes of Knowhere where sleaze, soft lighting, neon signs, and lite-smog blended together into an evocative site.
My last major bastion of praise goes towards the personalization facets, and not in the usual sense of the term. In the past, I’ve praised devs for crafting unique spaces you could tell were tenanted by a standalone persona -- what GOTG has done is take that template and extrapolate it for the mainline species here. Heading into a Kree ship, for instance, gifts you a shelf of books with Kree rune titles, clean pipes with the Nova Corp insignia, and a general sense of orderliness. Compare this to Lady Hellbender’s gladiatorial planet, chockful of broken glass, spilled beer, and cobbled food. As you explore alien terrain, you really get a sense of prior lives and civilizations that mysteriously vanished over the course of evolution, leaving behind such remnants as hulking monoliths, structures, and carvings. It’s all superbly done.
Other miscellaneous graphical feats include unique lunge animations for each Guardian when jumping gaps, cold air breaths in subzero climates, natural finger movements when rotating examinable objects, Quill putting his hands up when approaching fiery pits, reflective surfaces from puddles, gold tiling, and tiny mirrors; the pose algorithm during 1-on-1 counsels being very organic (compared to Valhalla’s constant arm-crossing), character subtitle names boasting different colors, how Quill turns his head towards the current speaker, and, most vivid of all, the entirety of Kosmo -- this is a psychic dog you’ll infrequently run into during the course of the game, and I have to imagine someone at Eidos either grew up with golden retrievers or put mo-cap dots around a real one as, as any dog owner will tell you, everything about his canine behavior was pitch perfect: the constantly darting stare, twirling of his tale, twitching of his eyebrows, the effervescent panting -- for all his ESP, he may ironically go down as the most accurate dog in video game history.
I did have some complaints, but they concerned relatively minor stuff like the lack of footprints on powdery exteriors, Groots root bridges clipping the ground, and Quill occasionally acting jittery during dialogues.
SFX, unfortunately, was the sole area undercompensated by the devs in that it’s inconsistent to a trained ear. For starters, not much went in the way of footstep differentiation, with ice & metallic platforms, and beds & tile floors bearing the same din as their paired twin. There were times where I’d hear the crunch of snow pellets on surfaces they were minimally scattered on, while the bulk of each Guardian’s abilities (save Quill’s) were sonorously indistinguishable. Effort did go into individuating every team member’s movements, and jumps did come programmed with that distinctiveness I sought; however, it was otherwise rather basic for a game of this caliber. Don’t get me wrong, nothing’s distracting, you just won’t be immersed in any planet’s auralscape.
Finally, the OST by Richard Jacques (which, by the way, was much harder to find than it should have been courtesy of Eidos opting to promote the licensed mixtape instead) is solid, if a little derivative. Let me explain so I don’t come off as pretentious or condescending: ever since Alan Silvestri pioneered that massive symphonic sound in The Avengers, a lot of Marvel-based composers have incorporated aspects of that into their scores. It’s certainly a wise decision with regards to maintaining a familiarity to audiences, but it does come at the cost of that uniqueness we used to get in superhero music pre-Avengers. As a result, you’ll hear a lot of recognizable motifs despite the soundtrack being its own set of arrangements -- I’m talking electric guitar riffs, Greek-inspired choral harmonies, pounding brass, and crescendos galore. Thankfully, Jacques does give us one of the best comic book themes to come out in a while; however, in respect to the rest of his compositions, they’re good at the expense of not rising to that same level of memorability.
Per my earlier remark, Eidos spent a lot of money licensing popular 80s hits that you can either manually play on the ship or randomly hear during those aforestated Huddles. I know there have been, and will be, a lot of people who enjoy the substance, but part of me wonders whether or not it was a good idea. As I keep harping on, GOTG was clearly an expensive game to make, and considering how little you’ll hear the music (being off-ship/infrequently using Huddles), it begs the question of how much money could’ve been saved instead by hiring a band to create 80s-inspired tunes.
Then again, maybe it wouldn’t have helped much considering most critics blame the poor reception of the Avengers game for GOTG’s financial disappointment. It’s a tragically valid connection, and combined with the game not releasing adjacent to any of the mainline movies, it sadly wasn’t able to stand on its own. Zack Snyder got a lot of sh!t for his flavor of the week comment years ago, but the fact of the matter is he was right to an extent: certain characters only achieved profitability because they were specific versions crafted in the Marvel Cinematic Universe. Outside of that ecosystem, it was always going to be a struggle for any hero not named Batman, Spider-Man, or Wolverine to succeed.
It’s been almost three years since GOTG released, and with no signs of a sequel, we have to accept the game for the unique specimen it was. It’s rare we get superhero games of this quality, and will be even rarer as the MCU goes through a post-Bubble period, but let it be known that, for all my complaints, this was an exquisite product well-worth your money.
NOTES
-Before addressing anything else, I should mention that there is a choice system in the game, but it’s more akin to the first Witcher or Deus Ex wherein it impacts the flow of events rather than causing multiple endings. When it involved hard gameplay, I was fine with it; however, there was an instance in one of the story climaxes where it ruined the moment (you’ll know it when you see it).
+Spider-Man 2, X-Men Origins: Wolverine, Batman Begins, and, heck, I actually liked the Iron Man one.
++Without spoiling, basically it indulges in the cliche fake-out tactic that’s been overdone by this point. You don’t even get a proper end boss, though not that it would’ve mattered as the boss fights here are mediocre: not Arkham Asylum bad, but arguably lower than Insomniac’s first Spider-Man.
+++The worst involves a scene where Quill has to do improvised karaoke (trust me, you’ll know it when you see it).
++++The finishers themselves aren’t that exciting, being a series of hard cuts of each Guardian doing an attack on the target. A little strange considering standard melee combos often result in your Alien brethren actually conducting a coordinated strike alongside Quill.
+++++All I’ll say is it involves Groot’s final unlockable power, its essence simultaneously diminishing a certain “emotional” story beat.
-Similar to Metroid Prime, Quill’s visor enables him to examine enemies and environs for pieces of supplemental data, but the game unfortunately doesn’t pause background conversations for the latter, meaning you’re forced to read them quickly lest you get interrupted.
-The writers created their own profanity for the characters to gleefully indulge in.
-Why does Mantis have Hela’s garb?
-Tell me Gamora’s VA doesn’t sound like Leela from Futurama?
-There’s a glowing red digital billboard in Knowhere that displays ads for a McDonald’s rip-off. I bring this up because I actually saw a similar hoarding in Shinjuku albeit for a Wendy’s, making me wonder if it was inspired by that?
It’s a shame, then, that Guardians of the Galaxy reportedly underperformed as it’s the kind of game I felt the industry really needed with regards to the comic book genre, and what makes it particularly amazing is how it manages to craft its own path whilst still staying true to the characterizations of the eponymous film. See, compared to Batman and Spider-Man, where their numerous iterations have made audiences open to new versions, Guardians is different in that most people are liable to only knowing the characters from James Gunn’s flick, and so the writers at Eidos-Montréal had a tough task before them: how do we create our own version of the team that concurrently pays homage to the comics without alienating any cinephiles?
Well, I’m not sure what their thought process entailed, but the end result was taking the core personalities personified in the movie and combining it with an original backstory, namely one in which every Guardian was a veteran of a conflict known as the Galactic War. Each member played a different role during the war, and the way such information is divulged over the course of the game goes a long way towards distinguishing its cast from their cinematic interactions. Yes, Quill is still comedic, Drax a literalist, Rocket a loudmouth, etc…etc…, but their experiences have led to them developing varied demeanors towards society as a whole. Gamora, for example, seeks some form of redemption for her support of Thanos; Rocket & Groot are purely about surviving, and Drax hunts for honor over his inability to protect his clan.
Found familyhood was cited as a major inspiration behind the tale, and I can safely say the writers successfully accomplished this task via the sheer amount of dialogue they crafted for the game. Seriously, fans of the Mass Effect or Red Dead series may find themselves in awe at the innumerable conversations typed-up for every chapter; convos that go a long way towards establishing relationships, lore, scenarios, and general camaraderie. Hearing Drax repeatedly call Gamora an assassin, seeing everyone snicker at Quill’s attempts at self-aggrandizement, or catching Rocket’s reactions to Groot’s various statements truly render the Guardians as three-dimensional people who’ve had a lot of laughs & cries along the way. No matter their disagreements, there’s a basic-level of respect amongst each peer, and while you occasionally have the option to interject with a unique response, both choices ultimately contribute to that looming amity.
I’m not exaggerating when I say GOTG has a ton of impromptu chatter -- your main hub of a ship spouts the lion’s share of these, with characters either speaking to each other out of their own volition, or engaging in ones triggered by unique items found during missions. Both moulds give-off a big Mass Effect vibe, and I was constantly amazed whenever I discerned some new interaction, whether it be petty, dramatic, or (in most cases) downright amusing.
None of this is even taking into consideration the outside convos in which characters often shout unique battle cries or make special observations should you be standing in a specific place. One of the best things GOTG does is resolve TLOU Problem I’ve had with certain narrative-driven games wherein your hero is meant to progress forward in stark contrast to the gameplay encouraging dicking around; it breaks the game’s immersion to see your next objective or companion kindly wait on you as you do whatever it is you feel like doing. By having the other Guardians actually remark on Quill’s strays off the beaten path, it goes a long way towards maintaining GOTG’s atmosphere.
In some ways, all the dialogue can get a little overwhelming, particularly for people (like myself) who suffer from FOMO: there’s a solid chance you’ll unintentionally cut-off or outright miss at least 15 percent of the optional scripting here, and that’s just something you’ll have to contend with should you wish to play the game.
Of course, no one would’ve cared about these palavers had the voice acting not been good, and that’s thankfully not the case here. Guardians of the Galaxy is interesting in that it opted for an entirely unknown cast -- I consider myself pretty well-versed in the voice acting industry, and I honestly only recognized a single name here (Andreas Apergis, and even then that was mainly because of his recurrent roles in the Assassin’s Creed franchise). That said, their unknownness doesn’t impede the project in any way as they are all terrific, embodying their characters fully as they wander amidst a full spectrum of emotions. Like I noted with the script, there was a difficult balancing act required in terms of making sure these takes on the Guardians were both similar and dissimilar from their movie counterparts, and all the actors proficiently did-so whilst rendering their characters their own. All cards on the table, I actually preferred most of these takes over the celebrityhood of James Gunn’s enterprise: Jason Cavalier grants Drax far more tragic introspective depth than Bautista ever did; Alex Weiner removes that atrocious Gilbert Gottfried inflection Cooper gave his Rocket (RIP Gottfried, but I was not a fan); and even Robert Montcalm manages to provide Groot a more-variegated personality than the one Diesel was limited to.
Given the strong vocal bounce between the characters (Rocket & Groot standing out as the best), GOTG deserves further acclamation for its robust ADR direction. See, there’s a good chance the actors did not record their lines together, and so their ability to resound like they had good chemistry owes a lot of fealty to the narrative directors for providing the appropriate context for each delivery.
There were only two voices I had issues with, the first being Jon McLaren’s Star-Lord. This may come as a surprise given that Quill is the lead protagonist and only playable character, but I did not like the inherent stoner-esque gravel McLaren provided him. Don’t get me wrong, the performance is otherwise solid; however, more often than not, I found myself thinking of a Seth Green character over a Marvel superhero.
The second is Emmanuelle Lussier-Martinez’s Mantis, though I don’t hold this against her as it’s evident the writers were going for this crazed NPC wrought with constant knowledge: the problem is, rather than do a Dr. Manhattan-type performance, they opted to portray her like Omi in that episode of Xiaolin Showdown where he gets infused with factoids from the Fountain of Hui (and yes, for the uninitiated, that’s a bad thing when done in spades).
Regardless, everyone’s performance was successfully transposed into the game via top-quality facial capture, rendering their squints and frowns through phenomenal animations. When you visibly see pain and happiness on your characters’ faces, it does a lot for the execution of the overarching story.
On that note, the narrative has its pros and cons. As I harped on earlier, the scribes do a phenomenal job developing the relationships between the Guardians: while this version of the team is already well-acquainted, it still takes place in the early part of their formation, meaning this is where you see them go from world-weary associates to the makeshift family we all know-and-love. In terms of the grand adventure you’re set out on (i.e., the campaign those interactions fall under), your mileage is going to vary. The entire game is full of heart, and there are some emotional moments that genuinely touched me to my core, but getting to those moments means engaging in standard superhero schlock wherein you’re charged with saving the universe from despair. Yes, other comic book games like Arkham Asylum and Shattered Dimensions indulged in similar premises, but I’d argue the difference is those titles were carried by their villains and a sense of mystery towards uncovering said villain’s plot. GOTG’s problem is that it’s upfront about its secrets from the get-go and, more importantly, lacks memorable antagonists: the main one, in particular, being a generic evil shroud akin to such classics as the Rising Darkness from Constantine, Galactus from Tim Story’s Fantastic 4, and Smallville’s version of Darkseid (yes, this is sarcasm). A couple of the secondary adversaries like Lady Hellbender fare a bit better, but, as they’re not a constant presence, this is a game you’ll largely be playing for the protagonists.
For the record, I had a good time with the story -- it’s well-told, has minimal pacing issues (save the end++), and would’ve worked well as an officially-published graphic novel. It’s just, post-completion, you won’t recall the majority of the chapters (the interactions within, yes, but not the events).
Thanks to James Gunn, the GOTG franchise is also permanently associated with comedy, and on that front the game works quite well. Whereas Gunn’s films were more about gags and one-liners, Eidos goes for a more situational style-of-humor wherein you’re witnessing how a coterie of charismatic individuals with sharp comportments would behave when placed in an enclosed dwelling. I wouldn’t call it laugh-out-loud, but more-so chuckle humor: you’ll smile and giggle like a schoolgirl, yet rarely twist your stomach out from hooting, and I think the tactic works great. There are times when the game tries to mimic the Gunn route; however, those scenes fall very flat and are thankfully few-and-far between(+++).
Of course, Arkham and Spider-Man didn’t get popular solely from their narratives or witticism: they had phenomenal gameplay systems to back everything up, and on that note, Guardians of the Galaxy is pretty dang good. It’s interesting that I made the comparison to Mass Effect earlier as the similarities between the two even extend to combat: you control Quill while his comrades are AI-guided, each of whom can be called upon to use a special attack against a foe or foes. Quill himself is equipped with his fists, dual blasters (primed with elemental shots obtained during set story beats), and a batch of special moves ranging from electro mines to the iconic jet boots. Much like the original Mass Effect, ammo for every tool has been replaced with a cooldown period, and there is no cover: if you’re not on the run, you’re likely to get swamped quickly (similar to Control).
With the exception of the final slot (garnered through story progression), every Guardian’s super attack has to be unlocked by way of good old-fashioned experience points gathered from combat scenarios, lending the game a bit of a lite-RPG schematic. Supplementing this are a heap of 15 additional perks players can add to Quill’s stockpile via select work benches scattered throughout most chapters, the only catch being that you have to scavenge the requisite components in the world (akin to TLOU).
Overall, fighting is fun if a bit repetitive - not every Guardian attack is practical, and their icons (save the final one) weren’t distinguished enough to avoid confusion between the useful and the useless. It also suffers from being too easy for its own good due to a number of mechanisms present even on the hardest difficulty: the option to do a one-hit KO team combo(++++) once an enemy’s health has been whittled down enough; the Huddle -- a unique feature wherein Quill can pause the skirmish, call over his team, and give everyone (including himself) an attack boost/HP recovery; and a third one I’m going to avoid stating for fear of spoilers(+++++).
Besides brawling, you’ll be conducting basic exploration involving simple puzzles that solely come down to figuring out which Guardian to employ against which obstacle. It’s a shame more wasn’t (or wasn’t able to be) done as the novel abilities specific to each alien could’ve led to some really cool environmental enigmas. In fact, part of me wonders if that was the original plan as there’s an immersive sim aspect here in the form of Quill being able to leap around and ascend most structures, only for it to not lead anywhere.
That said, the minimal scavenging didn’t bother me too much in light of how gorgeous everything is. This is one of those titles where you can tell no expense was spared, and that probably had to do with Square and Eidos’s well-intentioned belief that the GOTG IP was fertile enough for mass profit.
Well, we’ll talk about the reasons why the game faltered later, but for now, let’s at least appreciate the sheer production value on display. Guardians is interesting in that it occupies that same Jim Lee aesthetic Arkham Asylum imbibed apropos to toeing the line between photorealism and comic book poppiness (i.e., the game is liable to aging better than some of its eighth gen brethren). When it comes to the graphics, their beauty originates from three major areas: clothing, character modeling, and texture streaming.
With the first, GOTG arguably has the greatest textile work I have ever seen in a video game -- courtesy of the camera mode, I was able to zoom-in on various suits, and not a single one was shortchanged as far as detail or composition. From the individual stitches on Star-Lord’s jacket to the wear-and-tear knee creases of security guard latex to the overlapping of plate metal & linen on Gamora’s byrnie, there were so many wonderful subtleties in the wardrobe department that to list them all would drag this review out by several pages.
That same effort was continued over into the modeling, where humans and aliens alike boast pores, wrinkles, and follicles upon closer inspection. Ironically, though, it’s Groot and Rocket who deserve the most acclaim if only for the virtuosity of their respective hides: being able to glean splintered bark and singular bristles of fur on each member’s skin respectively was absolutely mind-blowing when you consider just how much easier it would’ve been to draw a single layer (what TellTale did back in 2017).
Environments maintain this quality by matching the diversity with appropriate texturization. Eidos leaned heavily on the comics and their imagination when devising the areas to throw players into, and while some of them are admittedly a bit standard (the red deserts of Lamentis; the frostbitten scape of Maklua IV), the majority do take you to some pretty sweet locales ripe with filled-in gubbins and walling. The golden-lacquered Sacrosanct and magenta-strewn matter of the Quarantine Zone are predisposed to being fan favorites, but for my own tea I personally adored the cyberpunk vibes of Knowhere where sleaze, soft lighting, neon signs, and lite-smog blended together into an evocative site.
My last major bastion of praise goes towards the personalization facets, and not in the usual sense of the term. In the past, I’ve praised devs for crafting unique spaces you could tell were tenanted by a standalone persona -- what GOTG has done is take that template and extrapolate it for the mainline species here. Heading into a Kree ship, for instance, gifts you a shelf of books with Kree rune titles, clean pipes with the Nova Corp insignia, and a general sense of orderliness. Compare this to Lady Hellbender’s gladiatorial planet, chockful of broken glass, spilled beer, and cobbled food. As you explore alien terrain, you really get a sense of prior lives and civilizations that mysteriously vanished over the course of evolution, leaving behind such remnants as hulking monoliths, structures, and carvings. It’s all superbly done.
Other miscellaneous graphical feats include unique lunge animations for each Guardian when jumping gaps, cold air breaths in subzero climates, natural finger movements when rotating examinable objects, Quill putting his hands up when approaching fiery pits, reflective surfaces from puddles, gold tiling, and tiny mirrors; the pose algorithm during 1-on-1 counsels being very organic (compared to Valhalla’s constant arm-crossing), character subtitle names boasting different colors, how Quill turns his head towards the current speaker, and, most vivid of all, the entirety of Kosmo -- this is a psychic dog you’ll infrequently run into during the course of the game, and I have to imagine someone at Eidos either grew up with golden retrievers or put mo-cap dots around a real one as, as any dog owner will tell you, everything about his canine behavior was pitch perfect: the constantly darting stare, twirling of his tale, twitching of his eyebrows, the effervescent panting -- for all his ESP, he may ironically go down as the most accurate dog in video game history.
I did have some complaints, but they concerned relatively minor stuff like the lack of footprints on powdery exteriors, Groots root bridges clipping the ground, and Quill occasionally acting jittery during dialogues.
SFX, unfortunately, was the sole area undercompensated by the devs in that it’s inconsistent to a trained ear. For starters, not much went in the way of footstep differentiation, with ice & metallic platforms, and beds & tile floors bearing the same din as their paired twin. There were times where I’d hear the crunch of snow pellets on surfaces they were minimally scattered on, while the bulk of each Guardian’s abilities (save Quill’s) were sonorously indistinguishable. Effort did go into individuating every team member’s movements, and jumps did come programmed with that distinctiveness I sought; however, it was otherwise rather basic for a game of this caliber. Don’t get me wrong, nothing’s distracting, you just won’t be immersed in any planet’s auralscape.
Finally, the OST by Richard Jacques (which, by the way, was much harder to find than it should have been courtesy of Eidos opting to promote the licensed mixtape instead) is solid, if a little derivative. Let me explain so I don’t come off as pretentious or condescending: ever since Alan Silvestri pioneered that massive symphonic sound in The Avengers, a lot of Marvel-based composers have incorporated aspects of that into their scores. It’s certainly a wise decision with regards to maintaining a familiarity to audiences, but it does come at the cost of that uniqueness we used to get in superhero music pre-Avengers. As a result, you’ll hear a lot of recognizable motifs despite the soundtrack being its own set of arrangements -- I’m talking electric guitar riffs, Greek-inspired choral harmonies, pounding brass, and crescendos galore. Thankfully, Jacques does give us one of the best comic book themes to come out in a while; however, in respect to the rest of his compositions, they’re good at the expense of not rising to that same level of memorability.
Per my earlier remark, Eidos spent a lot of money licensing popular 80s hits that you can either manually play on the ship or randomly hear during those aforestated Huddles. I know there have been, and will be, a lot of people who enjoy the substance, but part of me wonders whether or not it was a good idea. As I keep harping on, GOTG was clearly an expensive game to make, and considering how little you’ll hear the music (being off-ship/infrequently using Huddles), it begs the question of how much money could’ve been saved instead by hiring a band to create 80s-inspired tunes.
Then again, maybe it wouldn’t have helped much considering most critics blame the poor reception of the Avengers game for GOTG’s financial disappointment. It’s a tragically valid connection, and combined with the game not releasing adjacent to any of the mainline movies, it sadly wasn’t able to stand on its own. Zack Snyder got a lot of sh!t for his flavor of the week comment years ago, but the fact of the matter is he was right to an extent: certain characters only achieved profitability because they were specific versions crafted in the Marvel Cinematic Universe. Outside of that ecosystem, it was always going to be a struggle for any hero not named Batman, Spider-Man, or Wolverine to succeed.
It’s been almost three years since GOTG released, and with no signs of a sequel, we have to accept the game for the unique specimen it was. It’s rare we get superhero games of this quality, and will be even rarer as the MCU goes through a post-Bubble period, but let it be known that, for all my complaints, this was an exquisite product well-worth your money.
NOTES
-Before addressing anything else, I should mention that there is a choice system in the game, but it’s more akin to the first Witcher or Deus Ex wherein it impacts the flow of events rather than causing multiple endings. When it involved hard gameplay, I was fine with it; however, there was an instance in one of the story climaxes where it ruined the moment (you’ll know it when you see it).
+Spider-Man 2, X-Men Origins: Wolverine, Batman Begins, and, heck, I actually liked the Iron Man one.
++Without spoiling, basically it indulges in the cliche fake-out tactic that’s been overdone by this point. You don’t even get a proper end boss, though not that it would’ve mattered as the boss fights here are mediocre: not Arkham Asylum bad, but arguably lower than Insomniac’s first Spider-Man.
+++The worst involves a scene where Quill has to do improvised karaoke (trust me, you’ll know it when you see it).
++++The finishers themselves aren’t that exciting, being a series of hard cuts of each Guardian doing an attack on the target. A little strange considering standard melee combos often result in your Alien brethren actually conducting a coordinated strike alongside Quill.
+++++All I’ll say is it involves Groot’s final unlockable power, its essence simultaneously diminishing a certain “emotional” story beat.
-Similar to Metroid Prime, Quill’s visor enables him to examine enemies and environs for pieces of supplemental data, but the game unfortunately doesn’t pause background conversations for the latter, meaning you’re forced to read them quickly lest you get interrupted.
-The writers created their own profanity for the characters to gleefully indulge in.
-Why does Mantis have Hela’s garb?
-Tell me Gamora’s VA doesn’t sound like Leela from Futurama?
-There’s a glowing red digital billboard in Knowhere that displays ads for a McDonald’s rip-off. I bring this up because I actually saw a similar hoarding in Shinjuku albeit for a Wendy’s, making me wonder if it was inspired by that?
Red Dead Redemption
2023
"When I'm gone, they'll just find another monster."
Durante meus anos finais de PS3, eu conheci o tal do Red Dead Redemption, que pelas minhas fontes na época, falavam que era o melhor jogo da Rockstar ou um dos melhores (o tal do GOAT)... logo fiquei ansioso para experimentar, então comprei a versão digital do jogo pelo Mercado Livre (que na época era mais barato do que na loja da Playstation), mas ao mesmo tempo, meu PS3 tinha decidido dar algum bug de sistema, que me impossibilitou de baixar o jogo (ou qualquer jogo que eu tinha disponível)... então acabei perdendo a chance de jogar Red Dead e nunca mais pude retornar... até porque depois de um tempo acabei vendendo meu PS3.
Então decidi esperar por um port da Rockstar para consoles mais atuais ou até mesmo para PC, afinal... não é possível que eles iram deixar um jogo desses se tornar um jogo perdido na geração do Xbox 360 e PS3... então esperei, esperei, esperei... e depois de 13 anos, o port que recebemos é somente para Nintendo Switch e PS4...
Eu não tinha Switch (ainda não tenho) e no PS4 ele tava custando uma facada... então acabei largando a mão, mas então finalmente criei vergonha na cara de jogar, nem que fosse por emulador... e quando descobri que justamente, o jogo estava de certa forma "bem otimizado" no Yuzu, então já fui jogar que nem louco.
E como resultado, já posso adiantar aqui: esperava encontrar um dos GOAT's dos games, mas acabei encontrando... um bom jogo, apenas.
Pra mim, um dos principais pontos pontos negativos do jogo é a estrutura saturada de missões da Rockstar... durante o jogo, você enfrenta missões totalmente repetidas que apresentam quase que o mesmo objetivo na maioria das vezes, sem nada muito variável e isso pra mim deixou tanto a gameplay quanto o combate de certa forma maçantes, as side quests no geral, acabam sendo mais interessantes do que as principais em alguns momentos. Na época que ele foi lançado, lá em 2010, talvez não era um grande problema, mas hoje é muito escancarado esse padrão que a Rockstar faz nos seus jogos, principalmente os mais antigos. As minhas missões favoritas do jogo, é justamente as suas últimas, onde ele tenta fazer algo diferente diante do contexto que o jogo se encontra e te prepara pra pedrada que é a última missão, muitos provavelmente acharam essas missões chatas, mas eu amei cada segundo delas. Outra coisa que o jogo infelizmente torna muito maçante, são as atividades extras e a exploração do mapa.
No mundo de Red Dead você pode fazer algumas atividades como caçar, coletar plantas, realizar patrulhas noturnas, ou domar cavalos e tudo mais, mas essas atividades são tão chatas de fazer, que caso alguém for jogar sem ter a intenção de buscar o 100% do jogo, essas atividades vão passar completamente batidas, e com razão, porque são atividades que no final não vão te recompensar em nada... e pra quem busca o 100% (que foi o meu caso, ou pelo menos tentei, fiquei com 87% no final), só vai ficar muito entediado, porque assim como as missões, é tudo muito repetitivo. É como se a Rockstar apenas tivesse colocado essas atividades no jogo, apenas pra não acharem o mundo "vazio", mas na execução, são funções que não tem nenhum propósito no final. Mesmo que em questão de gameplay, o mundo de Red Dead seja "vazio", o mesmo não posso dizer em narrativa, as ações que você toma em sua jornada, o que acontece nas missões do jogo, repercutem no mundo de Red Dead, e narrativamente, isso deixa seu mundo mais vivo, uma pena que na gameplay não é afetada da mesma forma.
Porém, o que eles erram em exploração de mundo, eles acertam em imersão e level design, pois cavalgar pelo Velho Oeste nesse jogo, é absurdo... eu facilmente, em um dia aleatório, abriria o jogo apenas pra ficar cavalgando aleatoriamente pros lugares pra relaxar, em diversos momentos aparecem algumas atividades aleatórios, como salvar alguém de um tiroteio ou realizar algum duelo com algum fora da lei, que só incrementam mais na imersão e atmosfera do game. Durante todo o jogo, eu fiz questão de não realizar nenhum fast travel... não importa se meu objetivo estava no cu do mapa ou na puta que pariu que for, eu ia sempre a cavalo, apenas pra não estragar a minha imersão e conexão com aquele mundo.
Na história acompanhamos a trajetória de John Marston, que está tentando deixar pra trás tudo aquilo que ele fez como fora da lei em seu passado, para ter uma chance de redenção pra ficar com a sua família, entretanto ele ainda tem certas pontas soltas que ele é obrigado a resolver. Infelizmente, antes de jogar Red Dead 1, eu já tinha alguns spoilers do final do jogo, e pior... eu ainda tenho alguns spoilers do Red Dead 2, mesmo que sejam spoilers fora de contexto, mas mesmo sabendo do pouquinho que acontece no segundo jogo (o que eu sei não deve ser nem a ponta do iceberg), a história do primeiro jogo ganha tanto peso, ganha tantas camadas em volta do John e de seu passado, que pra mim é quase impossível analisar somente a história do primeiro jogo como algo separado, a história ainda não ta completa o suficiente pra eu avaliar, preciso de mais... se eu não soubesse nada do segundo jogo, ai sim eu poderia analisar a história do primeiro jogo de forma separada... eu diria que é consistente, tem ótimos momentos, é uma história que da pra se manter preso, mas... infelizmente (ou felizmente) eu sei de algumas coisas sobre Red Dead 2 e por consequência, isso acabou aumentando muito o nível de narrativa do Red Dead 1 e me entregou uma história ainda pela metade, eu preciso da outra metade pra dar um veredito final... é algo parecido com Better Call Saul e Breaking Bad, que existindo ambas, não dá pra assistir somente uma delas e sentir que viu a história completa, ambas se complementam muito e elevam mutuamente o nível de qualidade.
No quesito personagens, o carisma de John Marston carrega muito o jogo nas costas, da pra contar nos dedos (e não vão ser preciso de muitos) quantos personagens de Red Dead são interessantes ou carismáticos... o resto, parece ser personagens já estereotipados e padrões da Rockstar.
A trilha sonora é excelente, destaque para a música Far Away, que me arrepia até agora quando escuto e os gráficos são bem bonitos, mesmo que seja um jogo de 13 anos atrás.
Eu passei minhas últimas horas de jogo, apenas cavalgando pelo mapa, absorvendo por uma "última vez" todos os elementos daquele mundo, mesmo o jogo tendo pra mim seus altos e baixos, eu acabei criando muita afeição pelas coisas boas do game, então "me despedir" dele foi o mais difícil. Não sei quando jogarei Red Dead 2, mas sei que provavelmente será uma experiência do caralho... Red Dead 1 tem seus erros comigo, mas no que ele acertou, acabou me afetando pra caralho e imagino que o segundo jogo deve errar menos e acerta mais ainda nas coisas boas, existindo até mesmo uma chance de me fazer gostar mais ainda do primeiro.
Durante meus anos finais de PS3, eu conheci o tal do Red Dead Redemption, que pelas minhas fontes na época, falavam que era o melhor jogo da Rockstar ou um dos melhores (o tal do GOAT)... logo fiquei ansioso para experimentar, então comprei a versão digital do jogo pelo Mercado Livre (que na época era mais barato do que na loja da Playstation), mas ao mesmo tempo, meu PS3 tinha decidido dar algum bug de sistema, que me impossibilitou de baixar o jogo (ou qualquer jogo que eu tinha disponível)... então acabei perdendo a chance de jogar Red Dead e nunca mais pude retornar... até porque depois de um tempo acabei vendendo meu PS3.
Então decidi esperar por um port da Rockstar para consoles mais atuais ou até mesmo para PC, afinal... não é possível que eles iram deixar um jogo desses se tornar um jogo perdido na geração do Xbox 360 e PS3... então esperei, esperei, esperei... e depois de 13 anos, o port que recebemos é somente para Nintendo Switch e PS4...
Eu não tinha Switch (ainda não tenho) e no PS4 ele tava custando uma facada... então acabei largando a mão, mas então finalmente criei vergonha na cara de jogar, nem que fosse por emulador... e quando descobri que justamente, o jogo estava de certa forma "bem otimizado" no Yuzu, então já fui jogar que nem louco.
E como resultado, já posso adiantar aqui: esperava encontrar um dos GOAT's dos games, mas acabei encontrando... um bom jogo, apenas.
Pra mim, um dos principais pontos pontos negativos do jogo é a estrutura saturada de missões da Rockstar... durante o jogo, você enfrenta missões totalmente repetidas que apresentam quase que o mesmo objetivo na maioria das vezes, sem nada muito variável e isso pra mim deixou tanto a gameplay quanto o combate de certa forma maçantes, as side quests no geral, acabam sendo mais interessantes do que as principais em alguns momentos. Na época que ele foi lançado, lá em 2010, talvez não era um grande problema, mas hoje é muito escancarado esse padrão que a Rockstar faz nos seus jogos, principalmente os mais antigos. As minhas missões favoritas do jogo, é justamente as suas últimas, onde ele tenta fazer algo diferente diante do contexto que o jogo se encontra e te prepara pra pedrada que é a última missão, muitos provavelmente acharam essas missões chatas, mas eu amei cada segundo delas. Outra coisa que o jogo infelizmente torna muito maçante, são as atividades extras e a exploração do mapa.
No mundo de Red Dead você pode fazer algumas atividades como caçar, coletar plantas, realizar patrulhas noturnas, ou domar cavalos e tudo mais, mas essas atividades são tão chatas de fazer, que caso alguém for jogar sem ter a intenção de buscar o 100% do jogo, essas atividades vão passar completamente batidas, e com razão, porque são atividades que no final não vão te recompensar em nada... e pra quem busca o 100% (que foi o meu caso, ou pelo menos tentei, fiquei com 87% no final), só vai ficar muito entediado, porque assim como as missões, é tudo muito repetitivo. É como se a Rockstar apenas tivesse colocado essas atividades no jogo, apenas pra não acharem o mundo "vazio", mas na execução, são funções que não tem nenhum propósito no final. Mesmo que em questão de gameplay, o mundo de Red Dead seja "vazio", o mesmo não posso dizer em narrativa, as ações que você toma em sua jornada, o que acontece nas missões do jogo, repercutem no mundo de Red Dead, e narrativamente, isso deixa seu mundo mais vivo, uma pena que na gameplay não é afetada da mesma forma.
Porém, o que eles erram em exploração de mundo, eles acertam em imersão e level design, pois cavalgar pelo Velho Oeste nesse jogo, é absurdo... eu facilmente, em um dia aleatório, abriria o jogo apenas pra ficar cavalgando aleatoriamente pros lugares pra relaxar, em diversos momentos aparecem algumas atividades aleatórios, como salvar alguém de um tiroteio ou realizar algum duelo com algum fora da lei, que só incrementam mais na imersão e atmosfera do game. Durante todo o jogo, eu fiz questão de não realizar nenhum fast travel... não importa se meu objetivo estava no cu do mapa ou na puta que pariu que for, eu ia sempre a cavalo, apenas pra não estragar a minha imersão e conexão com aquele mundo.
Na história acompanhamos a trajetória de John Marston, que está tentando deixar pra trás tudo aquilo que ele fez como fora da lei em seu passado, para ter uma chance de redenção pra ficar com a sua família, entretanto ele ainda tem certas pontas soltas que ele é obrigado a resolver. Infelizmente, antes de jogar Red Dead 1, eu já tinha alguns spoilers do final do jogo, e pior... eu ainda tenho alguns spoilers do Red Dead 2, mesmo que sejam spoilers fora de contexto, mas mesmo sabendo do pouquinho que acontece no segundo jogo (o que eu sei não deve ser nem a ponta do iceberg), a história do primeiro jogo ganha tanto peso, ganha tantas camadas em volta do John e de seu passado, que pra mim é quase impossível analisar somente a história do primeiro jogo como algo separado, a história ainda não ta completa o suficiente pra eu avaliar, preciso de mais... se eu não soubesse nada do segundo jogo, ai sim eu poderia analisar a história do primeiro jogo de forma separada... eu diria que é consistente, tem ótimos momentos, é uma história que da pra se manter preso, mas... infelizmente (ou felizmente) eu sei de algumas coisas sobre Red Dead 2 e por consequência, isso acabou aumentando muito o nível de narrativa do Red Dead 1 e me entregou uma história ainda pela metade, eu preciso da outra metade pra dar um veredito final... é algo parecido com Better Call Saul e Breaking Bad, que existindo ambas, não dá pra assistir somente uma delas e sentir que viu a história completa, ambas se complementam muito e elevam mutuamente o nível de qualidade.
No quesito personagens, o carisma de John Marston carrega muito o jogo nas costas, da pra contar nos dedos (e não vão ser preciso de muitos) quantos personagens de Red Dead são interessantes ou carismáticos... o resto, parece ser personagens já estereotipados e padrões da Rockstar.
A trilha sonora é excelente, destaque para a música Far Away, que me arrepia até agora quando escuto e os gráficos são bem bonitos, mesmo que seja um jogo de 13 anos atrás.
Eu passei minhas últimas horas de jogo, apenas cavalgando pelo mapa, absorvendo por uma "última vez" todos os elementos daquele mundo, mesmo o jogo tendo pra mim seus altos e baixos, eu acabei criando muita afeição pelas coisas boas do game, então "me despedir" dele foi o mais difícil. Não sei quando jogarei Red Dead 2, mas sei que provavelmente será uma experiência do caralho... Red Dead 1 tem seus erros comigo, mas no que ele acertou, acabou me afetando pra caralho e imagino que o segundo jogo deve errar menos e acerta mais ainda nas coisas boas, existindo até mesmo uma chance de me fazer gostar mais ainda do primeiro.
Hoje (dia 15 de Abril) faz 20 anos que Kirby & The Amazing Mirror foi lançado, não acredito que faz tanto tempo assim, não é apenas um dos meus Kirbys favoritos como o meu Metroidvania favorito, foi o jogo que fez eu entrar nesse gênero. Lembro que foi um dos primeiros jogos que joguei em emulador, Amazing Mirror é um daqueles jogos que eu zero pelo menos uma vez por ano de tão importante que é para mim.
Os gráficos são lindíssimos, eu acho a Pixel Art desse jogo tão mas tão bonita, com certeza é um dos mais bonitos do GBA e envelheceu que nem vinho, ainda sendo muito bonito para os dias de hoje. Cada cenário e Background é bem bonito e distinto e os personagens estão muito bem feitos.
A história é bem simples como qualquer jogo do Kirby, em Dream Land existe o Mundo dos Espelhos que é um mundo onde qualquer desejo refletido no espelho se tornará realidade, porém um dia o espelho estava diferente refletindo apenas coisas negativas, então Meta Knight vai lá ver o que está acontecendo. Enquanto isso o Kirby está fazendo absolutamente nada até que aparece o Dark Meta Knight e corta o Kirby, se dividindo em 4 Kirbys com cores diferentes, depois Meta Knight e Dark Meta Knight se enfrentam porém a versão Edgy ganha do Meta Knight e aprisiona ele no Espelho Dimensional, como se já não bastasse isso o Meta Knight Edgy quebra o espelho, espalhando os pedaços do espelho em 8 áreas do Mundo dos Espelhos e agora os 4 Kirbys terão que salvar a porra toda.
Como eu disse antes esse jogo é um Metroidvania, ou seja é um jogo de plataforma com exploração mas ao contrário dos outros jogos do gênero esse aqui não possui upgrades obrigatórios para desbloquear novas áreas, o Kirby já vem 100% mas não quer dizer que não existem colecionáveis, inclusive tem um que é BEM importante, falo disso depois... O jogo começa em uma espécie de Hub World, no início apenas uma área estará disponível, conforme você vai jogando irá ver que existem botões gigantes, quando apertados eles irão desbloquear um atalho da área que você está no momento no Hub World.
Falando nas áreas, existem 9 delas sendo:
1- Rainbow Route
2- Moonlight Mansion
3- Cabbage Cavern
4- Mustard Mountain
5- Carrot Castle
6- Olive Ocean
7- Peppermint Palace
8- Radish Ruins
9- Candy Constelation
Com a excessão da primeira área, todas as outras possui um chefe, derrotando ele um pedaço do espelho será restaurado. Sendo a primeira tentativa de um Metroidvania eu acho essas áreas bem criativas e únicas, existem lugares que são mansões, palácios de gelo, espaço, ruínas, castelo, florestas e etc.
Você não estará sozinho, diferente de todos os Metroidvania esse jogo possui multiplayer! Quando está no single player os 3 Kirbys serão CPU e sendo bem sincero a inteligência deles é meio questionável, eles não atacam muito, não entendem na hora o que é um Puzzle e podem roubar sua habilidade, você pode encontrar com eles durante a jogatina ou poderá usar o Celular, o celular é uma mecânica que além de permitir que você volte para o Hub World também podem chamar os seus companheiros, é bem útil porque eles sempre irão curar você quando são chamados mas cuidado com a bateria, não desperdice ela.
Apesar da CPU ser ruim ainda é possível jogar com mais 3 amigos mas eu nunca consegui jogar em multiplayer então não vou falar dele :(
Agora sobre o mapa, pause o jogo e depois aperte o botão de Select para ver o mapa, aí você vê... Hã? Uns quadradinhos pequenos e um Kirby no meio do nada? Pois é aí que vem a maior crítica dos jogadores, o mapa é um colecionável e se você tentar acessar o mapa da área antes de pegar o mapa você irá ver uma versão extremamente capada, incompleta e confusa, para pegar o mapa específico terá que explorar a área aí sim que você verá todo o potencial do mapa, completinho e nada confuso só que o jogo não fala em nenhum momento aonde que está o verdadeiro mapa. Eu vou ser bem sincero que nunca notei isso e nunca me incomodou, só percebi depois que meu amigo reclamou disso.
Além do mapa existem outros colecionáveis, todos eles estão dentro de baús pequenos e grandes. Os baús pequenos podem dar comida, spray para mudar a cor do Kirby, 1-Up, bateria pro celular e músicas pro Sound Player. Já os baús grandes dão 1 barra de vida e o mapa da área, se quiser fazer o 100% terá que pegar todos eles, para saber se pegou tudo bastar ver o mapa e se todos os quadrados estiverem amarelo e brilhando.
Gosto muito do Level Design, ele usa as habilidades de cópia do Kirby para várias ocasiões, desde Puzzles, saídas secretas e blocos específicos. As fases são criativas e não são repetitivas, cada área sempre tem uma mecânica específica, inclusive tem lugares que os 4 Kirbys precisam estar disponíveis. Quando estiver com o mapa completo será uma delícia explorar o Mundo dos Espelhos (e sem também se for fã fanático que nem eu).
Existem algumas partes que você verá um espelho grande com uma estrela, não são o obrigatórias mas é um minigame chamado Goal Game, é útil para pegar bastante vida enquanto desvia de blocos que te deixam paralisado.
As Habilidades de Cópia estão parecidas com o Super Star porque a maioria delas possui um moveset próprio com comandos diferentes, além das clássicas temos algumas novas:
1-Missile: voa como um míssil e destrói blocos cinzas.
2-Cupid: transforma o Kirby em um cupido assim ele voará e irá atirar flechas do amor.
3-Magic: é uma roleta de cartas que terão efeitos diferentes.
4-Mini: o Kirby fica pequeno, ele pode entrar em lugares minúsculos.
5-Master: a versão suprema da espada, resolve todos os puzzles, disponível depois de completar o jogo.
6-Smash: o Kirby com o moveset do Super Smash Bros! (além da habilidade o Master Hand e Crazy Hand estão no jogo)
Há muitos inimigos, Mini Chefes e Chefes, todos eles são bem legais e criativos, principalmente os chefes que são sempre um brilho dos jogos do Kirby. Os Mini Chefes quando são derrotados você poderá sugar eles para pegar o poder dele, já os chefes são diferentes, eles são os "protetores dos pedaços do espelho quebrado". Se você fez o 100% do jogo irá desbloquear o Boss Endurance que é o modo Boss Rush, bastante parecido com a Arena dos outros jogos, a ordem das batalhas são aleatórias com excessão dos últimos e você não poderá recuperar tanta vida.
A trilha sonora é mágica, me dá uma sensação de nostalgia e saudades da época que eu não sabia nada do jogo, não é a melhor trilha sonora da série mas é muito boa. Minhas músicas favoritas são:
-Rainbow Route
-Cabbage Cavern
-Radish Ruins
-Candy Constelation
-Boss Battle
-Dark Meta Knight Battle
-Dark Mind's Second Form
E para finalizar os Minigames, além da campanha principal existem três minigames opcionais para se divertir sozinho ou com os amigos:
1-Speed Eaters: quando a bandeja abrir, terá que sugar a maçã mais rápido o possível!
2-Crackity Hack: destruir uma rocha apertando o botão na hora certa várias vezes.
3-Kirby Wave Ride: uma corrida estilo surf.
Kirby & The Amazing Mirror apesar de ter defeitos como qualquer jogo eu não consigo não amar, como eu disse foi o meu primeiro Metroidvania e gosto muito dele, ele sempre terá um lugar especial no meu coração, meu maior sonho para Kirby é ter uma continuação estilo Metroidvania, para mim esse gênero combina muito com Kirby, pega o Amazing Mirror e expande ele, torço muito que isso aconteça algum dia.
Os gráficos são lindíssimos, eu acho a Pixel Art desse jogo tão mas tão bonita, com certeza é um dos mais bonitos do GBA e envelheceu que nem vinho, ainda sendo muito bonito para os dias de hoje. Cada cenário e Background é bem bonito e distinto e os personagens estão muito bem feitos.
A história é bem simples como qualquer jogo do Kirby, em Dream Land existe o Mundo dos Espelhos que é um mundo onde qualquer desejo refletido no espelho se tornará realidade, porém um dia o espelho estava diferente refletindo apenas coisas negativas, então Meta Knight vai lá ver o que está acontecendo. Enquanto isso o Kirby está fazendo absolutamente nada até que aparece o Dark Meta Knight e corta o Kirby, se dividindo em 4 Kirbys com cores diferentes, depois Meta Knight e Dark Meta Knight se enfrentam porém a versão Edgy ganha do Meta Knight e aprisiona ele no Espelho Dimensional, como se já não bastasse isso o Meta Knight Edgy quebra o espelho, espalhando os pedaços do espelho em 8 áreas do Mundo dos Espelhos e agora os 4 Kirbys terão que salvar a porra toda.
Como eu disse antes esse jogo é um Metroidvania, ou seja é um jogo de plataforma com exploração mas ao contrário dos outros jogos do gênero esse aqui não possui upgrades obrigatórios para desbloquear novas áreas, o Kirby já vem 100% mas não quer dizer que não existem colecionáveis, inclusive tem um que é BEM importante, falo disso depois... O jogo começa em uma espécie de Hub World, no início apenas uma área estará disponível, conforme você vai jogando irá ver que existem botões gigantes, quando apertados eles irão desbloquear um atalho da área que você está no momento no Hub World.
Falando nas áreas, existem 9 delas sendo:
1- Rainbow Route
2- Moonlight Mansion
3- Cabbage Cavern
4- Mustard Mountain
5- Carrot Castle
6- Olive Ocean
7- Peppermint Palace
8- Radish Ruins
9- Candy Constelation
Com a excessão da primeira área, todas as outras possui um chefe, derrotando ele um pedaço do espelho será restaurado. Sendo a primeira tentativa de um Metroidvania eu acho essas áreas bem criativas e únicas, existem lugares que são mansões, palácios de gelo, espaço, ruínas, castelo, florestas e etc.
Você não estará sozinho, diferente de todos os Metroidvania esse jogo possui multiplayer! Quando está no single player os 3 Kirbys serão CPU e sendo bem sincero a inteligência deles é meio questionável, eles não atacam muito, não entendem na hora o que é um Puzzle e podem roubar sua habilidade, você pode encontrar com eles durante a jogatina ou poderá usar o Celular, o celular é uma mecânica que além de permitir que você volte para o Hub World também podem chamar os seus companheiros, é bem útil porque eles sempre irão curar você quando são chamados mas cuidado com a bateria, não desperdice ela.
Apesar da CPU ser ruim ainda é possível jogar com mais 3 amigos mas eu nunca consegui jogar em multiplayer então não vou falar dele :(
Agora sobre o mapa, pause o jogo e depois aperte o botão de Select para ver o mapa, aí você vê... Hã? Uns quadradinhos pequenos e um Kirby no meio do nada? Pois é aí que vem a maior crítica dos jogadores, o mapa é um colecionável e se você tentar acessar o mapa da área antes de pegar o mapa você irá ver uma versão extremamente capada, incompleta e confusa, para pegar o mapa específico terá que explorar a área aí sim que você verá todo o potencial do mapa, completinho e nada confuso só que o jogo não fala em nenhum momento aonde que está o verdadeiro mapa. Eu vou ser bem sincero que nunca notei isso e nunca me incomodou, só percebi depois que meu amigo reclamou disso.
Além do mapa existem outros colecionáveis, todos eles estão dentro de baús pequenos e grandes. Os baús pequenos podem dar comida, spray para mudar a cor do Kirby, 1-Up, bateria pro celular e músicas pro Sound Player. Já os baús grandes dão 1 barra de vida e o mapa da área, se quiser fazer o 100% terá que pegar todos eles, para saber se pegou tudo bastar ver o mapa e se todos os quadrados estiverem amarelo e brilhando.
Gosto muito do Level Design, ele usa as habilidades de cópia do Kirby para várias ocasiões, desde Puzzles, saídas secretas e blocos específicos. As fases são criativas e não são repetitivas, cada área sempre tem uma mecânica específica, inclusive tem lugares que os 4 Kirbys precisam estar disponíveis. Quando estiver com o mapa completo será uma delícia explorar o Mundo dos Espelhos (e sem também se for fã fanático que nem eu).
Existem algumas partes que você verá um espelho grande com uma estrela, não são o obrigatórias mas é um minigame chamado Goal Game, é útil para pegar bastante vida enquanto desvia de blocos que te deixam paralisado.
As Habilidades de Cópia estão parecidas com o Super Star porque a maioria delas possui um moveset próprio com comandos diferentes, além das clássicas temos algumas novas:
1-Missile: voa como um míssil e destrói blocos cinzas.
2-Cupid: transforma o Kirby em um cupido assim ele voará e irá atirar flechas do amor.
3-Magic: é uma roleta de cartas que terão efeitos diferentes.
4-Mini: o Kirby fica pequeno, ele pode entrar em lugares minúsculos.
5-Master: a versão suprema da espada, resolve todos os puzzles, disponível depois de completar o jogo.
6-Smash: o Kirby com o moveset do Super Smash Bros! (além da habilidade o Master Hand e Crazy Hand estão no jogo)
Há muitos inimigos, Mini Chefes e Chefes, todos eles são bem legais e criativos, principalmente os chefes que são sempre um brilho dos jogos do Kirby. Os Mini Chefes quando são derrotados você poderá sugar eles para pegar o poder dele, já os chefes são diferentes, eles são os "protetores dos pedaços do espelho quebrado". Se você fez o 100% do jogo irá desbloquear o Boss Endurance que é o modo Boss Rush, bastante parecido com a Arena dos outros jogos, a ordem das batalhas são aleatórias com excessão dos últimos e você não poderá recuperar tanta vida.
A trilha sonora é mágica, me dá uma sensação de nostalgia e saudades da época que eu não sabia nada do jogo, não é a melhor trilha sonora da série mas é muito boa. Minhas músicas favoritas são:
-Rainbow Route
-Cabbage Cavern
-Radish Ruins
-Candy Constelation
-Boss Battle
-Dark Meta Knight Battle
-Dark Mind's Second Form
E para finalizar os Minigames, além da campanha principal existem três minigames opcionais para se divertir sozinho ou com os amigos:
1-Speed Eaters: quando a bandeja abrir, terá que sugar a maçã mais rápido o possível!
2-Crackity Hack: destruir uma rocha apertando o botão na hora certa várias vezes.
3-Kirby Wave Ride: uma corrida estilo surf.
Kirby & The Amazing Mirror apesar de ter defeitos como qualquer jogo eu não consigo não amar, como eu disse foi o meu primeiro Metroidvania e gosto muito dele, ele sempre terá um lugar especial no meu coração, meu maior sonho para Kirby é ter uma continuação estilo Metroidvania, para mim esse gênero combina muito com Kirby, pega o Amazing Mirror e expande ele, torço muito que isso aconteça algum dia.
𝘗𝘳𝘢𝘪𝘴𝘦 𝘵𝘩𝘦 𝘚𝘶𝘯!
A obra responsável por ressignificar todos os conceitos que tornam um jogo "ser difícil", servindo como base de comparação pra qualquer jogo que se propõe a ter um nível de complexidade acima do padrão.
"O Dark Souls dos jogos de luta".
"O Dark Souls dos jogos de plataforma".
"O Dark Souls dos jogos de corrida".
Os exemplos são muitos.
O fato é que Dark Souls é uma das franquias mais importantes e imponentes da história dos videogames, e seu primeiro jogo é considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos. Não é de se espantar.
Dark Souls é estupidamente fantástico em tudo que se propõe. A forma com a qual o universo é convincente, vivo e rico é impressionante até para os dias de hoje. Nunca presenciei um level design tão genial e conectado como o de Dark Souls.
Apesar do sofrimento passado principalmente em áreas como a Cidade das Moléstias e a Fortaleza Sen, ou em bosses que nem deveriam ter passado pela equipe de desenvolvimento como o Berço do Caos, nada se compara ao prazer e sentimento de satisfação após cada desafio vencido.
A morte como aprendizado e fortalecimento, é disso que se trata.
São muitas camadas a se explorar quando se trata desse universo, e quanto mais fundo se mergulha no contexto da história de cada lugar ou personagem, cada história que os cenários contam por si só, cada choque de realidade que nos lembra de que estamos nos aventurando por um mundo sem heróis, onde a corrupção é o preço de suas ambições, maior a recompensa. Tudo torna a experiência completamente inesquecível.
Dark Souls é, indiscutivelmente, gigante.
O "vazio", tanto citado durante o jogo, agora se espalha a mim mesmo, visto a certeza de que não jogarei algo equivalente por muito tempo.
A obra responsável por ressignificar todos os conceitos que tornam um jogo "ser difícil", servindo como base de comparação pra qualquer jogo que se propõe a ter um nível de complexidade acima do padrão.
"O Dark Souls dos jogos de luta".
"O Dark Souls dos jogos de plataforma".
"O Dark Souls dos jogos de corrida".
Os exemplos são muitos.
O fato é que Dark Souls é uma das franquias mais importantes e imponentes da história dos videogames, e seu primeiro jogo é considerado por muitos um dos maiores de todos os tempos. Não é de se espantar.
Dark Souls é estupidamente fantástico em tudo que se propõe. A forma com a qual o universo é convincente, vivo e rico é impressionante até para os dias de hoje. Nunca presenciei um level design tão genial e conectado como o de Dark Souls.
Apesar do sofrimento passado principalmente em áreas como a Cidade das Moléstias e a Fortaleza Sen, ou em bosses que nem deveriam ter passado pela equipe de desenvolvimento como o Berço do Caos, nada se compara ao prazer e sentimento de satisfação após cada desafio vencido.
A morte como aprendizado e fortalecimento, é disso que se trata.
São muitas camadas a se explorar quando se trata desse universo, e quanto mais fundo se mergulha no contexto da história de cada lugar ou personagem, cada história que os cenários contam por si só, cada choque de realidade que nos lembra de que estamos nos aventurando por um mundo sem heróis, onde a corrupção é o preço de suas ambições, maior a recompensa. Tudo torna a experiência completamente inesquecível.
Dark Souls é, indiscutivelmente, gigante.
O "vazio", tanto citado durante o jogo, agora se espalha a mim mesmo, visto a certeza de que não jogarei algo equivalente por muito tempo.
Revisitar a obra-prima que se firmou como o jogo favorito da minha vida já era uma vontade de tempos, e finalmente saiu do papel, mas talvez eu tenha escolhido a pior maneira possível de fazer isso.
Naturalmente, já era possível enxergar essa remasterização como questionável, visto que a versão original de 2015 segue visualmente linda para os dias atuais e apresenta uma direção artística maravilhosa, mas o problema é maior.
Mesmo que de fato apresente algumas melhorias, principalmente no que se diz respeito a iluminação de cenários e objetos, além de sutis melhorias na expressão facial de alguns dos personagens, a versão remasterizada traz consigo inúmeros problemas técnicos que chegam a ser imperdoáveis.
Não existe nada mais aconchegante e imersivo do que uma cena de encerramento de episódio de Life is Strange. E ora, que grande tópico para se estragar, não é mesmo?
A grande maioria das cenas mais importantes e impactantes, após a transição, passam a ficar pixeladas, como se a qualidade da imagem estivesse a 360p, ou pior.
Não fosse isso o bastante, a trilha sonora por vezes é simplesmente cortada, com cenas completamente mudas.
Sim, isso também acontece na cena final do jogo.
Não me arrependo de ter tido a iniciativa de testar essa versão, muito menos de rejogar o jogo que moldou muito do que eu consumo nos dias atuais, mas se eu fosse recomendar Life is Strange para alguém, eu definitivamente recomendaria que dessem preferência para a versão original.
Naturalmente, já era possível enxergar essa remasterização como questionável, visto que a versão original de 2015 segue visualmente linda para os dias atuais e apresenta uma direção artística maravilhosa, mas o problema é maior.
Mesmo que de fato apresente algumas melhorias, principalmente no que se diz respeito a iluminação de cenários e objetos, além de sutis melhorias na expressão facial de alguns dos personagens, a versão remasterizada traz consigo inúmeros problemas técnicos que chegam a ser imperdoáveis.
Não existe nada mais aconchegante e imersivo do que uma cena de encerramento de episódio de Life is Strange. E ora, que grande tópico para se estragar, não é mesmo?
A grande maioria das cenas mais importantes e impactantes, após a transição, passam a ficar pixeladas, como se a qualidade da imagem estivesse a 360p, ou pior.
Não fosse isso o bastante, a trilha sonora por vezes é simplesmente cortada, com cenas completamente mudas.
Sim, isso também acontece na cena final do jogo.
Não me arrependo de ter tido a iniciativa de testar essa versão, muito menos de rejogar o jogo que moldou muito do que eu consumo nos dias atuais, mas se eu fosse recomendar Life is Strange para alguém, eu definitivamente recomendaria que dessem preferência para a versão original.
Devil May Cry 5
2019
Se existisse um paraíso para todos aqueles que amam hack and slash, ironicamente encontrariam seu Éden enquanto fazem demônios chorarem ao serem trucidados.
Devil May Cry 5 não só encerra com maestria uma franquia já consolidada há muitos anos, mediante a grandes acertos e jogos que sequer merecem ser citados, mas também define o gênero em que está inserido, se firmando como seu suprassumo.
Absolutamente tudo beira a insanidade. O grau estupidamente elevado de estilo em cada ação e cenas extremamente exageradas, mas charmosas, a variedade bizarra de jogabilidade dentre todos os personagens jogáveis, além da pornográfica trilha sonora que te mantém dopado de adrenalina quanto maior a fluidez dos seus combos.
Devil May Cry 5 é insano.
Tanto fãs de longa data quanto visitantes de primeira viagem irão se sentir abraçados.
Além de resgatar e manter todos os pontos mais interessantes e memoráveis espalhados por toda a franquia, as novas armas e formas de se jogar agregam muito valor ao conjunto, recompensando todos os tipos de jogadores.
A vontade quase que instantânea após os créditos finais de querer rejogar todas as missões novamente é real, e é um perigo.
Revisitar esse jogo constantemente é um evento canônico para todos que o amam, e claro, o farei sempre que eu sentir falta de toda essa insanidade.
Devil May Cry 5 não só encerra com maestria uma franquia já consolidada há muitos anos, mediante a grandes acertos e jogos que sequer merecem ser citados, mas também define o gênero em que está inserido, se firmando como seu suprassumo.
Absolutamente tudo beira a insanidade. O grau estupidamente elevado de estilo em cada ação e cenas extremamente exageradas, mas charmosas, a variedade bizarra de jogabilidade dentre todos os personagens jogáveis, além da pornográfica trilha sonora que te mantém dopado de adrenalina quanto maior a fluidez dos seus combos.
Devil May Cry 5 é insano.
Tanto fãs de longa data quanto visitantes de primeira viagem irão se sentir abraçados.
Além de resgatar e manter todos os pontos mais interessantes e memoráveis espalhados por toda a franquia, as novas armas e formas de se jogar agregam muito valor ao conjunto, recompensando todos os tipos de jogadores.
A vontade quase que instantânea após os créditos finais de querer rejogar todas as missões novamente é real, e é um perigo.
Revisitar esse jogo constantemente é um evento canônico para todos que o amam, e claro, o farei sempre que eu sentir falta de toda essa insanidade.
BioShock Infinite
2013
𝘈𝘴𝘤𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯... 𝘈𝘴𝘤𝘦𝘯𝘴𝘪𝘰𝘯... 5,000 𝘧𝘦𝘦𝘵... 10,000 𝘧𝘦𝘦𝘵... 15,000 𝘧𝘦𝘦𝘵...
𝘏𝘢𝘭𝘭𝘦𝘭𝘶𝘫𝘢𝘩.
Não apenas uma mudança de ares em relação aos corredores claustrofóbicos de Rapture. Não apenas uma clara evolução em todos os aspectos de jogabilidade. BioShock Infinite é o ápice de seu gênero, franquia e um dos melhores jogos de sua geração.
Columbia, a cidade flutuante, é uma obra de arte. O sentimento movido pela complexidade e atmosfera de todos os ambientes é inigualável, pouquíssimos jogos conseguem realizar uma construção de universo tão convincente.
Complexidade esta que é o tempero especial da narrativa.
No controle do agente Booker DeWitt, enfrentamos diversas situações complexas. Diante de extremismos relacionados ao patriotismo americano e principalmente de cunhos religiosos, temos um objetivo central, que move nossa principal motivação: Uma missão de resgate.
Tal premissa não é necessariamente algo novo, mas não é segredo pra ninguém o quão difícil é a execução desses casos. Após o resgate, é comum que tais personagens venham a se tornar acompanhantes, ou melhor, companheiros, que por sua vez, podem acabar se tornando fardos, nada além de uma obrigação.
Mas ora só, em BioShock Infinite esse problema não só é despedaçado, como também eleva o conceito de resgate e companheirismo a outro patamar.
"𝘉𝘰𝘰𝘬𝘦𝘳, 𝘢𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘧𝘳𝘢𝘪𝘥 𝘰𝘧 𝘎𝘰𝘥?"
"𝘕𝘰, 𝘐'𝘮 𝘢𝘧𝘳𝘢𝘪𝘥 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶."
Desde o primeiro contato visual, desde a primeira interação direta, é humanamente impossível não simpatizar com Elizabeth. A sensação de "obrigação" e o sentimento de dever de proteção existe, mas é orgânico, parte de nós mesmos.
Ao longo da campanha, a complexidade escala gradativamente, assim como o carinho pela misteriosa e apaixonante Elizabeth, e em nenhum momento, repito, em nenhum momento se torna maçante ou arrastado. A todo momento é instigante, a todo momento é empolgante, e tudo leva a um dos finais mais impactantes que eu já presenciei.
BioShock Infinite é uma aula de todos os principais aspectos que fazem videogames serem tão apaixonantes. Não só entra pra categoria de jogos que eu amo, mas também ficará para sempre em minha memória.
"𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘯. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘺."
𝘏𝘢𝘭𝘭𝘦𝘭𝘶𝘫𝘢𝘩.
Não apenas uma mudança de ares em relação aos corredores claustrofóbicos de Rapture. Não apenas uma clara evolução em todos os aspectos de jogabilidade. BioShock Infinite é o ápice de seu gênero, franquia e um dos melhores jogos de sua geração.
Columbia, a cidade flutuante, é uma obra de arte. O sentimento movido pela complexidade e atmosfera de todos os ambientes é inigualável, pouquíssimos jogos conseguem realizar uma construção de universo tão convincente.
Complexidade esta que é o tempero especial da narrativa.
No controle do agente Booker DeWitt, enfrentamos diversas situações complexas. Diante de extremismos relacionados ao patriotismo americano e principalmente de cunhos religiosos, temos um objetivo central, que move nossa principal motivação: Uma missão de resgate.
Tal premissa não é necessariamente algo novo, mas não é segredo pra ninguém o quão difícil é a execução desses casos. Após o resgate, é comum que tais personagens venham a se tornar acompanhantes, ou melhor, companheiros, que por sua vez, podem acabar se tornando fardos, nada além de uma obrigação.
Mas ora só, em BioShock Infinite esse problema não só é despedaçado, como também eleva o conceito de resgate e companheirismo a outro patamar.
"𝘉𝘰𝘰𝘬𝘦𝘳, 𝘢𝘳𝘦 𝘺𝘰𝘶 𝘢𝘧𝘳𝘢𝘪𝘥 𝘰𝘧 𝘎𝘰𝘥?"
"𝘕𝘰, 𝘐'𝘮 𝘢𝘧𝘳𝘢𝘪𝘥 𝘰𝘧 𝘺𝘰𝘶."
Desde o primeiro contato visual, desde a primeira interação direta, é humanamente impossível não simpatizar com Elizabeth. A sensação de "obrigação" e o sentimento de dever de proteção existe, mas é orgânico, parte de nós mesmos.
Ao longo da campanha, a complexidade escala gradativamente, assim como o carinho pela misteriosa e apaixonante Elizabeth, e em nenhum momento, repito, em nenhum momento se torna maçante ou arrastado. A todo momento é instigante, a todo momento é empolgante, e tudo leva a um dos finais mais impactantes que eu já presenciei.
BioShock Infinite é uma aula de todos os principais aspectos que fazem videogames serem tão apaixonantes. Não só entra pra categoria de jogos que eu amo, mas também ficará para sempre em minha memória.
"𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘭𝘪𝘨𝘩𝘵𝘩𝘰𝘶𝘴𝘦. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘮𝘢𝘯. 𝘛𝘩𝘦𝘳𝘦'𝘴 𝘢𝘭𝘸𝘢𝘺𝘴 𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘺."
Redfall
2023
De acordo com o próprio dicionário Aurélio:
• Genérico:
1 - Relativo a gênero.
2 - Geral.
3 - Vago; indeterminado; comum; abrangente.
4 - Redfall.
Felizmente, não fiz parte do grupo seleto e inigualável de guerreiros resilientes que suportaram a bomba atômica que tinham em mãos quando tentaram jogar Redfall em seu lançamento.
Hoje, posso dizer que o estado do jogo é muito mais agradável. Há uma boa fluidez na jogabilidade e não tive tantos problemas com bugs relevantes.
Sim, vou considerar as frequentes t-poses como alívio cômico.
Mas afinal, vale a pena jogar Redfall?
Por incrível que pareça, existe uma realidade onde a resposta dessa pergunta é positiva.
Basta usar a imaginação. Mentalize no seu subconsciente que Redfall é o melhor jogo eletrônico já feito na história da humanidade, assim como Morbius também é o melhor filme da história do cinema mundial.
Faça isso, mas com companhia de amigos, e sim, dessa forma serão dignos de experienciar uma obra atemporal dotada de genialidade.
Não. Jogue. Redfall. Sozinho.
• Genérico:
1 - Relativo a gênero.
2 - Geral.
3 - Vago; indeterminado; comum; abrangente.
4 - Redfall.
Felizmente, não fiz parte do grupo seleto e inigualável de guerreiros resilientes que suportaram a bomba atômica que tinham em mãos quando tentaram jogar Redfall em seu lançamento.
Hoje, posso dizer que o estado do jogo é muito mais agradável. Há uma boa fluidez na jogabilidade e não tive tantos problemas com bugs relevantes.
Sim, vou considerar as frequentes t-poses como alívio cômico.
Mas afinal, vale a pena jogar Redfall?
Por incrível que pareça, existe uma realidade onde a resposta dessa pergunta é positiva.
Basta usar a imaginação. Mentalize no seu subconsciente que Redfall é o melhor jogo eletrônico já feito na história da humanidade, assim como Morbius também é o melhor filme da história do cinema mundial.
Faça isso, mas com companhia de amigos, e sim, dessa forma serão dignos de experienciar uma obra atemporal dotada de genialidade.
Não. Jogue. Redfall. Sozinho.