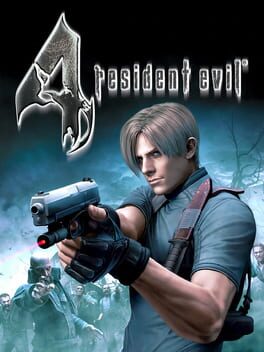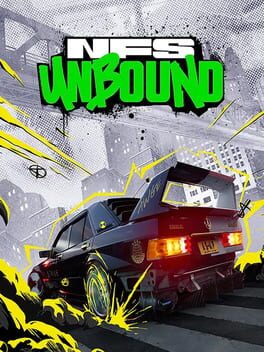saintfrog
2021
Banho Gelado + No Fap + MGTOW + comer carne crua + comer virado pra parede + biohack + dormir no chão + Jordan Peterson + mewing + HBD + PUA + jelq + dormir 5 horas por dia + café gelado sem açúcar + hipismo + compilação mitadas Enéas + alho cru + podcast do Joe Rogan + redpill + Brain Force + Jejum + meditação iasd + músicas para concentração, foco e inteligência + teste de QI da internet + grupos de linhagem viking do facebook + ficar longe do poste de internet 4G + youtube do varg vikernes + essência de morango da turma da mônica no narguilé + jogar vape na cara de todo mundo que tentar entrar no bloco da faculdade + 5 segundos de calistenia no deserto do atacama + darkcel + óculos do aécio na foto de perfil + ler quotes do nietzsche no brainy quote + criar galinha no quarto sem os pais saberem + Alho cru + uma colher de azeite quando acorda e outra antes de dormir + jejum de 24hrs a cada 72hrs + assistir VT no premiere logo que chega do estádio + canal Ultras World + LibreFighting + Operation Werewolf + comprar os artigos do Paul Waggener + Centhurion METHOD + humilliation exposure com a finalidade de criar uma crosta na sua mente capaz de desenvolver uma resiliência que resiste à humilhação como se ela fosse nada + tomar banho descalço em chuveiro de academia com chão mijado + musculação caseira + hackear o sono + Empreender + 10 livros de auto ajuda por mês + PUA + Selo super fã da fúria e tradição + Biokinesis + 432hz music + Mexer o pau sem piscar o cú + meditação transcendental + veganismo + minoxidil para cultivar uma barba + filmografia Jason Stataham + assistir vikings + redpill + ir no cinema sozinho + treino saitama + coach quântico + enema de café + dieta lair ribeiro + agua alcalina + O Método de Wim Hof + sabedoria hiperbórea + artigos da Nova Resistência + Biblioteca do Dídimo Matos + dormir virado pra parede assobiando no escuro pra espantar o curupira + dar 3 pulinhos toda vez que levantar da cama + dizer amém quando um 1113 azul passar por você
Geralmente quando um jogo é feio e grotesco assim, alguns críticos sabichões sempre começam falando algo do tipo de “por baixo da camada de sujeira de X, existe uma pérola escondida que revela seu brilho real após inspeção cuidadosa”. Não existe debaixo da sujeira de Cruelty Squad, o jogo te convida pra se chafurdar na lama junto com ele: a endorfina da violência; o desprezo à vida humana¹; a graça na desgraça - são todos completamente reais, e o espaço para a ironia barata dá lugar à percepção do real horror latente, presente nas caras nojentas dos que estão ao seu redor, nas paredes de escritório que pulsam como se alimentassem de seus inquilinos, nas súplicas de uma máquina cuja sede sabemos que é inesgotável.
Ainda que impactado, não obstante impressionado por sua voz e presença, senti que a qualidade dos estágios foi meio inconsistente - os melhores eram saborosos puzzles de rápida iteração, os piores, uma chacina entediante do começo ao fim - e não o tipo de entediante que me dava vontade de engajar no CEO grindset.
¹ Na oitava tentativa em uma fase, chutar os civis na minha frente era um ato mais pessoal do que o de esmiuçar o meu alvo CEO o mais rápido o possível.
Geralmente quando um jogo é feio e grotesco assim, alguns críticos sabichões sempre começam falando algo do tipo de “por baixo da camada de sujeira de X, existe uma pérola escondida que revela seu brilho real após inspeção cuidadosa”. Não existe debaixo da sujeira de Cruelty Squad, o jogo te convida pra se chafurdar na lama junto com ele: a endorfina da violência; o desprezo à vida humana¹; a graça na desgraça - são todos completamente reais, e o espaço para a ironia barata dá lugar à percepção do real horror latente, presente nas caras nojentas dos que estão ao seu redor, nas paredes de escritório que pulsam como se alimentassem de seus inquilinos, nas súplicas de uma máquina cuja sede sabemos que é inesgotável.
Ainda que impactado, não obstante impressionado por sua voz e presença, senti que a qualidade dos estágios foi meio inconsistente - os melhores eram saborosos puzzles de rápida iteração, os piores, uma chacina entediante do começo ao fim - e não o tipo de entediante que me dava vontade de engajar no CEO grindset.
¹ Na oitava tentativa em uma fase, chutar os civis na minha frente era um ato mais pessoal do que o de esmiuçar o meu alvo CEO o mais rápido o possível.
2021
“Nós vivemos em uma sociedade em que as pessoas acham mais natural violência nos jogos do que uma trepadinha esperta. “ - Joker, o Coringa
Joguei por fins educacionais.
Papo reto? Tem mais cuidado colocado na sua ludonarrativa aqui do que na maioria dos JRPGs que já joguei. A forma como o jogo bem gradualmente trata a personalidade da protagonista ficando progressivamente mais libertina, e como isso influencia e é influenciado por todos os sistemas (base-building, combate, diálogo, narrativa, side-games) é honestamente um exemplo de design a se seguir: nunca vi um nível de noção de sua própria proposta e coesão sistêmica assim em um JRPG, muito menos em um jogo hentai de RPGMaker. Você não só consegue montar uma build pra ganhar os combates deixando os inimigos exaustos (rs), quanto a forma como as árvores de habilidades são liberadas são coerentes com as ações da personagem e a evolução sistêmica de suas consequências.
A quem estou enganando? Straight to horny jail.
Joguei por fins educacionais.
Papo reto? Tem mais cuidado colocado na sua ludonarrativa aqui do que na maioria dos JRPGs que já joguei. A forma como o jogo bem gradualmente trata a personalidade da protagonista ficando progressivamente mais libertina, e como isso influencia e é influenciado por todos os sistemas (base-building, combate, diálogo, narrativa, side-games) é honestamente um exemplo de design a se seguir: nunca vi um nível de noção de sua própria proposta e coesão sistêmica assim em um JRPG, muito menos em um jogo hentai de RPGMaker. Você não só consegue montar uma build pra ganhar os combates deixando os inimigos exaustos (rs), quanto a forma como as árvores de habilidades são liberadas são coerentes com as ações da personagem e a evolução sistêmica de suas consequências.
A quem estou enganando? Straight to horny jail.
Uma fofura. Se agarra à inocência e inventividade infantil e conta uma história que tenho certeza que toda criança espevitada já viveu em sua cabeça, explicitando tudo de estúpido e belo que torna a infância uma coisa tão linda. A estética de Tokyo rural e sua paixão pelo tokusatsu amarra tudo com um lacinho de nostalgia por parte dos criadores que completa a obra como um pacote simplesmente :)
Além disso, esse jogo ter tipo 10 modelos, 5 animações, 10 ilustrações e 15 minutos de música é o tipo de encorajamento logístico que me convence que posso sim fazer muito com pouca quantidade - me falta só a qualidade.
Além disso, esse jogo ter tipo 10 modelos, 5 animações, 10 ilustrações e 15 minutos de música é o tipo de encorajamento logístico que me convence que posso sim fazer muito com pouca quantidade - me falta só a qualidade.
2005
Tank controls que exprimem precisão absoluta: jogabilidade de ação levada quase à perfeição por um kit de verbos que se complementa igual arroz com feijão, sempre um universo de ações possíveis disponíveis ao jogador que está ao mesmo tempo considerando estes verbos para resolver um puzzle em tempo real no agora e pensando no que lhe restará para o futuro, a dificuldade dinâmica muito bem calibrada garantindo que nunca esteja verdadeiramente tranquilo com o que tem na maleta, mas nunca também sem esperanças. Esse aqui é o caso de não dar pra falar o que já não foi falado: é ver pra crer que realmente é bom desse jeito.
Como nem tudo é flores: nunca é tão bom quanto as suas primeiras horas, e pra mim foi perdendo a magia progressivamente, com alguns piques aqui e lá - diluídos por confrontos batidos e set pieces irritantes - até um final meio xoxo.
Não o considero perfeito, mas me preocupo um pouco com o potencial que o Remake tem de despontar as garras do jogo na tentativa de trazê-lo mais perto da forma platônica do shooter de terceira pessoa moderno™.
Como nem tudo é flores: nunca é tão bom quanto as suas primeiras horas, e pra mim foi perdendo a magia progressivamente, com alguns piques aqui e lá - diluídos por confrontos batidos e set pieces irritantes - até um final meio xoxo.
Não o considero perfeito, mas me preocupo um pouco com o potencial que o Remake tem de despontar as garras do jogo na tentativa de trazê-lo mais perto da forma platônica do shooter de terceira pessoa moderno™.
Não sei qual é a minha com jogos de corrida: não gosto de dirigir e não me interesso nada por carros, ao ponto do desleixo com o que tenho. Ainda assim, existe uma fortaleza neon em minha mente que foi construída por memórias infantis de Nissans 350Z e Mitsubishi Lancers deslizando pelos Need for Speed de PS2. Ao longo dos anos, sempre vinha a vontade de visitá-la de novo: tentei tapar o buraco com Forzas e outros, e sempre saía insatisfeito - Horizon não me entende. Unbound, por vez, parece ter sido construído para conectar as sensibilidades do eu criança e do eu agora.
Uma coisa que me desanima em jogos de corrida modernos é a casualidade com que todo o rolê é tratado. Bem vindo ao CarrosFest, onde todos seus sonhos se tornam realidade! Toma aqui um Lamborghini, uma Ferrari! Rode uma roleta pra ganhar o seu décimo sexto carro mesmo tendo corrido só quatro vezes! Você é o protagonista desse mundo e ele gira ao seu redor! Errou uma curva? Só voltar no tempo! Me erra. O ideal platônico da vibe de um jogo de corrida é o mesmo que um anime de mecha - cada uma dessas máquinas é uma extensão da possibilidade humana, imbuída de personalidade e capaz de mudar o mundo com o ronco de seu motor, e pessoas movem montanhas pelas mais notórias. Unbound os dá essa importância mecanicamente, agindo ao redor de um soft timer: ou você junta o dinheiro suficiente pra avançar na cadeia, ou roda e tem que repetir tudo. Bateu? Azar o seu, use um dos seus resets limitados do dia e tenta de novo. Não tá mandando bem nas corridas? Vai ter que ralar muito pra conquistar os carrinhos mais mixurucas. Ficar bom o suficiente para começar a ganhar as corridas nesse jogo foi um processo extremamente satisfatório, as consequências de uma curva errada fazendo com que cada viradinha ou lance arriscado virem um momento sangue nos olhos. Toda vez que eu ganhei uma corrida, até as de lavada, senti que mereci. Claro, como estamos tratando de AIs de corrida, temos situações de rubberbanding que fazem com que a realidade que é imposta sobre você seja diferente do que a dos adversários, o que pode gerar situações em que você perde na injustiça e tem que engolir. Papo reto? Eram tão poucas que levava no queixo como crédito pras vezes que a sorte me ajudava. Não dou crédito apenas à minha maturidade como corredor: ter ampla recompensa para quem não chega em primeiro ajuda bastante a engolir o fato de que não dá pra ganhar todas.
O loop sagaz de Unbound ser tão engajante não serviria de nada se os carros em si não fossem gostosos de dirigir. Como já falei, a fantasia infantil de Velozes e Furiosos ecoa muito mais forte em meu coraçãozinho do que o amor por carros, então não costumo ter interesse algum em verossimilidade - minha métrica de dirigibilidade é baseada no bom, velho e subjetivo game feel. Não consigo pensar em nenhum jogo em que já achei carros tão gostosos de dirigir quanto aqui. Os carros se comportam exatamente como eles parecem, seus perfis esbanjando exatamente a fantasia que evocam: os Lamborghinis são uma bala inerrável, os Subarus e Nissans deslizam sob as ruas com graça. A mecânica de boosts de nitro baseados no perfil do seu carro e do motorista ainda permitem a criação de ‘builds’ para adaptar o seu carro ao seu estilo de pilotagem e/ou os trajetos do dia. Não há nada como fazer curvas em alta velocidade numa corrida de final de torneio - por aqueles poucos segundos o tempo flutua, o ronco do motor bradando o hino do fluxo absoluto. Perseguições policiais, ainda que exageradamente abundantes, fazem com que o trajeto entre corridas sempre tenha algum grau de tensão presente. É um pacotinho muito bem amarrado de mecânicas.
O jogo é estiloso pra um dedéu também. Tanto em sua estética quanto em sua história e diálogos ele adota uma visão meio cringe e fofinha ao redor de arte de rua, apresentando uma versão um pouco gen-zificada da cultura de racha de carro como arte transgressiva. Pra mim, colou legal: o casamento faz sentido e existe sim, ainda que não seja flores como o jogo apresenta. A estética vende a fantasia desse utopia carrista: a tela pipoca o tempo todo com efeitos crocantes e artes estilosas para elevar o SUCO do jogo ao máximo, e achei que a justaposição deste estilo e dos seus modelos cell-shaded com os carros realísticos gerou uma identidade visual estilosa que sobreviverá bem ao teste do tempo. A narrativa do porquê você está correndo as corridas que corre peca um pouco, especialmente quando envolve o conflito central da trama (a protagonista e a Yaz). Ainda assim, achei que as performances dos VAs foram muito boas, capazes de vender com bastante charme um diálogo que tinha de tudo para morrer numa mistureba desagradável de comentário a la Bojack Horseman e Marvelzada insossa.
O tom extremamente positivo é real, porém para que o traga de volta à terra um pouco: é um pouquinho mais longo e repetitivo do que eu gostaria, com pouco brilho dado à rica gama de motoristas rivais visualmente marcantes que o jogo tem - ainda que existam algumas sidequests divertidas sobre bater um papo com eles. Acho também que o jogo poderia aumentar consideravelmente o valor de revenda dos carros: até o late-game, comprar um carro que você não gostou pode ser uma sentença de tédio, já que demora tanto para conseguir outro. O coração enaltece as memórias boas e deixa as ruins no retrovisor: em retrospectiva, sinto que tô procurando pelo em ovo nesse parágrafo.
Unbound é uma série de tacadas corajosas e certas de uma franquia que estava precisando de alguns acertos, e zunar pelas luzes de Lakeshore foi um dos meus maiores prazeres do ano.
Uma coisa que me desanima em jogos de corrida modernos é a casualidade com que todo o rolê é tratado. Bem vindo ao CarrosFest, onde todos seus sonhos se tornam realidade! Toma aqui um Lamborghini, uma Ferrari! Rode uma roleta pra ganhar o seu décimo sexto carro mesmo tendo corrido só quatro vezes! Você é o protagonista desse mundo e ele gira ao seu redor! Errou uma curva? Só voltar no tempo! Me erra. O ideal platônico da vibe de um jogo de corrida é o mesmo que um anime de mecha - cada uma dessas máquinas é uma extensão da possibilidade humana, imbuída de personalidade e capaz de mudar o mundo com o ronco de seu motor, e pessoas movem montanhas pelas mais notórias. Unbound os dá essa importância mecanicamente, agindo ao redor de um soft timer: ou você junta o dinheiro suficiente pra avançar na cadeia, ou roda e tem que repetir tudo. Bateu? Azar o seu, use um dos seus resets limitados do dia e tenta de novo. Não tá mandando bem nas corridas? Vai ter que ralar muito pra conquistar os carrinhos mais mixurucas. Ficar bom o suficiente para começar a ganhar as corridas nesse jogo foi um processo extremamente satisfatório, as consequências de uma curva errada fazendo com que cada viradinha ou lance arriscado virem um momento sangue nos olhos. Toda vez que eu ganhei uma corrida, até as de lavada, senti que mereci. Claro, como estamos tratando de AIs de corrida, temos situações de rubberbanding que fazem com que a realidade que é imposta sobre você seja diferente do que a dos adversários, o que pode gerar situações em que você perde na injustiça e tem que engolir. Papo reto? Eram tão poucas que levava no queixo como crédito pras vezes que a sorte me ajudava. Não dou crédito apenas à minha maturidade como corredor: ter ampla recompensa para quem não chega em primeiro ajuda bastante a engolir o fato de que não dá pra ganhar todas.
O loop sagaz de Unbound ser tão engajante não serviria de nada se os carros em si não fossem gostosos de dirigir. Como já falei, a fantasia infantil de Velozes e Furiosos ecoa muito mais forte em meu coraçãozinho do que o amor por carros, então não costumo ter interesse algum em verossimilidade - minha métrica de dirigibilidade é baseada no bom, velho e subjetivo game feel. Não consigo pensar em nenhum jogo em que já achei carros tão gostosos de dirigir quanto aqui. Os carros se comportam exatamente como eles parecem, seus perfis esbanjando exatamente a fantasia que evocam: os Lamborghinis são uma bala inerrável, os Subarus e Nissans deslizam sob as ruas com graça. A mecânica de boosts de nitro baseados no perfil do seu carro e do motorista ainda permitem a criação de ‘builds’ para adaptar o seu carro ao seu estilo de pilotagem e/ou os trajetos do dia. Não há nada como fazer curvas em alta velocidade numa corrida de final de torneio - por aqueles poucos segundos o tempo flutua, o ronco do motor bradando o hino do fluxo absoluto. Perseguições policiais, ainda que exageradamente abundantes, fazem com que o trajeto entre corridas sempre tenha algum grau de tensão presente. É um pacotinho muito bem amarrado de mecânicas.
O jogo é estiloso pra um dedéu também. Tanto em sua estética quanto em sua história e diálogos ele adota uma visão meio cringe e fofinha ao redor de arte de rua, apresentando uma versão um pouco gen-zificada da cultura de racha de carro como arte transgressiva. Pra mim, colou legal: o casamento faz sentido e existe sim, ainda que não seja flores como o jogo apresenta. A estética vende a fantasia desse utopia carrista: a tela pipoca o tempo todo com efeitos crocantes e artes estilosas para elevar o SUCO do jogo ao máximo, e achei que a justaposição deste estilo e dos seus modelos cell-shaded com os carros realísticos gerou uma identidade visual estilosa que sobreviverá bem ao teste do tempo. A narrativa do porquê você está correndo as corridas que corre peca um pouco, especialmente quando envolve o conflito central da trama (a protagonista e a Yaz). Ainda assim, achei que as performances dos VAs foram muito boas, capazes de vender com bastante charme um diálogo que tinha de tudo para morrer numa mistureba desagradável de comentário a la Bojack Horseman e Marvelzada insossa.
O tom extremamente positivo é real, porém para que o traga de volta à terra um pouco: é um pouquinho mais longo e repetitivo do que eu gostaria, com pouco brilho dado à rica gama de motoristas rivais visualmente marcantes que o jogo tem - ainda que existam algumas sidequests divertidas sobre bater um papo com eles. Acho também que o jogo poderia aumentar consideravelmente o valor de revenda dos carros: até o late-game, comprar um carro que você não gostou pode ser uma sentença de tédio, já que demora tanto para conseguir outro. O coração enaltece as memórias boas e deixa as ruins no retrovisor: em retrospectiva, sinto que tô procurando pelo em ovo nesse parágrafo.
Unbound é uma série de tacadas corajosas e certas de uma franquia que estava precisando de alguns acertos, e zunar pelas luzes de Lakeshore foi um dos meus maiores prazeres do ano.
2023
Nessas rochas há textura inigualável. Em cores perfeitamente vibrantes e iluminação impecavelmente calibrada, Jusant reproduz, em natureza morta, um poderoso senso de melancolia sem precisar de nenhuma palavra. A pedra respira, sua história sendo anunciada pelos lagartinhos e insetinhos que rastejam corriqueiros por ruínas - natureza morta para uns; vida borbulhando, timidamente, para outros. Cabe a você, cuja única ferramenta sendo uma que força contato direto com a torre, cara na pedra, trilhar pela lenta e anunciada tragédia de quem te antecede. A fisicalidade dos controles transmite, com simplicidade, um universo. Sua trilha sonora, docemente dotada pela textura de tudo que o vento e o sol tocam, eleva a jornada para os céus.
E é assim, através da soma de todos seus fantásticos elementos, que Jusant constrói o amâlgamo sensorial desta escalada - serena, melódica, desesperadora, estressante, esperançosa, e acima de tudo, linda.
E é assim, através da soma de todos seus fantásticos elementos, que Jusant constrói o amâlgamo sensorial desta escalada - serena, melódica, desesperadora, estressante, esperançosa, e acima de tudo, linda.
2001
Comecei embasbacado pela beleza desse jogo - os céus e mares azuis vibrantes apresentam uma direção artística atemporal - e rapidamente a magia foi se dissolvendo.
A premissa da jornada é engajante, e os ossos estão aí: a dinâmica do quinteto original pra mim representa o jogo em seu ponto mais alto. Infelizmente, achei a execução porca - embora tenha gostado do personagem de Tidus, achei enorme parte da narrativa dependente de burrice e ignorância magníficas por parte dele e do grupo, a história dos personagens precisando de conveniência após conveniência para justificar caminhos e situações que não faziam em nada além de arrastar o jogo. Nunca fui convencido pela força dos laços formados, apenas dos já existentes antes da minha chegada na narrativa.
As regiões iniciais de Besaid e Luca são muito mais interessantes do que o resto do jogo, talvez porque ainda apresentavam um potencial que esperava ser cumprido. Depois delas, temos, por região, uma série de 2-3 corredores lineares com temáticas diferentes - corredores de fogo cheios de lagartos e pedra flutuantes; corredores de gelo cheios de pedras flutuantes e lagartos; corredores de grama cheios de lagartos e plantas (!); e corredores gordinhos de areia cheios de lagartos e cachorros. O jogo ser tão linear e restritivo quanto Pokémon Sun and Moon certamente não é algo que eu esperava. Até a trilha sonora do jogo, comum ponto alto em todo FF, é dolorosamente repetitiva e arrastada - repetição que se torna abrasiva dado em conta o volume de random encounters com lagartos, pedras, plantas e cachorros que tem nesse jogo, e o fato que basicamente só toca uma única música em todos eles.
Porém, se tenho que escolher o meu maior incômodo, certamente foi o Blitzball. A julgar pelo material de marketing e o início do jogo, entendia que o esporte teria um impacto narrativo e ligação ao mundo muito mais interessante do que acabou tendo. O jogo abre com Blitzball, e o esporte é o laço em comum que liga Tidus, um estranho no ninho, ao povo de Spira - era de se esperar que seria algo que facilitaria sua integração em situação tão traumática, e o começo do jogo dá a entender isso. Imagine meu prazer ao descobrir que não só Blitzball é uma merda de joguinho, quanto está totalmente relegado ao MENU do jogo, sem nem aproveitar o esporte para contextualizar melhor a peregrinação de Yuna e a integração de Tidus em Spira - sendo que todo time de Blitzball tem a sua cidade representada dentro do jogo!! Já pensou se os torneios fossem acessados fisicamente através de mini-sidequests dentro de cada respectiva cidade, e fossem usados para dar mais carne ao mundo do jogo? Broxei com força depois dessa revelação.
Em suma, acabei não gostando de quase nada nesse jogo, e nem de um jeito “não foi pra mim”; achei ruim mesmo. As boss fights, que costumam tirar o suco máximo do sistema de combate, foram o ponto mais alto - por mais que tenham alguns golpes bullshit que te forçam a rever cutscenes inteiras toda vez que você toma.
A premissa da jornada é engajante, e os ossos estão aí: a dinâmica do quinteto original pra mim representa o jogo em seu ponto mais alto. Infelizmente, achei a execução porca - embora tenha gostado do personagem de Tidus, achei enorme parte da narrativa dependente de burrice e ignorância magníficas por parte dele e do grupo, a história dos personagens precisando de conveniência após conveniência para justificar caminhos e situações que não faziam em nada além de arrastar o jogo. Nunca fui convencido pela força dos laços formados, apenas dos já existentes antes da minha chegada na narrativa.
As regiões iniciais de Besaid e Luca são muito mais interessantes do que o resto do jogo, talvez porque ainda apresentavam um potencial que esperava ser cumprido. Depois delas, temos, por região, uma série de 2-3 corredores lineares com temáticas diferentes - corredores de fogo cheios de lagartos e pedra flutuantes; corredores de gelo cheios de pedras flutuantes e lagartos; corredores de grama cheios de lagartos e plantas (!); e corredores gordinhos de areia cheios de lagartos e cachorros. O jogo ser tão linear e restritivo quanto Pokémon Sun and Moon certamente não é algo que eu esperava. Até a trilha sonora do jogo, comum ponto alto em todo FF, é dolorosamente repetitiva e arrastada - repetição que se torna abrasiva dado em conta o volume de random encounters com lagartos, pedras, plantas e cachorros que tem nesse jogo, e o fato que basicamente só toca uma única música em todos eles.
Porém, se tenho que escolher o meu maior incômodo, certamente foi o Blitzball. A julgar pelo material de marketing e o início do jogo, entendia que o esporte teria um impacto narrativo e ligação ao mundo muito mais interessante do que acabou tendo. O jogo abre com Blitzball, e o esporte é o laço em comum que liga Tidus, um estranho no ninho, ao povo de Spira - era de se esperar que seria algo que facilitaria sua integração em situação tão traumática, e o começo do jogo dá a entender isso. Imagine meu prazer ao descobrir que não só Blitzball é uma merda de joguinho, quanto está totalmente relegado ao MENU do jogo, sem nem aproveitar o esporte para contextualizar melhor a peregrinação de Yuna e a integração de Tidus em Spira - sendo que todo time de Blitzball tem a sua cidade representada dentro do jogo!! Já pensou se os torneios fossem acessados fisicamente através de mini-sidequests dentro de cada respectiva cidade, e fossem usados para dar mais carne ao mundo do jogo? Broxei com força depois dessa revelação.
Em suma, acabei não gostando de quase nada nesse jogo, e nem de um jeito “não foi pra mim”; achei ruim mesmo. As boss fights, que costumam tirar o suco máximo do sistema de combate, foram o ponto mais alto - por mais que tenham alguns golpes bullshit que te forçam a rever cutscenes inteiras toda vez que você toma.
1995
Tento sempre desafiar internamente a noção de que jogos “envelhecem mal” - muitas das minhas experiências favoritas estão em jogos mais antigos até do que a minha infância, em tempos em que videogames de alto orçamento eram uma coisa muito mais arriscada e experimental do que as produções gigantescas - e, obrigatoriamente, financeiramente e artisticamente seguras - que temos hoje em dia. Chrono Trigger me intrigava porque era o contrário: um jogo mais velho do que eu, com a fama de não ter envelhecido um dia. E disso não posso discordar - consigo ver como ele foi monumental e revolucionário em basicamente todos os pilares dos RPGs modernos: ambiciosa e detalhista narrativa que se ramifica em vários galhos; um sistema de combate tão liso em sua execução que flui melhor do que muitas iterações atuais de JRPGs; um valor de produção monumental com ilustrações, músicas e gráficos icônicos e um punhado de conteúdo opcional bem escondido para quem tiver o afinco de procurar.
Porém, nada disso importa para mim se o que o jogo me apresenta não me cativa. Sinto que em sua aventura pelos globos e tempos o jogo não se dá tempo de respirar: cada personagem tem pouquíssimo tempo e conectividade com o grupo para brilhar, sempre uma nova batalha ou dungeon épica esperando o próximo momento de um trem-bala narrativo, e com o pouco tempo que tem, entregam menos ainda - o diálogo é constantemente insosso, punhadinho de tropes e frases de efeito que entram num ouvido e saem no outro, uma fachada de caráter moldado, mas não preenchida. Porque me importaria com Chrono, Marle e Lucca? Ainda mais: porque me importaria com a amizade do grupo, se sequer os vejo interagindo, se sequer entendo quem são como individuos? Nunca acreditei na amizade deles, porque o jogo não dá razão para o mesmo. Não sinto a dor deles, pois o próprio jogo não deixa com que sua aventura seja respirada e sentido: em um momento perto do final, uma das personagens descobre que sua mãe morreu tragicamente durante sua ausência; a reação dela pode ser resumida em um “oh não!”, e, se o jogador não quiser comprar um bifinho para começar a sidequest, não se fala mais nisso - o fato do jogo insistir que a personagem mais sem graça (Marle) é a companheira mais importante também é outro ponto que me deixou lelé. Até mesmo um dos pontos em que a história sim se dá o espaço para crescer, na morte de Crono, ela a faz de forma absolutamente bizarra: os stakes emocionais do retorno de Crono são totalmente minados pela quest bizarra que envolve ganhar um boneco aleatório na feira para ressuscitá-lo. Uma trilha sonora com algumas faixas melancólicas muito bonitas não conseguiu me fazer importar nem nos climaxes do jogo, ainda que o espetáculo do final (de Lavos até o adeus de Robo) tenha sido sim um dos pontos mais fortes.
Continuar descascando o jogo seria um exercício fútil diante da conclusão: eu não senti do que Chrono Trigger se trata, e não acho que o jogo fez um trabalho minimamente bom em me envolver. É uma aventura estilo sessão da tarde sobre derrotar o mal? É uma mensagem sobre a futilidade da vida e o passar do tempo, e como devemos aproveitar o que temos diante dessa inexorabilidade, assim como Robo indica no final? Não acho que o jogo tem que ser uma MENSAGEM para ser uma obra de arte que aprecio. O que espero é uma voz artística que ressoa, que me faça entender o que as pessoas por trás da criação de Chrono Trigger estavam sentindo ao fazê-lo, e o que queriam compartilhar comigo deste trabalho monumental que é produzir um jogo. Negar que há paixão no jogo seria um absurdo, e um desrespeito com o trabalho dos desenvolvedores. A triste revelação é que o jogo não me cativou. Respeito o seu legado monumental, e me dei toda chance o possível para tirar alguma pepita da alegria e emoção aqui contidos que tanto toca a quem joga; infelizmente saio de mãos abanando.
Porém, nada disso importa para mim se o que o jogo me apresenta não me cativa. Sinto que em sua aventura pelos globos e tempos o jogo não se dá tempo de respirar: cada personagem tem pouquíssimo tempo e conectividade com o grupo para brilhar, sempre uma nova batalha ou dungeon épica esperando o próximo momento de um trem-bala narrativo, e com o pouco tempo que tem, entregam menos ainda - o diálogo é constantemente insosso, punhadinho de tropes e frases de efeito que entram num ouvido e saem no outro, uma fachada de caráter moldado, mas não preenchida. Porque me importaria com Chrono, Marle e Lucca? Ainda mais: porque me importaria com a amizade do grupo, se sequer os vejo interagindo, se sequer entendo quem são como individuos? Nunca acreditei na amizade deles, porque o jogo não dá razão para o mesmo. Não sinto a dor deles, pois o próprio jogo não deixa com que sua aventura seja respirada e sentido: em um momento perto do final, uma das personagens descobre que sua mãe morreu tragicamente durante sua ausência; a reação dela pode ser resumida em um “oh não!”, e, se o jogador não quiser comprar um bifinho para começar a sidequest, não se fala mais nisso - o fato do jogo insistir que a personagem mais sem graça (Marle) é a companheira mais importante também é outro ponto que me deixou lelé. Até mesmo um dos pontos em que a história sim se dá o espaço para crescer, na morte de Crono, ela a faz de forma absolutamente bizarra: os stakes emocionais do retorno de Crono são totalmente minados pela quest bizarra que envolve ganhar um boneco aleatório na feira para ressuscitá-lo. Uma trilha sonora com algumas faixas melancólicas muito bonitas não conseguiu me fazer importar nem nos climaxes do jogo, ainda que o espetáculo do final (de Lavos até o adeus de Robo) tenha sido sim um dos pontos mais fortes.
Continuar descascando o jogo seria um exercício fútil diante da conclusão: eu não senti do que Chrono Trigger se trata, e não acho que o jogo fez um trabalho minimamente bom em me envolver. É uma aventura estilo sessão da tarde sobre derrotar o mal? É uma mensagem sobre a futilidade da vida e o passar do tempo, e como devemos aproveitar o que temos diante dessa inexorabilidade, assim como Robo indica no final? Não acho que o jogo tem que ser uma MENSAGEM para ser uma obra de arte que aprecio. O que espero é uma voz artística que ressoa, que me faça entender o que as pessoas por trás da criação de Chrono Trigger estavam sentindo ao fazê-lo, e o que queriam compartilhar comigo deste trabalho monumental que é produzir um jogo. Negar que há paixão no jogo seria um absurdo, e um desrespeito com o trabalho dos desenvolvedores. A triste revelação é que o jogo não me cativou. Respeito o seu legado monumental, e me dei toda chance o possível para tirar alguma pepita da alegria e emoção aqui contidos que tanto toca a quem joga; infelizmente saio de mãos abanando.
2020
Night City é embriagante: a cidade é enorme, opressora, avassaladora. É o caso em que as maravilhas tecnológicas realmente funcionam: a cidade não é viva de verdade, mas engana - vislumbro verdade em cada raio de luz cortando a fumaça da barraquinha de espetinho, sendo raytraceado gloriosamente para refletir num morador de rua tendo um espasmo num beco. Um padrão que eu não havia encontrado antes para esse nível de apresentação em um RPG de mundo aberto AAAAAA, verdadeiro banho de atmosfera, o FPS variável que se dane.
Uma surpresa. O elenco é um de seus maiores fortes: personagens carismáticos, expressivos, todos em sua forma vivendo como podem em um triturador de cidade, intersecionando o moribundo V em suas crises e sonhos, e dessa relação sempre saindo algo muito maior do que um item especial ou um punhado de experiência. Posso não estar aqui logo cedo: ainda assim, busco crescer com aqueles que cruzaram seu caminho, e, como herança, deixá-los uma cidade um pouco mais digna.
Mergulhado no miasma, Phantom Liberty me tirou da ilusão um pouco: essa não é uma história para presidentes maneironas e agentes secretos atuados por galãs. Me fez lembrar que por mais punk que Cyberpunk se porte, nunca deixará de ser uma produção zilionária com alguns muitos acionistas pra agradar e OKRs a bater - Idris Elba e Keanu estão aí pra ajudar nisso - o que deixa tudo com um gosto meio amargo na boca. E muito deste corpospeak seguro transborda no jogo principal também: ainda que não tenha medo de mostrar o lado sujo de seu futuro horripilante, sempre apolitiza a luta de V e até a de Johnny, procurando cooptar estéticas revolucionárias, balançando-as como uma cenourinha anti-establishment que nunca é alcançada. Não cobro deles que possamos derrubar Arasaka e estabelecer uma comuna ecofriendly, e sim lamento que não nos permitem nem um grito surdo diante de um sistema implacável: a revolta e o horror distópico são apenas uma vibe, matéria secundária que não é cerne para um mundo de robôs maneiros que dão double-jump, conseguem ativar bullet time e refletir balas com uma katana (isso é foda mesmo). Precisamente, em outra distopia, Joyce Messier já nos havia dado a palavra: o capital assimila todas suas críticas em si mesmo, e se fortalece através da produtização das mesmas.
Cyberpunk caminha, entremeando entre sua genuína voz e sua realidade material como obra que não existiria sem o prospecto de gerar montanhas de dinheiro pra muita gente, e todo o peso que vem com isso. Assim como Night City, sua efígie: um emaranhado de zigurates construídas para deuses falsos, monumentos à soberba do capital; entre suas ranhuras, nos becos sujos e indesejados de sua arquitetura, prospera maravilha, desespero, esplendor, e todo tipo de meleca que nos torna humanos.
Uma surpresa. O elenco é um de seus maiores fortes: personagens carismáticos, expressivos, todos em sua forma vivendo como podem em um triturador de cidade, intersecionando o moribundo V em suas crises e sonhos, e dessa relação sempre saindo algo muito maior do que um item especial ou um punhado de experiência. Posso não estar aqui logo cedo: ainda assim, busco crescer com aqueles que cruzaram seu caminho, e, como herança, deixá-los uma cidade um pouco mais digna.
Mergulhado no miasma, Phantom Liberty me tirou da ilusão um pouco: essa não é uma história para presidentes maneironas e agentes secretos atuados por galãs. Me fez lembrar que por mais punk que Cyberpunk se porte, nunca deixará de ser uma produção zilionária com alguns muitos acionistas pra agradar e OKRs a bater - Idris Elba e Keanu estão aí pra ajudar nisso - o que deixa tudo com um gosto meio amargo na boca. E muito deste corpospeak seguro transborda no jogo principal também: ainda que não tenha medo de mostrar o lado sujo de seu futuro horripilante, sempre apolitiza a luta de V e até a de Johnny, procurando cooptar estéticas revolucionárias, balançando-as como uma cenourinha anti-establishment que nunca é alcançada. Não cobro deles que possamos derrubar Arasaka e estabelecer uma comuna ecofriendly, e sim lamento que não nos permitem nem um grito surdo diante de um sistema implacável: a revolta e o horror distópico são apenas uma vibe, matéria secundária que não é cerne para um mundo de robôs maneiros que dão double-jump, conseguem ativar bullet time e refletir balas com uma katana (isso é foda mesmo). Precisamente, em outra distopia, Joyce Messier já nos havia dado a palavra: o capital assimila todas suas críticas em si mesmo, e se fortalece através da produtização das mesmas.
Cyberpunk caminha, entremeando entre sua genuína voz e sua realidade material como obra que não existiria sem o prospecto de gerar montanhas de dinheiro pra muita gente, e todo o peso que vem com isso. Assim como Night City, sua efígie: um emaranhado de zigurates construídas para deuses falsos, monumentos à soberba do capital; entre suas ranhuras, nos becos sujos e indesejados de sua arquitetura, prospera maravilha, desespero, esplendor, e todo tipo de meleca que nos torna humanos.
2016
Silver Case esteve comigo por três meses, sendo a minha canção de ninar na maioria das noites. Com seus ambientes vazios e o barulhinho de máquina de escrever que o texto faz, revelou-se promissor produtor de melatonina, apesar dos raios claros do Steam Deck fritando meus olhos na madrugada.
A primeira impressão é a que importa e a que fica: duvido que jogarei tão cedo alguma VN que consiga desafiar esta em sua apresentação. Menus dinâmicos, janelas voando, trocando de forma, o fundo em fluxo constante - é o sonho estético de todo mundo que tenta representar uma ‘websfera’ dos anos 2000. Ainda que superficial, vejo este fator como extremamente importante no meu aproveitamento da obra, já que é uma execução fantástica como essa que romantiza e confere personalidade a um ato que não é muito diferente do de passar slides - só o barulhinho modular do texto conforme você apertar um botão ou outro já é uma coisa que deixa tão mais gostoso de se ler.
Não que eu queira reduzir Silver Case à uma VN tradicional: uma enorme parcela do jogo envolve um dungeon crawl - livre de estados de falha e cheia de momentos de tédio e banalidade - por masmorras do cotidiano presas em estase, como shoppings, apartamentos, escritórios e indústrias, espaços liminares desprovidos de qualquer alma viva.
Silver Case é sobre transitar nestes espaços, tatear as paredes de Tokyo-24, habitar essas zonas solitárias. Sobre processo, bater em centenas de portas, investigar cada porta e gaveta e email a troco de nada. Sobre rotina, acordar na mesma cama centenas de vezes, ir e voltar pra casa, ir ao bar de vez em quando ou bater um papo com sua tartaruga. E claro, sobre conversar com gente esquisita que fala engraçado e me faz sentir constantemente apequenado diante do turbilhão nonsense - não precisa fazer sentido.
Foi confuso e muitas vezes entediante ao ponto do sono. Estou vendido. Silver Case tem a soberba, a panache e o espírito irreverente que fica gravado na memória muito mais do que uma historinha bem amarrada. Daqui uns anos, eu posso não lembrar o nome de ninguém do jogo, mas pode saber que vou lembrar como era transitar as ruas e condomínios da cidade, e daquela vez que tive que tocar na porta de 20 apartamentos mais de uma vez na mesma missão, ou da forma deliciosamente bizonha que todo mundo conversa, da sonoplastia icônica e saborosa que cada transição de cena tem, ou da foto da lua com palavras malucas que sempre aparece no final de cada capitulo… Caralho… Que trilha sonora foda, irmão… Today’s WORD phrase is…
"BELIEVE IN THE NET"
A primeira impressão é a que importa e a que fica: duvido que jogarei tão cedo alguma VN que consiga desafiar esta em sua apresentação. Menus dinâmicos, janelas voando, trocando de forma, o fundo em fluxo constante - é o sonho estético de todo mundo que tenta representar uma ‘websfera’ dos anos 2000. Ainda que superficial, vejo este fator como extremamente importante no meu aproveitamento da obra, já que é uma execução fantástica como essa que romantiza e confere personalidade a um ato que não é muito diferente do de passar slides - só o barulhinho modular do texto conforme você apertar um botão ou outro já é uma coisa que deixa tão mais gostoso de se ler.
Não que eu queira reduzir Silver Case à uma VN tradicional: uma enorme parcela do jogo envolve um dungeon crawl - livre de estados de falha e cheia de momentos de tédio e banalidade - por masmorras do cotidiano presas em estase, como shoppings, apartamentos, escritórios e indústrias, espaços liminares desprovidos de qualquer alma viva.
Silver Case é sobre transitar nestes espaços, tatear as paredes de Tokyo-24, habitar essas zonas solitárias. Sobre processo, bater em centenas de portas, investigar cada porta e gaveta e email a troco de nada. Sobre rotina, acordar na mesma cama centenas de vezes, ir e voltar pra casa, ir ao bar de vez em quando ou bater um papo com sua tartaruga. E claro, sobre conversar com gente esquisita que fala engraçado e me faz sentir constantemente apequenado diante do turbilhão nonsense - não precisa fazer sentido.
Foi confuso e muitas vezes entediante ao ponto do sono. Estou vendido. Silver Case tem a soberba, a panache e o espírito irreverente que fica gravado na memória muito mais do que uma historinha bem amarrada. Daqui uns anos, eu posso não lembrar o nome de ninguém do jogo, mas pode saber que vou lembrar como era transitar as ruas e condomínios da cidade, e daquela vez que tive que tocar na porta de 20 apartamentos mais de uma vez na mesma missão, ou da forma deliciosamente bizonha que todo mundo conversa, da sonoplastia icônica e saborosa que cada transição de cena tem, ou da foto da lua com palavras malucas que sempre aparece no final de cada capitulo… Caralho… Que trilha sonora foda, irmão… Today’s WORD phrase is…
"BELIEVE IN THE NET"
2006
Mother 3 é uma anomalia para o modus operandi da Nintendo: sua tonalidade multifacetada, seu levantamento de temas *sérios* e sua mensagem anti-capitalista e profundamente simpatética da natureza humana são os tipos de problemas cujo quais a empresa gostaria de se afastar - irônico e profético por parte da obra de Shigesato Itoi.
De cara, já se nota que o tempo, tecnologia e maturidade fizeram muito bem à série: Mother 3 é maior e melhor que Earthbound em todos os aspectos, e carrega uma gravidade muito mais intensa ao redor de tudo que tem pra falar - é impressionante como que uma história que em quase todos os momentos está trilhando (isso implicaria cautela, está mais para sambando) uma linha tênue entre o nonsense engraçado e um desespero crescente e infreável consegue rapidamente se organizar em momentos de verdadeira intensidade dramática. Infelizmente, muitas vezes não consegui pegar o ritmo desse vai-e-volta tão bem quanto o jogo tenta te guiar, e acabei achando que algumas vezes estava não me importando muito com o que o jogo julgava importante comunicar porque não fui efetivamente fisgado. Muita gente fala dos personagens, e de como eles são um grupo que fica no seu coração mesmo não sendo muito comunicativos, e infelizmente não senti isso. Lucas não pareceu muito diferente de Ness para mim, e a parte que de longe mais me engajou em relação aos personagens foi o começo fantástico com apenas Flint e Boney (que chamei de Charlie, em homenagem ao meu cachorro visualmente bem similar e tão capaz de violência quanto seu sósia digital). A urgência narrativa e a aura de mistério e agonia que permeia o primeiro capítulo, misturadas pela dinâmica - cliché, porém interessante - de um pai de família e seu fiel cachorro, culminando na tragédia final, foi um baque de qualidade de narrativa e apresentação que não estava preparado ao vir de Earthbound. Em geral, diria que gostei mais dos capítulos que brincam com a dinâmica do grupo, misturando perspectivas e personagens diferentes, e sinto que faltou mais disso no fim do jogo - embora entendo que alguma hora queriam o grupo todo junto para a aventura mais “clássica” de buscar as Sete Agulhas.
Como não estava muito investido no grupo, não esperava que o final seria para mim o estrondo que foi para a maioria das pessoas que falam dele. Estava parcialmente certo, porém admito que a situação vai apelando tanto pra situações desastrosas que pegam qualquer um com um coração (tragédia; tragédia envolvendo criança; drama familiar; exaustão; desespero diante da impotência) que acabei me emocionando bem mais que eu esperava - acho que se a relação entre os irmãos tivesse sido melhor explorada no começo (e.g. se tivessem um capítulo dos dois juntos tão bom quanto o de Flint e Boney) eu teria caído em prantos no final.
No fim, não fui fisgado emocionalmente como muita gente foi, e isso me entristece um pouco. Ainda assim, consigo apreciar suas qualidades, e vejo aqui uma obra de calibre grosso, que sabe como pouquíssimos jogos ser engraçada (quiçá o jogo que mais me provocou risinhos), triste, cheia de coração e originalidade, sem precisar esconder os dentes diante de uma mensagem política que pouquíssimos jogos tem coragem de contar, muito menos com tanto tato. É tragicamente lindo que este seja o último jogo de Itoi.
Eu não consegui um combo maior do que 6, mas é culpa do emulador, eu juro.
De cara, já se nota que o tempo, tecnologia e maturidade fizeram muito bem à série: Mother 3 é maior e melhor que Earthbound em todos os aspectos, e carrega uma gravidade muito mais intensa ao redor de tudo que tem pra falar - é impressionante como que uma história que em quase todos os momentos está trilhando (isso implicaria cautela, está mais para sambando) uma linha tênue entre o nonsense engraçado e um desespero crescente e infreável consegue rapidamente se organizar em momentos de verdadeira intensidade dramática. Infelizmente, muitas vezes não consegui pegar o ritmo desse vai-e-volta tão bem quanto o jogo tenta te guiar, e acabei achando que algumas vezes estava não me importando muito com o que o jogo julgava importante comunicar porque não fui efetivamente fisgado. Muita gente fala dos personagens, e de como eles são um grupo que fica no seu coração mesmo não sendo muito comunicativos, e infelizmente não senti isso. Lucas não pareceu muito diferente de Ness para mim, e a parte que de longe mais me engajou em relação aos personagens foi o começo fantástico com apenas Flint e Boney (que chamei de Charlie, em homenagem ao meu cachorro visualmente bem similar e tão capaz de violência quanto seu sósia digital). A urgência narrativa e a aura de mistério e agonia que permeia o primeiro capítulo, misturadas pela dinâmica - cliché, porém interessante - de um pai de família e seu fiel cachorro, culminando na tragédia final, foi um baque de qualidade de narrativa e apresentação que não estava preparado ao vir de Earthbound. Em geral, diria que gostei mais dos capítulos que brincam com a dinâmica do grupo, misturando perspectivas e personagens diferentes, e sinto que faltou mais disso no fim do jogo - embora entendo que alguma hora queriam o grupo todo junto para a aventura mais “clássica” de buscar as Sete Agulhas.
Como não estava muito investido no grupo, não esperava que o final seria para mim o estrondo que foi para a maioria das pessoas que falam dele. Estava parcialmente certo, porém admito que a situação vai apelando tanto pra situações desastrosas que pegam qualquer um com um coração (tragédia; tragédia envolvendo criança; drama familiar; exaustão; desespero diante da impotência) que acabei me emocionando bem mais que eu esperava - acho que se a relação entre os irmãos tivesse sido melhor explorada no começo (e.g. se tivessem um capítulo dos dois juntos tão bom quanto o de Flint e Boney) eu teria caído em prantos no final.
No fim, não fui fisgado emocionalmente como muita gente foi, e isso me entristece um pouco. Ainda assim, consigo apreciar suas qualidades, e vejo aqui uma obra de calibre grosso, que sabe como pouquíssimos jogos ser engraçada (quiçá o jogo que mais me provocou risinhos), triste, cheia de coração e originalidade, sem precisar esconder os dentes diante de uma mensagem política que pouquíssimos jogos tem coragem de contar, muito menos com tanto tato. É tragicamente lindo que este seja o último jogo de Itoi.
Eu não consegui um combo maior do que 6, mas é culpa do emulador, eu juro.
2022
Carnificina rítimica: uma série de mecânicas pequena, mas robusta, que as põe para trablhar em conjunto com o intuito de criar um loop instigante de pequenas decisões imediatas - basicamente, por alguns momentos, é o ideal platônico de fluxo em gameplay que muitos jogos de ação/arcade buscam. Rollerdrome, em ideia, é brabo assim. Na prática, porém, senti que faltou um encaixe melhor no papel de skill moves no todo - executá-las é vezes divertido, vezes irritante, e engajar com o sistema não é tão recompensante quanto o esforço de ocupar RAM cerebral com as receitas de manobra durante o tiroteio.
Infelizmente, insiste contra sua própria forma através de meta-objetivos diversos e conflitantes - você quer jogar pela diversão, pelo score, ou pra passar de fase? Idealmente, essas respostas viriam da mesma via: tudo ao mesmo tempo. O jogo, porém, te bota pra jogar de formas bem distintas conforme o objetivo, com a liberação de novas fases sendo dependentes de desafios que provocam repetição desnecessária e quebra do fluxo do jogo - até fazer pazes com tudo que precisava pra liberar a fase final, não estava me aproveitando. Cortar itens de uma lista semi-arbitrária é uma melodia muito oposta ao ritmo frenético da arena.
Por trás das arenas, um pano de fundo de uma distopia fascista aparece exatamente o quanto precisa para estabelecer um tom aterrador à toda a razão da sua personagem de engajar nessa furada. Felizmente, por enquanto, o esporte de patins ao alvo segue sendo fictício, e instrumentalização de violência corporal como entretenimento é apenas uma noção fantasiosa. Lacradas à parte; é um bom jogo se você é desses nerds que gostam de platinar S-rank todas as fases de olhos vendados.
Infelizmente, insiste contra sua própria forma através de meta-objetivos diversos e conflitantes - você quer jogar pela diversão, pelo score, ou pra passar de fase? Idealmente, essas respostas viriam da mesma via: tudo ao mesmo tempo. O jogo, porém, te bota pra jogar de formas bem distintas conforme o objetivo, com a liberação de novas fases sendo dependentes de desafios que provocam repetição desnecessária e quebra do fluxo do jogo - até fazer pazes com tudo que precisava pra liberar a fase final, não estava me aproveitando. Cortar itens de uma lista semi-arbitrária é uma melodia muito oposta ao ritmo frenético da arena.
Por trás das arenas, um pano de fundo de uma distopia fascista aparece exatamente o quanto precisa para estabelecer um tom aterrador à toda a razão da sua personagem de engajar nessa furada. Felizmente, por enquanto, o esporte de patins ao alvo segue sendo fictício, e instrumentalização de violência corporal como entretenimento é apenas uma noção fantasiosa. Lacradas à parte; é um bom jogo se você é desses nerds que gostam de platinar S-rank todas as fases de olhos vendados.
2018
Muito se fala como videogames estão presos em um estágio ainda juvenil: quando se trata de blockbusters, o consenso é que a cinematografia não é tão boa quanto a dos melhores filmes, que a prosa não é tão boa quanto a dos melhores livros; que a mídia, como um coletivo, incerta de como seguir para a frente, e fortemente desencorajada por investidores que não querem perder seus milhões, apenas tenta emular as grandes histórias, subir nos ombros dos gigantes de artes mais antigas, estabelecidas. God of War não é muito diferente, e emula de fórmulas vencedoras até dentro dos próprios jogos - o infame jogo da Sony com um protagonista adulto e sua criança; sistema de equipamentos altamente numérico; crafting regado por dezenas de recursos chatos de se acompanhar - tá tudo aqui, marcando presença. Como, então, borbulhando numa poça de desoringinalidades, God of War consegue ser tão cativante?
A primeira resposta encontro no espetáculo - God of War tem orçamento de AAA, e sabe usá-lo. Anteriormente, a série gastava seus maços de dinheiro nos feitos heróicos de Kratos, set pieces bombásticas e gratuitamente violentas que fizeram a fama e infâmia do jogo. Agora, ainda que ainda tenhamos as set pieces bombásticas, prefere gastá-lo em paisagens majestosas, ótimas performances dos atores, e, principalmente, um tempero cinemático que, por mais que goste de ter birra contra jogos que tentam ser filmes, aqui admito que me pegou de jeito. A câmera contínua seguindo Kratos é um feito tecnológico que não parou de me impressionar em momento algum, e, ao se unir ao diálogo quase sempre fluido, passa uma sensação de dinamismo e progresso sem fim para a narrativa. As amarras que te lembram que isso é um jogo são, nestes momentos, cada vez mais finas - um argumento que pode ser polêmico, já que se um jogo é cada vez menos identificável como um, o que está tentando ser então?
Entretanto, é na segunda resposta que God of War mantém que jogo aqui tem, e muito. Ao começar o jogo, esperava já pela experiência cinemática, set pieces exageradas, dinâmicas de pai traumatizado e filho acuado, animações carnudas; todo o marketing eu já conhecia. O que eu não esperava era um sistema de combate surpreendentemente robusto, divertido, e que junto dele viria um design de encontros que costumava muito mais ser bem bom do que ruim, além de uns puzzles opcionais não tão complicados, jogando diretamente pro nível em que meu intelecto de lagartixa acha engajante e não óbvio. Além disso, achei bem divertida a forma em que o jogo flutua entre videogame e história séria para adultos sérios, a dicotomia cômica entre esses momentos deixando claro de que esta nova entrada, ainda que um reboot tonal e mecânico, nunca esqueceu das suas origens mais toscas. Porém, todavia, entretanto, nem tudo são flores: sistemas de crafting e masturbação numérica com nível de equipamento e de inimigos são algo que God of War absolutamente não precisa - a mitologia de Kratos não comporta o tipo de personagem que deveria ficar trocando de cinto para ganhar +3% de attack affinity. Existir um “Kratos Lvl 1” que morre num golpe para um capanga Lvl 6 é antitético à tudo que o personagem representa e como ele se apresenta, um sintoma claro do problema de jogos AAA que precisam “render seu tempo”: estes sistemas são a forma mais fácil de encher o conteúdo opcional de prêmios que dêem uma sensação de progresso ao jogador. Existe o argumento de que esse lado do jogo pode ser majoritariamente ignorado - pra que está aqui então? O jogo tem um problema notável com repetição: muitos inimigos são repetidos, especialmente os “chefes”, o que acaba tornando com que momentos antes especiais sejam reciclados em momentos cada vez menos especiais, ainda que mecanicamente se mantenham interessantes. Essa repetição, em conjunto com o pacing turbulento da narrativa - há muito de fazer algo pra descobrir que não serviu pra nada - me faz pensar que algumas peças poderiam ser rearranjadas melhor, ou que o jogo poderia ser menor, e nisso ter focado mais no que é único.
A terceira resposta, e a que mais me convence, é o melodrama. Jogos, pelo bem ou pelo mal, ainda se aproveitam do melodrama como ninguém. Nunca argumentaria que um Metal Gear Solid é tão bem escrito quanto as melhores novelas que li - pelo contrário, a qualidade do diálogo de Hideo Kojima é consistentemente abismal. Ainda assim, te digo que as mais toscas frases da série me fizeram sentir mais do que dezenas de clássicos que li e vi. Te digo que existe algo universal, um miasma invisível de “dudes rock”, uma cifra secreta para o deslanchar de uma cachoeira emocional que imediatamente ativa quando você vê o homem maneiro dos videogames, até então colosso e herói de ação, demonstrar vulnerabilidade. Há algo no melodrama, no “camp”, que despe todas as pretensões e nos toca na carne, sem intermediários. Quando vejo Snake de luto ao som de um clássico do rock, ou quando vejo Kratos remoer o seu passado de uma forma tão na cara, tão “forçada”, e assim descaradamente nua em sua tentativa, sinto com força - pego por um momento de surpresa que tenta se forçar como emocionante, me emociono - e não acho que estou sozinho nisso.
God of War não reinventa a roda e se cobre numa camada nada saudável dos sistemas mais cansados dos jogos AAA modernos. Não obstante, em um verdadeiro espanco de alma, bom design, ótimas performances e altíssimo orçamento, sabe ressuscitar com os louros um fantasma do passado e torná-lo maior e mais inteiro do que jamais foi, sem abdicar nem um pouco da magia tão deliciosamente boboca que fazem os jogos serem esta arte tão fantástica.
A primeira resposta encontro no espetáculo - God of War tem orçamento de AAA, e sabe usá-lo. Anteriormente, a série gastava seus maços de dinheiro nos feitos heróicos de Kratos, set pieces bombásticas e gratuitamente violentas que fizeram a fama e infâmia do jogo. Agora, ainda que ainda tenhamos as set pieces bombásticas, prefere gastá-lo em paisagens majestosas, ótimas performances dos atores, e, principalmente, um tempero cinemático que, por mais que goste de ter birra contra jogos que tentam ser filmes, aqui admito que me pegou de jeito. A câmera contínua seguindo Kratos é um feito tecnológico que não parou de me impressionar em momento algum, e, ao se unir ao diálogo quase sempre fluido, passa uma sensação de dinamismo e progresso sem fim para a narrativa. As amarras que te lembram que isso é um jogo são, nestes momentos, cada vez mais finas - um argumento que pode ser polêmico, já que se um jogo é cada vez menos identificável como um, o que está tentando ser então?
Entretanto, é na segunda resposta que God of War mantém que jogo aqui tem, e muito. Ao começar o jogo, esperava já pela experiência cinemática, set pieces exageradas, dinâmicas de pai traumatizado e filho acuado, animações carnudas; todo o marketing eu já conhecia. O que eu não esperava era um sistema de combate surpreendentemente robusto, divertido, e que junto dele viria um design de encontros que costumava muito mais ser bem bom do que ruim, além de uns puzzles opcionais não tão complicados, jogando diretamente pro nível em que meu intelecto de lagartixa acha engajante e não óbvio. Além disso, achei bem divertida a forma em que o jogo flutua entre videogame e história séria para adultos sérios, a dicotomia cômica entre esses momentos deixando claro de que esta nova entrada, ainda que um reboot tonal e mecânico, nunca esqueceu das suas origens mais toscas. Porém, todavia, entretanto, nem tudo são flores: sistemas de crafting e masturbação numérica com nível de equipamento e de inimigos são algo que God of War absolutamente não precisa - a mitologia de Kratos não comporta o tipo de personagem que deveria ficar trocando de cinto para ganhar +3% de attack affinity. Existir um “Kratos Lvl 1” que morre num golpe para um capanga Lvl 6 é antitético à tudo que o personagem representa e como ele se apresenta, um sintoma claro do problema de jogos AAA que precisam “render seu tempo”: estes sistemas são a forma mais fácil de encher o conteúdo opcional de prêmios que dêem uma sensação de progresso ao jogador. Existe o argumento de que esse lado do jogo pode ser majoritariamente ignorado - pra que está aqui então? O jogo tem um problema notável com repetição: muitos inimigos são repetidos, especialmente os “chefes”, o que acaba tornando com que momentos antes especiais sejam reciclados em momentos cada vez menos especiais, ainda que mecanicamente se mantenham interessantes. Essa repetição, em conjunto com o pacing turbulento da narrativa - há muito de fazer algo pra descobrir que não serviu pra nada - me faz pensar que algumas peças poderiam ser rearranjadas melhor, ou que o jogo poderia ser menor, e nisso ter focado mais no que é único.
A terceira resposta, e a que mais me convence, é o melodrama. Jogos, pelo bem ou pelo mal, ainda se aproveitam do melodrama como ninguém. Nunca argumentaria que um Metal Gear Solid é tão bem escrito quanto as melhores novelas que li - pelo contrário, a qualidade do diálogo de Hideo Kojima é consistentemente abismal. Ainda assim, te digo que as mais toscas frases da série me fizeram sentir mais do que dezenas de clássicos que li e vi. Te digo que existe algo universal, um miasma invisível de “dudes rock”, uma cifra secreta para o deslanchar de uma cachoeira emocional que imediatamente ativa quando você vê o homem maneiro dos videogames, até então colosso e herói de ação, demonstrar vulnerabilidade. Há algo no melodrama, no “camp”, que despe todas as pretensões e nos toca na carne, sem intermediários. Quando vejo Snake de luto ao som de um clássico do rock, ou quando vejo Kratos remoer o seu passado de uma forma tão na cara, tão “forçada”, e assim descaradamente nua em sua tentativa, sinto com força - pego por um momento de surpresa que tenta se forçar como emocionante, me emociono - e não acho que estou sozinho nisso.
God of War não reinventa a roda e se cobre numa camada nada saudável dos sistemas mais cansados dos jogos AAA modernos. Não obstante, em um verdadeiro espanco de alma, bom design, ótimas performances e altíssimo orçamento, sabe ressuscitar com os louros um fantasma do passado e torná-lo maior e mais inteiro do que jamais foi, sem abdicar nem um pouco da magia tão deliciosamente boboca que fazem os jogos serem esta arte tão fantástica.
Se alguém acredita em algum tipo de ciência exata ou metodologia para o ato de resenhar, aqui lhe apresento um pesadelo: um remaster de um jogo que já joguei, cujo qual tenho tenras memórias em minha formativa adolescência, e que possui uma sequel que é tematicamente, narrativamente e mecanicamente muito similar. Deixo avisado aos puristas da arte de falar abobrinha sobre videogames que irei comparar Replicant ver 1.22 com o antigo, com o Automata, com as minhas memórias adolescentes do original, com ele mesmo e com o que mais der na telha.
Começamos pela história (a minha, no caso): como que um garoto de 13 anos no Brasil colocou as mãos em Nier pra Xbox 360? A sequência de decisões que me fez colocar esse jogo pra completar o frete da compra da Amazon da minha mãe não está mais presente no meu HD, mas o que importa é que tive contato com um JRPG nicho do Yoko Taro em uma época muito influenciável da minha vida. Sua estrutura maluca, personagens bizarros e música arrebatadora me pegaram de cara, e o jogo me inspirou de formas que sem dúvidas reverberam até hoje - quem sabe, e acho bem provável que, não fosse por Nier, não teria tomado tanto um gosto por jogos como forma de contar histórias.
Revisitar este jogo, portanto, é um exercício mental com mais camadas de cebola a descascar do que uma história do Yoko Taro - se bobear, vou ter que relegar partes do conteúdo dessa entrada para algumas light novels ou peças de teatro. Os primeiros passos no mundo de Replicant - igualzinho o que eu mantinha em minha memória, não obstante a cara nova - foram um passeio emocionante. A música por si só (não me importam os remixes) é um anzol que me puxa de volta instantaneamente. Me diverti com a vibe confusa, low stakes e ligeiramente depreciativa para com o jogador que a primeira parte do jogo tem. Ainda que hoje em dia tenhamos Automata, o Nier vovô já mostrava brilho que perpassa gêneros, sua narrativa explodia as dimensões do JRPG: quando precisava, virava visual novel, bullet hell, ARPG, sidescroller, e até ousava brincar de Resident Evil mega low budget por um pouquinho. Nem tudo cola, mas essa criatividade e ousadia, além de admirável, torna do jogo um universo extenso de opções: você não tem ideia do que tem na próxima esquina. E é na execução desta expectativa que o jogo te falha.
Os dois jogos Nier tem a fama dos jogos que você “precisa zerar mais de uma vez”. O original inventou a moda; um ato que representava em partes iguais um comentário transgressivo, uma necessidade de aumentar artificialmente o jogo, e uma forma muito interessante de contar uma história. Automata, por vez, aprendeu as lições que deveria: toda vez que você repete conteúdo, ele vem de uma perspectiva genuinamente inédita e dotada de jogabilidade também inédita, narrativamente coerente - sem contar que essa repetição consta de uma fração pequena do jogo. Nier Replicant, por vez, não corrige nada da encheção de linguiça do original, e te faz repetir o mesmo conteúdo, da exata mesma forma, com a mesma jogabilidade, de duas a quatro vezes. Diria que das minhas 28 horas com o jogo, quiçá 12h foram conteúdo inédito, em qualquer forma. Tudo isso em troca de algumas cutscenes, imagens e textos a mais. As repetições além da primeira não contribuem em nada para a história - são apenas gordura desnecessária, relíquia de um tempo onde jogos tinham que “fazer render”. O fato de que o pessoal do remake teve a capacidade de adicionar um final extra com bastante conteúdo inédito e não puderam colapsar as rota B, C e D em uma só pra mim representa uma falha de oportunidade no ato de refazer o jogo como uma versão melhor de si mesmo - pior ainda, te fizeram rejogar mais uma parte do jogo sem nem um átomo de variação para poder acessar o novo e brilhante True Ending, que sozinho, em 40 minutos, tem mais material inédito do que todas as outras rotas juntas.
Num mundo ideal, a rota B, C e D do jogo, que representam as perspectivas de Emil e Kainé, seriam jogáveis de fato através de suas perspectivas, assim como fazemos com o 9S em Automata. O público anseia por jogar com o Emil, caramba. Entendo que isso foi impossível no original, mas no remake certamente era uma possibilidade. Há o argumento de que, embora Nier Replicant v1.22 não seja Nier Replicant (2011), este remake é um que efetivamente substitui o original, não mais acessível por vias lícitas, e portanto é de um interesse e respeito historiográfico manter o jogo o mais próximo o possível do original. Se for este o caso, respeito a decisão. Ainda assim, o simples ato de simplificar as rotas do jogo em apenas A, B e C seria de enorme benefício para o ritmo da narrativa: a história não é melhor e mais emocionante porque eu zerei o mesmo jogo quatro vezes, duas delas seguindo strats de speedrun e pulando todas cutscenes.
Os problemas estruturais exacerbam a escrita de Yoko Taro, para o pior: os personagens secundários, inicialmente rasos, indagam a cada loop uma promessa de maior profundidade, que nunca chega; e rever várias vezes a mesma história te faz olhar mais friamente para aquilo que inicialmente era muito eficiente em te provocar emocionalmente, e buracos começam a aparecer. Sinto que a escrita de Yoko Taro é dotada e amaldiçoada por uma mistura de simplicidade e desprezo adolescente, sempre efervescente, o que a faz funcionar muito melhor quando se trata de robôzinhos emulando o ser humano em Automata, do que quando tenta representar pessoas de verdade em Replicant. As sub-histórias de Nier, em seu melhor, são fábulas e contos que formam a poesia estrutural dos mundos de Yoko Taro. Porém, em contraste com as histórias de Kainé e de Emil, não possuem carne o suficiente para justificar o holofote, e quando se ligam diretamente ao resto da história, as fazem de forma que parece repentina e não satisfatória - que porra esse pessoal tá fazendo aqui? Ainda assim, não nego o apelo emocional quando ele funciona: me dá agonia pensar em Facade e nos irmãos do Junk Heap, e no ciclo de violência trágico em que estão presos, um tema refletido muito bem no conflito central da história.
A narrativa central, ainda que não livre dos defeitos acima citados, tem um cerne muito forte: a versão da clássica party do JRPG em Nier é uma das melhores que se tem, um trio de deslocados (e aqui o papai Nier encaixa muito melhor do que o agora canônico oni-chan Nier), cada um mais bizarro que o outro, criando um pertencimento único entre si, e uma amizade que parece genuína - todos eles precisam de si para viver. Nunca me importei pela Yonah catarrenta, e sim muito mais pela busca de seus dois companheiros por pertencimento: tivesse mais orçamento o Nier original, tenho certeza que esse aspecto do jogo teria sido mais explorado. De resto, duas coisas preciso deixar dito:
- O Emil merecia uma rota (se não um jogo inteiro) só pra ele.
- Em pleno 2023, a roupa da Kainé é intankável. Um enorme defeito na personagem mais bem escrita do jogo, e uma verdadeira vergonha - provavelmente um dos maiores problemas do jogo, honestamente. Ridículo e masturbatório no mais alto grau, para enorme detrimento de sua representação.
Pra quem já leu até aqui, fica claro que compro um lado no debate de remake/remaster: se mudou todo o combate e adicionou grandes sessões de conteúdo original com sistemas novos, já deixou de ser mero remaster, e nada que peço aqui extrapola essa ótica. Vou chamar de remake.
Apesar dos apesares, ainda é Nier. Não há nenhum jogo como ele, nem mesmo os Drakengard ou oindiscutivelmente superior Nier Automata. Se todos os jogos tivessem o tanto de ousadia, espírito e humanidade que esse aqui tem, não haveriam mais conflitos no mundo. Sempre estará no meu coração, e tenho orgulho de como influenciou a minha relação com arte. Um verdadeiro marco na história do gênero e da mídia, dessa vez com uma carinha nova que não tenta esconder nenhum de seus defeitos. Nem pra colocar um casaquinho na Kainé?
Começamos pela história (a minha, no caso): como que um garoto de 13 anos no Brasil colocou as mãos em Nier pra Xbox 360? A sequência de decisões que me fez colocar esse jogo pra completar o frete da compra da Amazon da minha mãe não está mais presente no meu HD, mas o que importa é que tive contato com um JRPG nicho do Yoko Taro em uma época muito influenciável da minha vida. Sua estrutura maluca, personagens bizarros e música arrebatadora me pegaram de cara, e o jogo me inspirou de formas que sem dúvidas reverberam até hoje - quem sabe, e acho bem provável que, não fosse por Nier, não teria tomado tanto um gosto por jogos como forma de contar histórias.
Revisitar este jogo, portanto, é um exercício mental com mais camadas de cebola a descascar do que uma história do Yoko Taro - se bobear, vou ter que relegar partes do conteúdo dessa entrada para algumas light novels ou peças de teatro. Os primeiros passos no mundo de Replicant - igualzinho o que eu mantinha em minha memória, não obstante a cara nova - foram um passeio emocionante. A música por si só (não me importam os remixes) é um anzol que me puxa de volta instantaneamente. Me diverti com a vibe confusa, low stakes e ligeiramente depreciativa para com o jogador que a primeira parte do jogo tem. Ainda que hoje em dia tenhamos Automata, o Nier vovô já mostrava brilho que perpassa gêneros, sua narrativa explodia as dimensões do JRPG: quando precisava, virava visual novel, bullet hell, ARPG, sidescroller, e até ousava brincar de Resident Evil mega low budget por um pouquinho. Nem tudo cola, mas essa criatividade e ousadia, além de admirável, torna do jogo um universo extenso de opções: você não tem ideia do que tem na próxima esquina. E é na execução desta expectativa que o jogo te falha.
Os dois jogos Nier tem a fama dos jogos que você “precisa zerar mais de uma vez”. O original inventou a moda; um ato que representava em partes iguais um comentário transgressivo, uma necessidade de aumentar artificialmente o jogo, e uma forma muito interessante de contar uma história. Automata, por vez, aprendeu as lições que deveria: toda vez que você repete conteúdo, ele vem de uma perspectiva genuinamente inédita e dotada de jogabilidade também inédita, narrativamente coerente - sem contar que essa repetição consta de uma fração pequena do jogo. Nier Replicant, por vez, não corrige nada da encheção de linguiça do original, e te faz repetir o mesmo conteúdo, da exata mesma forma, com a mesma jogabilidade, de duas a quatro vezes. Diria que das minhas 28 horas com o jogo, quiçá 12h foram conteúdo inédito, em qualquer forma. Tudo isso em troca de algumas cutscenes, imagens e textos a mais. As repetições além da primeira não contribuem em nada para a história - são apenas gordura desnecessária, relíquia de um tempo onde jogos tinham que “fazer render”. O fato de que o pessoal do remake teve a capacidade de adicionar um final extra com bastante conteúdo inédito e não puderam colapsar as rota B, C e D em uma só pra mim representa uma falha de oportunidade no ato de refazer o jogo como uma versão melhor de si mesmo - pior ainda, te fizeram rejogar mais uma parte do jogo sem nem um átomo de variação para poder acessar o novo e brilhante True Ending, que sozinho, em 40 minutos, tem mais material inédito do que todas as outras rotas juntas.
Num mundo ideal, a rota B, C e D do jogo, que representam as perspectivas de Emil e Kainé, seriam jogáveis de fato através de suas perspectivas, assim como fazemos com o 9S em Automata. O público anseia por jogar com o Emil, caramba. Entendo que isso foi impossível no original, mas no remake certamente era uma possibilidade. Há o argumento de que, embora Nier Replicant v1.22 não seja Nier Replicant (2011), este remake é um que efetivamente substitui o original, não mais acessível por vias lícitas, e portanto é de um interesse e respeito historiográfico manter o jogo o mais próximo o possível do original. Se for este o caso, respeito a decisão. Ainda assim, o simples ato de simplificar as rotas do jogo em apenas A, B e C seria de enorme benefício para o ritmo da narrativa: a história não é melhor e mais emocionante porque eu zerei o mesmo jogo quatro vezes, duas delas seguindo strats de speedrun e pulando todas cutscenes.
Os problemas estruturais exacerbam a escrita de Yoko Taro, para o pior: os personagens secundários, inicialmente rasos, indagam a cada loop uma promessa de maior profundidade, que nunca chega; e rever várias vezes a mesma história te faz olhar mais friamente para aquilo que inicialmente era muito eficiente em te provocar emocionalmente, e buracos começam a aparecer. Sinto que a escrita de Yoko Taro é dotada e amaldiçoada por uma mistura de simplicidade e desprezo adolescente, sempre efervescente, o que a faz funcionar muito melhor quando se trata de robôzinhos emulando o ser humano em Automata, do que quando tenta representar pessoas de verdade em Replicant. As sub-histórias de Nier, em seu melhor, são fábulas e contos que formam a poesia estrutural dos mundos de Yoko Taro. Porém, em contraste com as histórias de Kainé e de Emil, não possuem carne o suficiente para justificar o holofote, e quando se ligam diretamente ao resto da história, as fazem de forma que parece repentina e não satisfatória - que porra esse pessoal tá fazendo aqui? Ainda assim, não nego o apelo emocional quando ele funciona: me dá agonia pensar em Facade e nos irmãos do Junk Heap, e no ciclo de violência trágico em que estão presos, um tema refletido muito bem no conflito central da história.
A narrativa central, ainda que não livre dos defeitos acima citados, tem um cerne muito forte: a versão da clássica party do JRPG em Nier é uma das melhores que se tem, um trio de deslocados (e aqui o papai Nier encaixa muito melhor do que o agora canônico oni-chan Nier), cada um mais bizarro que o outro, criando um pertencimento único entre si, e uma amizade que parece genuína - todos eles precisam de si para viver. Nunca me importei pela Yonah catarrenta, e sim muito mais pela busca de seus dois companheiros por pertencimento: tivesse mais orçamento o Nier original, tenho certeza que esse aspecto do jogo teria sido mais explorado. De resto, duas coisas preciso deixar dito:
- O Emil merecia uma rota (se não um jogo inteiro) só pra ele.
- Em pleno 2023, a roupa da Kainé é intankável. Um enorme defeito na personagem mais bem escrita do jogo, e uma verdadeira vergonha - provavelmente um dos maiores problemas do jogo, honestamente. Ridículo e masturbatório no mais alto grau, para enorme detrimento de sua representação.
Pra quem já leu até aqui, fica claro que compro um lado no debate de remake/remaster: se mudou todo o combate e adicionou grandes sessões de conteúdo original com sistemas novos, já deixou de ser mero remaster, e nada que peço aqui extrapola essa ótica. Vou chamar de remake.
Apesar dos apesares, ainda é Nier. Não há nenhum jogo como ele, nem mesmo os Drakengard ou o
2020
Umurangi é sobre ser o último a ver o mundo morrer, apagar as luzes antes de sair. O verbo é ver, literalmente, pois o que podemos fazer é apenas presenciar e registrar, em filmes que ninguém verá. O plano de fundo toma inspiração muito clara e direta do Terceiro Impacto de Evangelion, com um vetor anti-colonialista havaiano dando uma direção política interessante ao fim do mundo que retratamos - os heróis e os vilões não são óbvios, e o fim sempre é uma bagunça. Diante da impotência, apenas nos resta viver: dançar, pintar, encontrar na comunidade uma euforia que acompanha e precede um luto contínuo - alguns já se foram, e o seu futuro não existe mais.
Ainda que não seja do tipo de vaguear por mundos digitais, me senti um pouco comprimido pelos objetivos rígidos de cada fase: tire X foto com Y lente. Sinto que foram colocados para guiar o seu olho por pontos de interesse, porém achei que, ligados a um timer e a alguns bugs no reconhecimento das fotos, distraem o jogador de absorver totalmente o ambiente e tirar as fotos que realmente quer tirar. Como tiramos essas fotos por dinheiro que não temos como gastar em funcionalidades de gameplay, há quiçá um certo comentário sobre como até no fim do mundo: a última geração ainda precisa de freela pra viver.
Quando se trata de fotografia, sou uma batata. Não entendo de composição, edição, lentes e boas práticas. Ainda assim, gosto de tirar fotos, especialmente quando consigo através delas capturar uma sensação, ou uma narrativa - ainda que através de um olho destreinado, com resultados porcos que muitas vezes só fazem sentido para mim. Umurangi Generation me deu um cenário cativante para fazer isso, e até me ensinou um pouquinho sobre como tirar fotos de um jeito em que ainda seja meu. O mundo deles pode ter morrido, mas fica nas minhas memórias e na galeria, desconfortavelmente enfiada no fundo de users\[username]\AppData\LocalLow\ORIGAME DIGITAL\Umurangi Generation. Imagina como foi achar isso no Steam Deck.
Ainda que não seja do tipo de vaguear por mundos digitais, me senti um pouco comprimido pelos objetivos rígidos de cada fase: tire X foto com Y lente. Sinto que foram colocados para guiar o seu olho por pontos de interesse, porém achei que, ligados a um timer e a alguns bugs no reconhecimento das fotos, distraem o jogador de absorver totalmente o ambiente e tirar as fotos que realmente quer tirar. Como tiramos essas fotos por dinheiro que não temos como gastar em funcionalidades de gameplay, há quiçá um certo comentário sobre como até no fim do mundo: a última geração ainda precisa de freela pra viver.
Quando se trata de fotografia, sou uma batata. Não entendo de composição, edição, lentes e boas práticas. Ainda assim, gosto de tirar fotos, especialmente quando consigo através delas capturar uma sensação, ou uma narrativa - ainda que através de um olho destreinado, com resultados porcos que muitas vezes só fazem sentido para mim. Umurangi Generation me deu um cenário cativante para fazer isso, e até me ensinou um pouquinho sobre como tirar fotos de um jeito em que ainda seja meu. O mundo deles pode ter morrido, mas fica nas minhas memórias e na galeria, desconfortavelmente enfiada no fundo de users\[username]\AppData\LocalLow\ORIGAME DIGITAL\Umurangi Generation. Imagina como foi achar isso no Steam Deck.