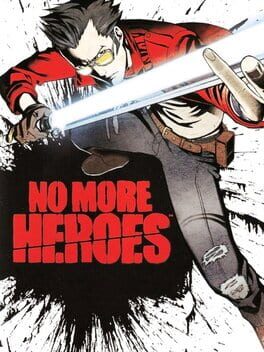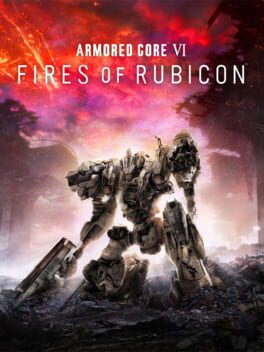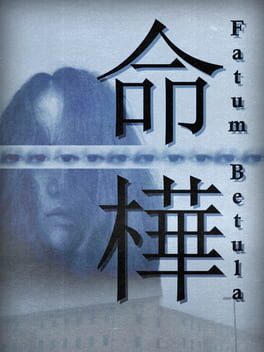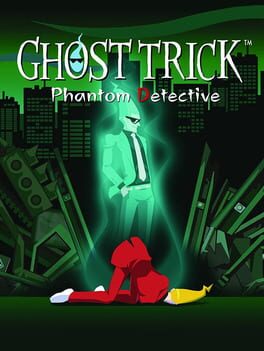saintfrog
2022
Em Pentiment, há uma grande preocupação em retratar a história com bastante verossimilitude: portando em seus créditos uma extensa bibliografia acadêmica de estudos medievais, trata datas, regiões, culturas e costumes com precisão impressionante e âmbito quase educativo. Acompanho o diretor Josh Sawyer faz um bom tempo, em seu trabalho e redes sociais, e sei como isso parte de um desejo que ele tem faz décadas de reproduzir um jogo historicamente acurado sobre a idade média. Entretanto, ao meu ver, a verossimilitude de Pentiment tem um outro objetivo, muito maior: mostrar que a história foi feita e vivida por pessoas como nós. Em todos seus atos, o jogo dialoga com essa noção em diversas formas, buscando mostrar como a história é algo não-estático, seu passado, presente e futuro em formação constante, correndo nos fundos da vida rotineira e gerada através dela.
Seja nos relógios e sinos que ditam sua rotina, no rápido passar de décadas que moldam as vidas do vilarejo, ou nos séculos e milênios que presenciam uma dança das cadeiras entre bávaros, romanos e cristãos, Pentiment humaniza a história através das lentes da passagem do tempo em diversas escalas: do partilhar do pão entre camponeses após um duro dia de trabalho à guerras de conquista e migrações de povos muito maiores (cronologicamente) do que uma única vida pode presenciar. Aqui, assim como na vida, o passar do tempo é melancólico, doloroso, curativo, formativo, e, acima de tudo, inexorável. O que Pentiment quer que você entenda é que, apesar disso, seja você romano de 500, bávaro cristão de 1500 ou brasileiro de 2022, somos todos o mesmo bicho, com os mesmos desejos e angústias. Não é atoa que o vilão da narrativa parece ter um objetivo contrário ao da própria, buscando diluir esta universalidade entre povos e reescrever a história de acordo com sua ideologia.
Assim como os aldeões de Tassing aprendem que os germânicos antes deles não pareciam os bárbaros que a igreja os pintavam como, Pentiment quer que você veja que as pessoas da idade média - e por proxy, os romanos e os índios e os bárbaros e árabes e por aí vai - eram muito mais similares à nós do que a mídia costuma insinuar. A qualidade do diálogo faz maravilhas para que você se sinta mais próximo dos habitantes de Tassing, produzindo, com uma quantidade modesta de texto, diversas icônicas personalidades a partir das complexidades mais rotineiras. O mesmo se estende para as suas opções de diálogo, que te permitem moldar uma personalidade única para seu protagonista apenas da forma que os melhores (Disco) CRPGs (Elysium) conseguem, porém ainda mantendo um cerne estático - uma premissa, pode-se dizer - forte o suficiente para que eles sejam as suas próprias pessoas, além de sua influência. Pentiment, até em seu momento mais mundano, consegue pesar meu peito com uma única frase ou até uma simples mudança de fonte. Meu único problema com o jogo é em como gamificado é o sistema de “convencimento”, composto por checks binários de condições bem estabelecidas. Talvez deixar um pouco mais desse sistema às escuras e à sorte resultaria em uma experiência ainda mais orgânica.
Seja em seu estilo artístico brilhantemente executado, no seu cuidado com a história, na sua narrativa e diálogos tão interessantes e próximos ao coração, ou nos pequenos toques de interface e sistema que te colocam mais dentro deste ponto na história, é claro que Pentiment só poderia ter saído de um trabalho de visão consistente e paixão contundente pelo que fala. Fico muito feliz que Josh Sawyer e sua equipe puderam, após décadas de trancos e barrancos do estúdio, entregar um produto que pudesse ser o que queriam que ele fosse, ainda que isso tenha ocorrido apenas pelas graças do barão Microsoft.
Seja nos relógios e sinos que ditam sua rotina, no rápido passar de décadas que moldam as vidas do vilarejo, ou nos séculos e milênios que presenciam uma dança das cadeiras entre bávaros, romanos e cristãos, Pentiment humaniza a história através das lentes da passagem do tempo em diversas escalas: do partilhar do pão entre camponeses após um duro dia de trabalho à guerras de conquista e migrações de povos muito maiores (cronologicamente) do que uma única vida pode presenciar. Aqui, assim como na vida, o passar do tempo é melancólico, doloroso, curativo, formativo, e, acima de tudo, inexorável. O que Pentiment quer que você entenda é que, apesar disso, seja você romano de 500, bávaro cristão de 1500 ou brasileiro de 2022, somos todos o mesmo bicho, com os mesmos desejos e angústias. Não é atoa que o vilão da narrativa parece ter um objetivo contrário ao da própria, buscando diluir esta universalidade entre povos e reescrever a história de acordo com sua ideologia.
Assim como os aldeões de Tassing aprendem que os germânicos antes deles não pareciam os bárbaros que a igreja os pintavam como, Pentiment quer que você veja que as pessoas da idade média - e por proxy, os romanos e os índios e os bárbaros e árabes e por aí vai - eram muito mais similares à nós do que a mídia costuma insinuar. A qualidade do diálogo faz maravilhas para que você se sinta mais próximo dos habitantes de Tassing, produzindo, com uma quantidade modesta de texto, diversas icônicas personalidades a partir das complexidades mais rotineiras. O mesmo se estende para as suas opções de diálogo, que te permitem moldar uma personalidade única para seu protagonista apenas da forma que os melhores (Disco) CRPGs (Elysium) conseguem, porém ainda mantendo um cerne estático - uma premissa, pode-se dizer - forte o suficiente para que eles sejam as suas próprias pessoas, além de sua influência. Pentiment, até em seu momento mais mundano, consegue pesar meu peito com uma única frase ou até uma simples mudança de fonte. Meu único problema com o jogo é em como gamificado é o sistema de “convencimento”, composto por checks binários de condições bem estabelecidas. Talvez deixar um pouco mais desse sistema às escuras e à sorte resultaria em uma experiência ainda mais orgânica.
Seja em seu estilo artístico brilhantemente executado, no seu cuidado com a história, na sua narrativa e diálogos tão interessantes e próximos ao coração, ou nos pequenos toques de interface e sistema que te colocam mais dentro deste ponto na história, é claro que Pentiment só poderia ter saído de um trabalho de visão consistente e paixão contundente pelo que fala. Fico muito feliz que Josh Sawyer e sua equipe puderam, após décadas de trancos e barrancos do estúdio, entregar um produto que pudesse ser o que queriam que ele fosse, ainda que isso tenha ocorrido apenas pelas graças do barão Microsoft.
2022
Tunic, cobrindo-se de simbologia nostálgica, ressignifica a experiência de seu gênero através de uma exploração genial sobre a comunicação jogador-jogo: escrita em uma linguagem própria, não só charmosamente remete aos tempos em que tinhamos que jogar jogos obtusos em línguas que não sabíamos, quanto usa disso para criar um enigmático trilho de migalhinhas de pão, induzindo mas nunca empurrando o jogador em uma aventura que lentamente descascará todas as camadas da cebola: segredos, geografia, narrativa, lore, mecânicas - nem o menu está a salvo da barragem de revelações a cada esquina.
Certamente obtuso em partes, especialmente se você quer alcançar o “True Ending”, o que Tunic fez de diferente para com que eu, famoso cérebro de lagartixa, me motivasse a tentar descobrir tudo sozinho? A resposta é dura para a concorrência: tudo. O jogo é lindo, bem polido, tem uma ótima trilha sonora. Aliando esses fatores com a supracitada trilha de migalhas, constante e bem pensada, que não me fez ousar abrir o Google e digitar “Tunic spoiler free tips reddit” pelas primeiras 14 horas, eu nunca tive vontade de nada além de seguir em frente. Pelo contrário, até depois do True Ending, ainda sinto vontade de me debruçar sobre seus mistérios até chegar no 100% - cada migalhinha restante, exponencialmente mais críptica, mantendo o gostinho na boca.
Não sei porque decidi começar a jogar Tunic - sua casca é uma isca que proclama o “indie Zelda com bichinho fofinho” #infinito - e fui surpreendido com uma das experiências mais divertidas, engajantes e profundas que tive em um bom tempo. No começo desta entrada não disse que Tunic reinventou o gênero de jogos de aventura, e sim entregou uma experiência que te faz apreciar cada pequeno detalhe que os compõem, e que, emulando o nostálgico, os dispunha para serem vistos com outros olhos. Em um tempo em que sempre busco pelo que um jogo está tentando falar, encontro um que ativamente rejeita palavras, e através disso transcende barreiras de linguagem, te reduzindo a sentir. Adorei.
Jogue sabendo o mínimo possível.
Certamente obtuso em partes, especialmente se você quer alcançar o “True Ending”, o que Tunic fez de diferente para com que eu, famoso cérebro de lagartixa, me motivasse a tentar descobrir tudo sozinho? A resposta é dura para a concorrência: tudo. O jogo é lindo, bem polido, tem uma ótima trilha sonora. Aliando esses fatores com a supracitada trilha de migalhas, constante e bem pensada, que não me fez ousar abrir o Google e digitar “Tunic spoiler free tips reddit” pelas primeiras 14 horas, eu nunca tive vontade de nada além de seguir em frente. Pelo contrário, até depois do True Ending, ainda sinto vontade de me debruçar sobre seus mistérios até chegar no 100% - cada migalhinha restante, exponencialmente mais críptica, mantendo o gostinho na boca.
Não sei porque decidi começar a jogar Tunic - sua casca é uma isca que proclama o “indie Zelda com bichinho fofinho” #infinito - e fui surpreendido com uma das experiências mais divertidas, engajantes e profundas que tive em um bom tempo. No começo desta entrada não disse que Tunic reinventou o gênero de jogos de aventura, e sim entregou uma experiência que te faz apreciar cada pequeno detalhe que os compõem, e que, emulando o nostálgico, os dispunha para serem vistos com outros olhos. Em um tempo em que sempre busco pelo que um jogo está tentando falar, encontro um que ativamente rejeita palavras, e através disso transcende barreiras de linguagem, te reduzindo a sentir. Adorei.
Jogue sabendo o mínimo possível.
2007
A qualidade mais punk de No More Heroes é, ironicamente, que ele te faz trabalhar: as várias horas gastas andando de moto num mundo mal feito ao ponto do insulto, balançando o Joy-con igual um idiota para pegar gatinhos, escorpiões ou limpar grafite, intercalado com sessões lucrativas do que transformei em fordismo de ultraviolencia, toda a labuta convertida no ingresso para uma dose de 15 minutos de nonsense depravado e combate repetitivo - admiro e me diverti em como o jogo me manteve do começo ao fim me sentindo um verdadeiro idiota por continuar jogando.
A escrita de Suda é irreverente, abrasiva, te convidando para rir da estupidez que é a violência e toda a cultura que a exalta, ainda que esteja participando com deleite da mesma. Infelizmente, senti que os momentos em que No More Heroes mais me tocou não ocorreram durante seus picos de adrenalina, incrementalmente mais irritantes e desagradáveis - de um jeito ruim - e sim em quão estúpido ele faz todo esse esforço parecer, intencionalmente ou não. Embora o ciclo tratasse as lutas como o clímax, estrondos após um mar de tédio, lidar com um sistema terrível de combate em troca de algumas migalhinhas de nonsense decente não era o que me atraía no jogo, e sim o quão engraçado eu achava me sentir um total otário ao terminar de trabalhar na vida real, ligar meu Switch, e imediatamente começar o serviço no poço de lixo que é Santa Destroy.
Quando eu lembrar afetivamente de No More Heroes, não lembrarei dos controles nojentos ou dos bosses que são bullet-sponges entediantes. Do que lembrarei é de quando sua moto capota ao passar do lado de um carro cuja hitbox é três vezes o tamanho dele, ou nas várias vezes que fiquei mais de três minutos chacoalhando os controles pra pegar um gatinho e não conseguia de jeito nenhum - o tragicômico do banal e do corriqueiro executado com maestria. O que gostei em No More Heroes foi rir de quão idiota é trabalhar.
A escrita de Suda é irreverente, abrasiva, te convidando para rir da estupidez que é a violência e toda a cultura que a exalta, ainda que esteja participando com deleite da mesma. Infelizmente, senti que os momentos em que No More Heroes mais me tocou não ocorreram durante seus picos de adrenalina, incrementalmente mais irritantes e desagradáveis - de um jeito ruim - e sim em quão estúpido ele faz todo esse esforço parecer, intencionalmente ou não. Embora o ciclo tratasse as lutas como o clímax, estrondos após um mar de tédio, lidar com um sistema terrível de combate em troca de algumas migalhinhas de nonsense decente não era o que me atraía no jogo, e sim o quão engraçado eu achava me sentir um total otário ao terminar de trabalhar na vida real, ligar meu Switch, e imediatamente começar o serviço no poço de lixo que é Santa Destroy.
Quando eu lembrar afetivamente de No More Heroes, não lembrarei dos controles nojentos ou dos bosses que são bullet-sponges entediantes. Do que lembrarei é de quando sua moto capota ao passar do lado de um carro cuja hitbox é três vezes o tamanho dele, ou nas várias vezes que fiquei mais de três minutos chacoalhando os controles pra pegar um gatinho e não conseguia de jeito nenhum - o tragicômico do banal e do corriqueiro executado com maestria. O que gostei em No More Heroes foi rir de quão idiota é trabalhar.
2020
Marios em apenas duas dimensões não costumam ser meus favoritos. A estrutura curtinha de fases com mais ênfase em manutenção de momento e execução precisa ao invés de liberdade criativa de execução dos 3D não casa com minha vibe em jogos de plataforma, e não curto muito como o que te comeu atrás do armário & amigos controlam nesses jogos - ainda sou gente como vocês: admito que as delícias de sair zunando pela fase com tudo dando certo sejam prazeres inegáveis.
Honestamente, meu pensamento como plebeu das plataformas é o seguinte: muito do que Mario Wonder tenta fazer já foi feito de uma forma mais interessante (para mim) em Rayman Legends, com a ênfase na musicalidade do ritmo de um platformer sendo a kibagem mais óbvia do encanador. Ainda assim, trazer um frescor novo aos jogos 2D de Mario é uma tentativa muito bem vinda. E a palavra do jogo é espetáculo: o exército de designers pica da Nintendo produz uma gama de momentos memoráveis do começo ao fim do jogo: uma carreata de mecânicas, tipos de fases, interações e variações de uma ideia que fazem com que pouquíssimo do jogo pareça repetitivo fora das lutas contra o Bowser JR - só o mundo final tem uma ou mais mecânicas inéditas por fase. Tudo isso com visuais e design sonoro que estão uma lindeza que só, com personagens cheios de charme e pequeninos detalhes que dão muita personalidade ao que passa tão rápido pela sua tela e rapidamente é descartado por outra coisa na próxima fase, tão cheia de vida quanto.
Em resumo: fico ranzinza sem meu long jump e backflip (e o Cappy), mas até este hater não pode negar os méritos desta iteração do bigodudo em plano cartesiano.
Honestamente, meu pensamento como plebeu das plataformas é o seguinte: muito do que Mario Wonder tenta fazer já foi feito de uma forma mais interessante (para mim) em Rayman Legends, com a ênfase na musicalidade do ritmo de um platformer sendo a kibagem mais óbvia do encanador. Ainda assim, trazer um frescor novo aos jogos 2D de Mario é uma tentativa muito bem vinda. E a palavra do jogo é espetáculo: o exército de designers pica da Nintendo produz uma gama de momentos memoráveis do começo ao fim do jogo: uma carreata de mecânicas, tipos de fases, interações e variações de uma ideia que fazem com que pouquíssimo do jogo pareça repetitivo fora das lutas contra o Bowser JR - só o mundo final tem uma ou mais mecânicas inéditas por fase. Tudo isso com visuais e design sonoro que estão uma lindeza que só, com personagens cheios de charme e pequeninos detalhes que dão muita personalidade ao que passa tão rápido pela sua tela e rapidamente é descartado por outra coisa na próxima fase, tão cheia de vida quanto.
Em resumo: fico ranzinza sem meu long jump e backflip (e o Cappy), mas até este hater não pode negar os méritos desta iteração do bigodudo em plano cartesiano.
2016
A aventura dos garotos, ode à alegria e companheirismo, destilação do verão bucólico, eterno, tão importante quanto o destino de uma nação e ao mesmo tempo banal, é contextualizada ao redor de uma recusa do chamado heróico que vezes parece intencional, outras parece apenas mais um fragmento da desconexão que permeia todos os elementos do jogo - mas nunca os laços entre os personagens. Como culpar Noctis por rejeitar seu destino, quando coletar sapinhos e andar de chocobo na companhia dos seus crias parece tanto com a coisa certa, desejo fútil de mais um minuto no útero, capaz de derrubar qualquer destino imperioso que o espera. E o jogador sente o mesmo: quando a responsa bateu na porta, gastei horas não-características aproveitando os meus amigos, fazendo o que nos dava na telha, pois a nuvem da responsabilidade pesava cada vez mais óbvia no horizonte - ponto em que gostaria que o jogo tivesse tocado melhor.
Final Fantasy XV é um verdadeiro Frankenstein: com os animes, novelas, entrevistas, trailers, spin-offs, DLCs, há uma tentativa de explicar todo buraco, de cobrir todo centímetro exposto de um queijo suíço. Esta característica de colcha de retalhos se mantém em sua gama absurda de mecânicas: carros, comidas, hóteis, chocobos, as fotos de Prompto, corridas, hunts, grappling hooks, controles de TPS, snowmobiles upgradáveis, dungeons opcionais maiores que qualquer coisa da campanha principal, fazer uma sidequest inconsequente e liberar direção completa do carro, cidades enormes modeladas para algumas horas de uso, quests promocionais com orçamento maior do que alguns jogos - o jogo possui muito e não tem medo do jogador não ver partes disso, fazendo com que surpresas absurdas estejam em todo canto.
Fragmentado: peças desconexas, reflexos de um desenvolvimento conturbado, são entregues como podem - dentro e fora do jogo, em novelas, roteiros, animes - e tentam construir uma imagem inteira de uma ideia, para sempre inacessível, um ponto para o outro nunca fluindo tão bem quanto deveria. O coração, porém, assim como a câmera de Prompto, enaltece as memórias boas e elimina as más - e coração aqui não falta.
Final Fantasy XV é um verdadeiro Frankenstein: com os animes, novelas, entrevistas, trailers, spin-offs, DLCs, há uma tentativa de explicar todo buraco, de cobrir todo centímetro exposto de um queijo suíço. Esta característica de colcha de retalhos se mantém em sua gama absurda de mecânicas: carros, comidas, hóteis, chocobos, as fotos de Prompto, corridas, hunts, grappling hooks, controles de TPS, snowmobiles upgradáveis, dungeons opcionais maiores que qualquer coisa da campanha principal, fazer uma sidequest inconsequente e liberar direção completa do carro, cidades enormes modeladas para algumas horas de uso, quests promocionais com orçamento maior do que alguns jogos - o jogo possui muito e não tem medo do jogador não ver partes disso, fazendo com que surpresas absurdas estejam em todo canto.
Fragmentado: peças desconexas, reflexos de um desenvolvimento conturbado, são entregues como podem - dentro e fora do jogo, em novelas, roteiros, animes - e tentam construir uma imagem inteira de uma ideia, para sempre inacessível, um ponto para o outro nunca fluindo tão bem quanto deveria. O coração, porém, assim como a câmera de Prompto, enaltece as memórias boas e elimina as más - e coração aqui não falta.
Sob as chamas de Rubicon, a FROMSoftware conjura seu maior espetáculo. A escala é assustadora: máquinas maiores do que a vida e feitios de tamanho equivalente, o único limite sendo o da imaginação, palco montado a set pieces magníficas que espantam e fazem o seu garoto de 8 anos interno chorar uma lágrima de cristal. Esses manos tão ficando bons demais em criar cenários arrebatadores.
A protagonista, um automâto subhumano de carne, usada e abusada por empresas e facções, matando o almoço pra comprar a janta, lidando com um elenco de personagens que figuram umas das melhores seleções da FROM, sem nenhum rosto jamais dando cara à voz. Interessante ver o que a FROM faz com um acervo de personagens coadjuvantes que não tem risco do jogador nunca encontrar/ativar as flags específicas para mover a história. E a chama, como fica? Apagou! Acendeu! Virou uma marca registrada da FROM, e já não sei mais se acho fofo, maneiro ou engraçado.
Mas e a surra de robô? É pra isso que estamos aqui, afinal.
Controles intuitivos, requerendo perfeita conexão mente-corpo entre o seu dedo e os botões da manete: quatro armas, dois nos gatilhos e dois nos bumpers; pulo, boosts, dashes e hovers direcionalmente liberais, dividindo um recurso; um lock-on que não trava de verdade em inimigos que são mais ardilosos do que aquele mosquito zumbindo no seu ouvido 3:30 da manhã. Pilotar bem necessita de destreza completa no analógico, noção de ritmo em todos os bumpers e gatilhos, enquanto você dança entre uma chuva de projéteis, sem i-frames, gerindo munição, distância e câmera ao mesmo tempo (e lembrando de guardar a pancadaria pra hora do stagger!). Constantemente sentia que não tinha mões o suficiente pra isso. Ainda que a banda larga mental e física necessária seja absurda, é extremamente satisfatória. Really makes you feel like an Armored Core.
É também, me perdoe a nubice, difícil para um caralho, e de formas que eu não sei se aproveitei. A maioria da sua capacidade de destruição é derivada da capacidade de afetar stagger, e algumas armas e setups são simplesmente muito mais eficientes que a maioria em fazer isso, sendo uma opção do jogador ou lidar com uma luta trivial (jogando quase sempre da mesma forma) ou com um confronto descalibrado com bosses específicos que são um cado mais fortes e rápidos do que eu penso ser sensato. Aprecio o loop de “apanhei igual um cachorro, agora vou criar uma abominação feita especificamente pra derreter essa aranha otária”, porém sinto que ele é reduzido, quando existe uma única build tão mais capaz do que as outras, fazendo com que o jogador jogue sempre da mesma forma ou tenha que se sentir um pouco limitado em um confronto que já era pauleira. Devido à essa repetição, passei por quase tudo evitando o meta, a não ser quando partes dela realmente pareciam a escolha mais divertida pra vibe do encontro. Então, tive sim o processo de ajustar e retocar a build para o inimigo, que é muito menos satisfatório quando você sabe que estão lhe arrancando o couro por teimosia - o ponto é que não deveria ser teimosia querer jogar com algo além de duas espingardas. “Ah, mas eu consigo zerar com apenas a pistolinha! Skill issue!”. Sim.
Vejo que, depois de terminar o jogo, várias partes que usei foram buffadas e os bosses que achei mais absurdos foram nerfados nos patches mais recentes, o que fortalece um pouco a sensação de injustiça diante de um jogo descalibrado - sinto que tenho que estender meu hábito de não jogar lançamentos aos jogos da FROM também.
O tipo de jogador que eu sou favorece muito mais uma experiência linear e restritiva como Sekiro - sinto que lá os obstáculos estavam para ser dominados e aprendidos, e aqui estão mais para serem tolerados e superados. Ainda assim, seguirei no NG+ e ++, todavia em um ritmo mais na maciota, sem perder os cabelos. O teatro de aço de Rubicon ainda anseia por mais, e preciso estar em meu mais sigma para entregar-me de corpo e mente à ele.
PS: A OST é do caralho!
A protagonista, um automâto subhumano de carne, usada e abusada por empresas e facções, matando o almoço pra comprar a janta, lidando com um elenco de personagens que figuram umas das melhores seleções da FROM, sem nenhum rosto jamais dando cara à voz. Interessante ver o que a FROM faz com um acervo de personagens coadjuvantes que não tem risco do jogador nunca encontrar/ativar as flags específicas para mover a história. E a chama, como fica? Apagou! Acendeu! Virou uma marca registrada da FROM, e já não sei mais se acho fofo, maneiro ou engraçado.
Mas e a surra de robô? É pra isso que estamos aqui, afinal.
Controles intuitivos, requerendo perfeita conexão mente-corpo entre o seu dedo e os botões da manete: quatro armas, dois nos gatilhos e dois nos bumpers; pulo, boosts, dashes e hovers direcionalmente liberais, dividindo um recurso; um lock-on que não trava de verdade em inimigos que são mais ardilosos do que aquele mosquito zumbindo no seu ouvido 3:30 da manhã. Pilotar bem necessita de destreza completa no analógico, noção de ritmo em todos os bumpers e gatilhos, enquanto você dança entre uma chuva de projéteis, sem i-frames, gerindo munição, distância e câmera ao mesmo tempo (e lembrando de guardar a pancadaria pra hora do stagger!). Constantemente sentia que não tinha mões o suficiente pra isso. Ainda que a banda larga mental e física necessária seja absurda, é extremamente satisfatória. Really makes you feel like an Armored Core.
É também, me perdoe a nubice, difícil para um caralho, e de formas que eu não sei se aproveitei. A maioria da sua capacidade de destruição é derivada da capacidade de afetar stagger, e algumas armas e setups são simplesmente muito mais eficientes que a maioria em fazer isso, sendo uma opção do jogador ou lidar com uma luta trivial (jogando quase sempre da mesma forma) ou com um confronto descalibrado com bosses específicos que são um cado mais fortes e rápidos do que eu penso ser sensato. Aprecio o loop de “apanhei igual um cachorro, agora vou criar uma abominação feita especificamente pra derreter essa aranha otária”, porém sinto que ele é reduzido, quando existe uma única build tão mais capaz do que as outras, fazendo com que o jogador jogue sempre da mesma forma ou tenha que se sentir um pouco limitado em um confronto que já era pauleira. Devido à essa repetição, passei por quase tudo evitando o meta, a não ser quando partes dela realmente pareciam a escolha mais divertida pra vibe do encontro. Então, tive sim o processo de ajustar e retocar a build para o inimigo, que é muito menos satisfatório quando você sabe que estão lhe arrancando o couro por teimosia - o ponto é que não deveria ser teimosia querer jogar com algo além de duas espingardas. “Ah, mas eu consigo zerar com apenas a pistolinha! Skill issue!”. Sim.
Vejo que, depois de terminar o jogo, várias partes que usei foram buffadas e os bosses que achei mais absurdos foram nerfados nos patches mais recentes, o que fortalece um pouco a sensação de injustiça diante de um jogo descalibrado - sinto que tenho que estender meu hábito de não jogar lançamentos aos jogos da FROM também.
O tipo de jogador que eu sou favorece muito mais uma experiência linear e restritiva como Sekiro - sinto que lá os obstáculos estavam para ser dominados e aprendidos, e aqui estão mais para serem tolerados e superados. Ainda assim, seguirei no NG+ e ++, todavia em um ritmo mais na maciota, sem perder os cabelos. O teatro de aço de Rubicon ainda anseia por mais, e preciso estar em meu mais sigma para entregar-me de corpo e mente à ele.
PS: A OST é do caralho!
2022
A verdade é subjetiva, multidimensional. A certeza do eu-jogador é falsa e seu ato uma rebeldia mecânica; tomar as rédeas de si mesmo configura um esforço desesperador. Quem vê através de meus olhos? Toda decisão que tomo é consciente? O que acontece se sou apenas um passageiro do meu piloto automático, ou de alguma outra coisa (uma ideia, uma crença, uma vontade)?
Who’s Lila levanta muito mais perguntas do que se interessa em responder, ainda que não economize em revelar, das mais deliciosas formas, faceta após faceta de seu quebra cabeça recursivo. Sabe atiçar: é misteriosa, obscura, mentirosa até, porém nunca perde o engajamento, incitando a curiosidade através de um caleidoscópio de pontos de vista que mantém um retrato da realidade que é nebuloso, vivo, em constante fermentação. Pode ser que você saia um pouco diferente disso.
Who’s Lila levanta muito mais perguntas do que se interessa em responder, ainda que não economize em revelar, das mais deliciosas formas, faceta após faceta de seu quebra cabeça recursivo. Sabe atiçar: é misteriosa, obscura, mentirosa até, porém nunca perde o engajamento, incitando a curiosidade através de um caleidoscópio de pontos de vista que mantém um retrato da realidade que é nebuloso, vivo, em constante fermentação. Pode ser que você saia um pouco diferente disso.
2020
Uma caixinha de surpresas: cenários oníricos em miniatura que podem ser mexidos aqui e acolá, segredos dos divertidos e sérios aos estúpidos e profundos escondidos em seus cantos. A intenção não é ser críptico, mas sim lúdico - uma caça Pascoalina para os nerds.
Gosto muito de jogos que se mostram como obras abertas, misturebas profanas de software e arte que são. Com alguns poucos assets criados e colocados aqui e acolá, aproveitando-se até dos restos indesejáveis dos engines e scripts com que temos que lutar, há como se expor um universo em um globo de neve.
Gosto muito de jogos que se mostram como obras abertas, misturebas profanas de software e arte que são. Com alguns poucos assets criados e colocados aqui e acolá, aproveitando-se até dos restos indesejáveis dos engines e scripts com que temos que lutar, há como se expor um universo em um globo de neve.
Testing bilingual reviews on here.
---------- Português ----------
Me decepciona mais no que poderia ter sido do que me impressiona pelos seus méritos - principalmente, sua identidade visual fantástica. Linear assim como uma máquina de Rube Goldberg que tanto o inspira; só tendo graça na primeira vez que o maquinário se desenrola - rebobinagens travam as engrenagens e te forçam a seguir o caminho restrito que tanto comprime o jogo. Adoraria ver as mesmas mecânicas sendo aplicadas em um jogo cuja filosofia de design fosse mais aberta. Quanto ao mistério, não acho que me importou muito em momento algum, porém escalou bem a tensão do jogo nas fases finais. Missile carrega o elenco.
---------- English ----------
It disappointed me in what it could have been more than it impressed me by its merits - mainly, its amazing visual identity. Linear as a Rube Goldberg machine which inspires it so; it only amazes in its first run - rewinds slow down the gears and force you to follow a strangling, rigid path. I’d love to see these same mechanics (time rewind; travelling through machine-like mazes) being applied in a game with a more open-ended design philosophy. As for the mystery: it didn’t really stick to me at any point, even though it scaled the pacing and the tension well enough at the final chapters. Missile hard carries the cast here.
---------- Português ----------
Me decepciona mais no que poderia ter sido do que me impressiona pelos seus méritos - principalmente, sua identidade visual fantástica. Linear assim como uma máquina de Rube Goldberg que tanto o inspira; só tendo graça na primeira vez que o maquinário se desenrola - rebobinagens travam as engrenagens e te forçam a seguir o caminho restrito que tanto comprime o jogo. Adoraria ver as mesmas mecânicas sendo aplicadas em um jogo cuja filosofia de design fosse mais aberta. Quanto ao mistério, não acho que me importou muito em momento algum, porém escalou bem a tensão do jogo nas fases finais. Missile carrega o elenco.
---------- English ----------
It disappointed me in what it could have been more than it impressed me by its merits - mainly, its amazing visual identity. Linear as a Rube Goldberg machine which inspires it so; it only amazes in its first run - rewinds slow down the gears and force you to follow a strangling, rigid path. I’d love to see these same mechanics (time rewind; travelling through machine-like mazes) being applied in a game with a more open-ended design philosophy. As for the mystery: it didn’t really stick to me at any point, even though it scaled the pacing and the tension well enough at the final chapters. Missile hard carries the cast here.
1994
Um jogo muito velho, deveras arcaico e obtuso em vários de seus aspectos. Jogá-lo é na maioria das vezes um exercício entre o stress e o tédio, tendo que navegar por sistemas que, pelo que leio, eram arcaicos até para a época (quase 30 anos atrás); além disso, existem momentos em que o jogo tenta abertamente te sacanear: esses, que achei divertidos, tanto serviram para mostrar que a maioria das partes chatas são ignorância, e não maldade, por parte dos desenvolvedores, e também, de certa forma sádica, me fizeram aceitar com mais facilidade que, se era com esse tipo de coisa que eu teria que lidar, então melhor levar na amizade.
Mas… no fim de tudo, é inegável: esse jogo tem ALMA. Os personagens principais são crianças em branco, self-inserts de cartolina que só servem de mecanismo narrativo; todo o resto, porém, atinge um nervo muito específico entre delírio febril, pesadelos, alucinações de psicodélicos e a memória confusa da infância. Certos momentos souberam ser verdadeiramente emocionantes (o final, em especial) mesmo com personagens mal-elaborados ou diálogo simples - uma artimanha da atmosfera colossal e o senso de jornada que o jogo sabe passar.
Earthbound é muitas vezes falho, mas é o tipo de obra que possui uma energia especial inegável, uma soma de qualidades que não são encontradas em nenhum outro lugar, capaz de provocar diversas emoções inesperadas apesar de sua camada modesta. Genuinamente engraçado quando não se leva a sério, e surpreendentemente carregado de sentimento quando o deseja, esse é um jogo que queria tanto ter jogado quando era criança, pois tenho certeza que ele teria se cravado dentro das profundezas da minha psique, para nunca ser esquecido.
Mas… no fim de tudo, é inegável: esse jogo tem ALMA. Os personagens principais são crianças em branco, self-inserts de cartolina que só servem de mecanismo narrativo; todo o resto, porém, atinge um nervo muito específico entre delírio febril, pesadelos, alucinações de psicodélicos e a memória confusa da infância. Certos momentos souberam ser verdadeiramente emocionantes (o final, em especial) mesmo com personagens mal-elaborados ou diálogo simples - uma artimanha da atmosfera colossal e o senso de jornada que o jogo sabe passar.
Earthbound é muitas vezes falho, mas é o tipo de obra que possui uma energia especial inegável, uma soma de qualidades que não são encontradas em nenhum outro lugar, capaz de provocar diversas emoções inesperadas apesar de sua camada modesta. Genuinamente engraçado quando não se leva a sério, e surpreendentemente carregado de sentimento quando o deseja, esse é um jogo que queria tanto ter jogado quando era criança, pois tenho certeza que ele teria se cravado dentro das profundezas da minha psique, para nunca ser esquecido.
A cinemática dos aviões nunca foi tão boa quanto agora, os efeitos especiais e a velocidade do jogo adicionam uma adrenalina que agrega, e as missões são as mais variadas de todos os jogos da série que joguei até agora - seria uma pena se todas essas missões estivessem ligadas à condições de falha arcanas que só se entende de fato acontecem, repetindo de 10-15 minutos de esforço em vão porque você cruzou uma barreira invisível que não estava no combinado ou porque é sua primeira vez tentando a missão e você achou que tinha escolhido bem o avião pra missão, mas não sabia que depois de terminar o objetivo principal você devia ficar 10 minutos voando e ignorando todos inimigos para não gastar munição, já que depois desses 10 minutos vem um objetivo novo surpresa e ai de você se você tiver usado seus mísseis quando o jogo indicou que era pra você ter usado. Cheguei a mencionar que, em todas essas repetições frustrantes de missão em que o contrato jogador/jogo nunca está claro você é reforçado a escutar o diálogo absolutamente horrendo (em voz e texto) do jogo, e que se você termina um objetivo mais rápido do que o diálogo enlatado o jogo revive os alvos do objetivo pra conseguir concluir o roteiro? Citei como este Ace Combat usa de uma história conveniente para emplastar com a graça de uma anta uma mensagem antiguerra tosca através de uma narrativa e diálogos de anime shonen insosso?
Ace Combat 5 tenta por uma experiência mais cinematográfica, porém mantendo os trilhos arcade do jogo. A enorme gama de missões com diversas mecânicas/condições variadas que resultam em falha imediata e repetição enorme caso você saia minimamente dos trilhos representa as amarras de um jogo que não foi feito para isso. Até que teria como contar esse animezinho idiota de avião E manter um sistema que te permita S-rankear missões variadas, mas não se esforçaram muito em dinamizar a experiência. O romance da aviação aqui é um teatro de ensino médio: apenas siga o roteiro e fique animado para o próximo; não engaje com o conteúdo até que eu diga que pode; espere em pé em cima do X até sua vez de falar. É uma brincadeira como pensaram que seria uma boa ideia juntar o tanto de tempo morto e enrolação que o jogo força pela visão “cinematográfica” à condições de falha e paredes invisíveis que não estavam no combinado até o momento em que o jogo decide que estão. E pelo o que? Me fez querer desistir da série diversas vezes.
Ace Combat 5 com alguns ajustes seria o melhor da série - adoraria um jogo com essa variedade de missões em uma estrutura que realmente as permitisse, e gostei como ele é o único que te força a usar a metralhadora do avião. Infelizmente, pra mim foi apenas uma série de desavenças que não consegui superar: para cada missão empolgante, eu encontrava alguma bobagem idiota que acabava com a brincadeira - e em todos os momentos forçado a literalmente esperar e escutar esse diálogo terrível e uma narrativa babona.
Ace Combat 5 tenta por uma experiência mais cinematográfica, porém mantendo os trilhos arcade do jogo. A enorme gama de missões com diversas mecânicas/condições variadas que resultam em falha imediata e repetição enorme caso você saia minimamente dos trilhos representa as amarras de um jogo que não foi feito para isso. Até que teria como contar esse animezinho idiota de avião E manter um sistema que te permita S-rankear missões variadas, mas não se esforçaram muito em dinamizar a experiência. O romance da aviação aqui é um teatro de ensino médio: apenas siga o roteiro e fique animado para o próximo; não engaje com o conteúdo até que eu diga que pode; espere em pé em cima do X até sua vez de falar. É uma brincadeira como pensaram que seria uma boa ideia juntar o tanto de tempo morto e enrolação que o jogo força pela visão “cinematográfica” à condições de falha e paredes invisíveis que não estavam no combinado até o momento em que o jogo decide que estão. E pelo o que? Me fez querer desistir da série diversas vezes.
Ace Combat 5 com alguns ajustes seria o melhor da série - adoraria um jogo com essa variedade de missões em uma estrutura que realmente as permitisse, e gostei como ele é o único que te força a usar a metralhadora do avião. Infelizmente, pra mim foi apenas uma série de desavenças que não consegui superar: para cada missão empolgante, eu encontrava alguma bobagem idiota que acabava com a brincadeira - e em todos os momentos forçado a literalmente esperar e escutar esse diálogo terrível e uma narrativa babona.
Dessa vez um pouco mais fundo, pelas entranhas da Casa. Dentre o emaranhado, encontramos uma série de corredores e brigas que são mais do mesmo. E claro, uma chuva de mods level II +33% desconto nas Casas Bahia para compras abaixo de 20 reais pra encher seu inventário já lotado. A side quest da TV foi a melhor parte - até o espírito resvalado do Ahti carrega o carisma.
2022
Signalis puxa inspiração de onde pode - Resident Evil, Eva, Blame!, entre outros - e disso constrói uma peça de tom e apresentação arrebatadores, ainda que um pouco presa à fonte: uma linha tênue entre homenagem, conjuração ou plágio. É uma loucura pra mim que duas pessoas apenas tenham escrito, animado, desenhado e organizado um esforço tão carregado de qualidade e imensidão para além de suas amarras.
Brinca um pouco perto demais com a frustração, especialmente em relação à seu nada popular inventário limitadíssimo, que aqui defenderei: vejo como positivo como sua inclusão força backtracking constante em áreas que nunca estão verdadeiramente aliviadas de hostilidade, assim requerindo que seu entendimento de mapa e otimização de rota seja quiçá mais importante do que sua habilidade em combate - quanto mais você conseguir evitar, melhor na fita está para quando não houver outra opção. Existem algumas situações que considero meio sacanas, como a imprecisão geral que envolve o contato com inimigos - hitboxes ativas e controles difusos com base na proximidade são uma receita para frustração. A energia opressora de seus ambientes intercala muito bem com os puzzles, que achei satisfatoriamente calibrados e absurdamente bem apresentados, geralmente através de mudanças de perspectiva para a primeira pessoa, trazendo uma nova realidade para aquilo que de longe é distorcido e maligno - de perto tudo fica mais humano, a fisicalidade do ambiente dando corpo ao que outrora foi vivido.
Uma jornada em um inferno solitário, apoiando-se no imaginário do que já veio para projetar suas próprias imagens. Os pilares de seu mundo, alicerces de tirânica tranquilidade, ruindo ao redor de uma realidade insustentável sendo questionada. Crescendo entre as frestas de uma jaula de concreto, o amor é a onda que desmorona tudo.
Brinca um pouco perto demais com a frustração, especialmente em relação à seu nada popular inventário limitadíssimo, que aqui defenderei: vejo como positivo como sua inclusão força backtracking constante em áreas que nunca estão verdadeiramente aliviadas de hostilidade, assim requerindo que seu entendimento de mapa e otimização de rota seja quiçá mais importante do que sua habilidade em combate - quanto mais você conseguir evitar, melhor na fita está para quando não houver outra opção. Existem algumas situações que considero meio sacanas, como a imprecisão geral que envolve o contato com inimigos - hitboxes ativas e controles difusos com base na proximidade são uma receita para frustração. A energia opressora de seus ambientes intercala muito bem com os puzzles, que achei satisfatoriamente calibrados e absurdamente bem apresentados, geralmente através de mudanças de perspectiva para a primeira pessoa, trazendo uma nova realidade para aquilo que de longe é distorcido e maligno - de perto tudo fica mais humano, a fisicalidade do ambiente dando corpo ao que outrora foi vivido.
Uma jornada em um inferno solitário, apoiando-se no imaginário do que já veio para projetar suas próprias imagens. Os pilares de seu mundo, alicerces de tirânica tranquilidade, ruindo ao redor de uma realidade insustentável sendo questionada. Crescendo entre as frestas de uma jaula de concreto, o amor é a onda que desmorona tudo.
2019