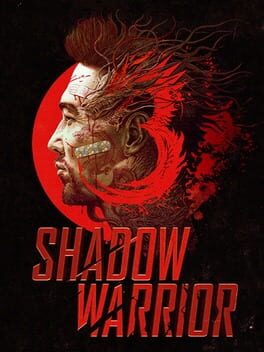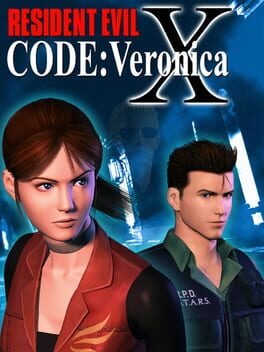Mandaloris
2002
DaiOuJou ocupa o panteão dos jogos eletrônicos ao lado de outras obras-primas, como Doom, Resident Evil 4, Halo 3, Dark Souls etc. Mas, por alguma razão, raramente recebe o reconhecimento que merece.
É o auge da filosofia de design estabelecida pela CAVE — o que não é pouca coisa, considerando que todos os jogos em seus quase 20 anos de atividade são brilhantes (incluindo os mais fracos, como DonPachi e Deathsmiles II).
É o auge da filosofia de design estabelecida pela CAVE — o que não é pouca coisa, considerando que todos os jogos em seus quase 20 anos de atividade são brilhantes (incluindo os mais fracos, como DonPachi e Deathsmiles II).
2022
Passei 7 horas jogando a campanha de Shadow Warrior 3 no Hard e eu diria que valeu bastante a pena. É um jogo cheio de falhas, tanto em termos de game design quanto técnicos, mas a jogabilidade é ao mesmo tempo tão sólida e engajadora que torna a experiência um verdadeiro deleite.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikom-NC4sFA
Eu quero começar falando dos maiores problemas do jogo, assim já tiro essa questão do caminho. A versão de PC é atormentada por uma série de erros técnicos que afetam drasticamente a curtição em diversos momentos:
- As horas iniciais são recheadas de travadas sempre que um novo shader precisa ser compilado pela GPU (o que acontece independentemente das capacidades do hardware), já que o jogo não os compila de forma antecipada;
- As cutscenes são pré-renderizadas numa qualidade extremamente porca a 30 quadros por segundo e, para piorar ainda mais, a reprodução é completamente inconsistente e engasga a todo momento;
- A única tecnologia de upsampling presente é o FSR 1.0 que, como se sabe, apresenta um resultado final super insatisfatório independentemente da resolução.
Por outro lado, a despeito desses problemas e da performance um tanto questionável da Unreal Engine 4, o jogo é visualmente muito bonito. A direção de arte é excelente em todos os sentidos, desde as paisagens asiáticas de cair o queixo, ao design dos inimigos e das armas, tornando os gráficos seriamente impressionantes em diversos momentos.
Imagem 1
Em termos de jogabilidade, esse é provavelmente o melhor da série sob a alçada da Flying Wild Hog. Lembro de quando eu joguei o primeiro título e fui incapaz de avançar muito de tão entediante que era. Este terceiro é o oposto disso!
O sistema de combate é consideravelmente bem planejado, ficando num meio-termo entre Doom 2016 e Doom Eternal. O jogo possui algumas arenas até mais interessantes e um combate mais dinâmico e intenso do que o FPS de 2016, mas não chega perto de ser tão polido, marcante ou profundo quanto Eternal. Nem todas as mecânicas funcionam tão bem (o gancho é desengonçado e pode facilmente matar o jogador se usado de forma ofensiva contra inimigos), mas o saldo geral é positivo.
Também de forma semelhante a Doom Eternal, há uma quantidade bem pequena de munição disponível em cada arma. Para contrabalancear isso, o reabastecimento de recursos se dá de duas formas: atirar em inimigos com as armas fornece esferas para recuperar a vida do jogador, enquanto matá-los com a katana distribui esferas de munição. Essa dicotomia no gerenciamento de recursos garante ao loop de combate bastante dinamismo e um quê de estratégia que funciona muito bem, ainda mais considerando que ambas as esferas precisam ser coletadas de perto, forçando o jogador a ficar cara a cara com os monstros e amplificando a intensidade do combate.
As armas possuem combos muito sinergéticos (amo remover o escudo dos Hattoris com o Basilisco para, em seguida, prendê-los com o shuriken e finalizá-los com a shotgun) e, mesmo que não sejam muito diferentes das vistas em outros jogos do gênero em termos de função, usá-las é divertido para um caramba. Fora isso, todos os inimigos têm comportamentos únicos e complementares, com alguns deles sendo extremamente criativos (como o Slinky Jakku, que sempre foge do jogador enquanto deixa serras pelo ambiente e, até mesmo, o primeiro chefe do jogo).
Imagem 2
E outra coisa muito legal são as armadilhas presentes em algumas arenas específicas, que podem ser usadas pelo jogador contra os inimigos. Essas arenas, além de darem maior variedade às lutas, ainda permitem que o level designer lance um monte de inimigos fortes ao mesmo tempo sem tornar o combate frustrante para o jogador. É demais!
O jogo também tenta variar um pouco o ritmo fazendo uso frequente de sequências de plataforma. Certas vezes elas entregam algo bem divertido e são momentos bem-vindos para recuperar o fôlego das lutas, mas outras vezes elas enchem bastante o saco (e eu diria que, no geral, Doom Eternal também se sai melhor nesse aspecto). Lá para o final do jogo, por exemplo, tem uma fase inteira que é basicamente só isso e é, por consequência, bastante sem graça.
Ah, e um adendo: o roteiro do jogo é tenebroso. Acho que ninguém em sã consciência escreveria diálogos tão vergonhosos achando que estava sendo engraçado quanto os desse jogo. Eu diria que não chega a atrapalhar tanto, mas como o Lo Wang abre a boca com frequência mesmo durante o gameplay, às vezes incomoda um pouco.
Imagem 3
De toda forma, Shadow Warrior 3 é muito legal (e não merece as resenhas "mistas" na página da Steam). A campanha é um pouquinho mais curta do que eu gostaria, mas ao menos o suporte pós-lançamento trouxe conteúdo extra em forma de uma dificuldade a mais (Hardcore) e um modo "survival", dando um pouco de sobrevida ao jogo. É, valeu a pena.
https://www.youtube.com/watch?v=Ikom-NC4sFA
Eu quero começar falando dos maiores problemas do jogo, assim já tiro essa questão do caminho. A versão de PC é atormentada por uma série de erros técnicos que afetam drasticamente a curtição em diversos momentos:
- As horas iniciais são recheadas de travadas sempre que um novo shader precisa ser compilado pela GPU (o que acontece independentemente das capacidades do hardware), já que o jogo não os compila de forma antecipada;
- As cutscenes são pré-renderizadas numa qualidade extremamente porca a 30 quadros por segundo e, para piorar ainda mais, a reprodução é completamente inconsistente e engasga a todo momento;
- A única tecnologia de upsampling presente é o FSR 1.0 que, como se sabe, apresenta um resultado final super insatisfatório independentemente da resolução.
Por outro lado, a despeito desses problemas e da performance um tanto questionável da Unreal Engine 4, o jogo é visualmente muito bonito. A direção de arte é excelente em todos os sentidos, desde as paisagens asiáticas de cair o queixo, ao design dos inimigos e das armas, tornando os gráficos seriamente impressionantes em diversos momentos.
Imagem 1
Em termos de jogabilidade, esse é provavelmente o melhor da série sob a alçada da Flying Wild Hog. Lembro de quando eu joguei o primeiro título e fui incapaz de avançar muito de tão entediante que era. Este terceiro é o oposto disso!
O sistema de combate é consideravelmente bem planejado, ficando num meio-termo entre Doom 2016 e Doom Eternal. O jogo possui algumas arenas até mais interessantes e um combate mais dinâmico e intenso do que o FPS de 2016, mas não chega perto de ser tão polido, marcante ou profundo quanto Eternal. Nem todas as mecânicas funcionam tão bem (o gancho é desengonçado e pode facilmente matar o jogador se usado de forma ofensiva contra inimigos), mas o saldo geral é positivo.
Também de forma semelhante a Doom Eternal, há uma quantidade bem pequena de munição disponível em cada arma. Para contrabalancear isso, o reabastecimento de recursos se dá de duas formas: atirar em inimigos com as armas fornece esferas para recuperar a vida do jogador, enquanto matá-los com a katana distribui esferas de munição. Essa dicotomia no gerenciamento de recursos garante ao loop de combate bastante dinamismo e um quê de estratégia que funciona muito bem, ainda mais considerando que ambas as esferas precisam ser coletadas de perto, forçando o jogador a ficar cara a cara com os monstros e amplificando a intensidade do combate.
As armas possuem combos muito sinergéticos (amo remover o escudo dos Hattoris com o Basilisco para, em seguida, prendê-los com o shuriken e finalizá-los com a shotgun) e, mesmo que não sejam muito diferentes das vistas em outros jogos do gênero em termos de função, usá-las é divertido para um caramba. Fora isso, todos os inimigos têm comportamentos únicos e complementares, com alguns deles sendo extremamente criativos (como o Slinky Jakku, que sempre foge do jogador enquanto deixa serras pelo ambiente e, até mesmo, o primeiro chefe do jogo).
Imagem 2
E outra coisa muito legal são as armadilhas presentes em algumas arenas específicas, que podem ser usadas pelo jogador contra os inimigos. Essas arenas, além de darem maior variedade às lutas, ainda permitem que o level designer lance um monte de inimigos fortes ao mesmo tempo sem tornar o combate frustrante para o jogador. É demais!
O jogo também tenta variar um pouco o ritmo fazendo uso frequente de sequências de plataforma. Certas vezes elas entregam algo bem divertido e são momentos bem-vindos para recuperar o fôlego das lutas, mas outras vezes elas enchem bastante o saco (e eu diria que, no geral, Doom Eternal também se sai melhor nesse aspecto). Lá para o final do jogo, por exemplo, tem uma fase inteira que é basicamente só isso e é, por consequência, bastante sem graça.
Ah, e um adendo: o roteiro do jogo é tenebroso. Acho que ninguém em sã consciência escreveria diálogos tão vergonhosos achando que estava sendo engraçado quanto os desse jogo. Eu diria que não chega a atrapalhar tanto, mas como o Lo Wang abre a boca com frequência mesmo durante o gameplay, às vezes incomoda um pouco.
Imagem 3
De toda forma, Shadow Warrior 3 é muito legal (e não merece as resenhas "mistas" na página da Steam). A campanha é um pouquinho mais curta do que eu gostaria, mas ao menos o suporte pós-lançamento trouxe conteúdo extra em forma de uma dificuldade a mais (Hardcore) e um modo "survival", dando um pouco de sobrevida ao jogo. É, valeu a pena.
2022
Eu já estava de olho em Signalis desde seu lançamento no ano passado e, depois da minha maratona recente de Resident Evil, a vontade de jogá-lo subiu ainda mais. A junção de survivor horror com ficção científica é um sopro de ar fresco e acerta bem no meu ponto fraco.
Agora, finalmente tive a oportunidade de saciar essa vontade. Terminei a campanha na dificuldade Survival, após 12 horas de uma experiência avassaladora em termos de direção de arte e estética, acompanhada ainda por uma ludonarrativa digna de ser uma das mais brilhantes já vistas no meio dos videogames. Por outro lado, os elementos principais que compõem a jogabilidade infelizmente não conseguem fazer jus à excepcionalidade do restante do jogo.
https://www.youtube.com/watch?v=CUtKLDfQ1Sw
Signalis é obviamente inspirado em diversas mídias e, muitas vezes, as referencia de forma direta e sem pudor. Há elementos retirados de Silent Hill (inclusive um lugar literalmente chamado de "Nowhere"), de Resident Evil (uma das coisas mais legais é a inclusão da mecânica de queimar os corpos, semelhante ao remake do 1) e até mesmo de obras fora dos videogames. O jogo possui um leve quê de Tsutomu Nihei (em especial de sua obra-prima, Blame!), chega a retirar um plano do primeiro filme de Ghost in the Shell de maneira quase idêntica e conta com conceitos visuais remanescentes de Neon Genesis Evangelion e do anime de Monogatari Series. E mesmo tendo tantas inspirações assim, o jogo ainda estabelece uma identidade extremamente marcante e original.
O design de personagens realizado por Yuri Stern, que criou o jogo ao lado de Barbara Wittmann, é lindo. Se baseando em um estilo característico de anime, Yuri dá aos personagens uma beleza esplendorosa que ressalta os aspectos mais emocionais da história e contrasta belamente com a atmosfera mórbida e surrealista.
As cutscenes, por sua vez, são algumas das mais cativantes que já vi em um jogo. O trabalho de direção e de composição é denso e carrega muito significado por trás de cada plano, mesmo quando inspirados em cenas de outras obras. O conceito de "mostre, não conte" é frequentemente empregado com bastante sutileza durante esses momentos, tornando-se responsável por criar um quebra-cabeça intrigante, mas acessível.
Imagem 1
Imagem 2
A ideia de desenvolver personagens e acontecimentos por meio de documentos e cartas espalhadas pelo cenário é um clichê já visto trocentas vezes em jogos do gênero. Embora o uso desse elemento não seja nada diferente em Signalis, a combinação de outras técnicas narrativas e a exploração do movimento surrealista dão ao enredo do jogo profundidade. Como se não bastasse, a forte presença de obras de arte reais, como o livro O Rei de Amarelo (Robert W. Chambers) e as pinturas A Ilha dos Mortos (Arnold Böcklin) e A Costa do Esquecimento (Eugen Bracht), também dão mais vivacidade à história, além de um simbolismo sublime.
A construção de mundo é outro destaque. Seja na figura das inúmeras personagens femininas que evidenciam o matriarcado desse universo, sejam documentos e itens do cenário que indicam a situação política em larga escala vivenciada ali, é tudo introduzido com muito esmero e naturalidade. Até mesmo os personagens secundários, como Isa e Adler (que se mostra um antagonista muito curioso mesmo com pouca presença direta em tela) possuem arcos próprios muito bem pensados.
Se trata de uma história enigmática e que, ao final, talvez não forneça necessariamente todas as respostas, porém é executada com excelência. Dos quatro finais possíveis (que são genialmente determinados dependendo de como o jogador aborda o jogo durante toda sua duração, ao invés de fornecerem escolhas óbvias), eu consegui o "Promise", que acabou sendo o meu favorito mesmo após assistir aos outros no YouTube. Todas as conclusões são provocantes, mas o maior fechamento temático de Promise transmite um sentimento lindamente agridoce.
Imagem 3
Imagem 4
Imagem 5
No entanto, mesmo em meio a tantos elogios (ou talvez justamente por conta deles), o jogo me desapontou um pouco. Não entendam errado, a jogabilidade proposta é competente o bastante, mas fica aquém da qualidade espetacular do enredo e da direção de arte, e por isso decepciona.
Existem mecânicas boas (como o rádio e a possibilidade de pisar em inimigos caídos para abatê-los com menos munição) e puzzles muitíssimo criativos, mas o level design que acompanha tudo é tão anêmico e repetitivo que afeta a experiência toda negativamente. São salas e mais salas que fornecem pouca variedade à forma como o jogador progride ou interage com elas. As fases variam em termos meramente estéticos, enquanto se mantêm todas iguais em jogabilidade.
Eu evitei o combate o máximo possível durante todo o jogo, porém a quantidade grande de monstros na fase final mostra como o sistema de mira é frustrante, se negando a focar no inimigo que o jogador realmente precisa. Os inimigos também possuem pouquíssima variação e raramente afetam como o jogador deve abordá-los.
No fim, ainda é um bom jogo que eu recomendaria facilmente, mas mesmo entendendo as limitações técnicas e os obstáculos impostos a um time pequeno de apenas dois artistas, é difícil abandonar o desejo de que Signalis fosse, na verdade, uma obra-prima em todos os sentidos.
Imagem 6
Agora, finalmente tive a oportunidade de saciar essa vontade. Terminei a campanha na dificuldade Survival, após 12 horas de uma experiência avassaladora em termos de direção de arte e estética, acompanhada ainda por uma ludonarrativa digna de ser uma das mais brilhantes já vistas no meio dos videogames. Por outro lado, os elementos principais que compõem a jogabilidade infelizmente não conseguem fazer jus à excepcionalidade do restante do jogo.
https://www.youtube.com/watch?v=CUtKLDfQ1Sw
Signalis é obviamente inspirado em diversas mídias e, muitas vezes, as referencia de forma direta e sem pudor. Há elementos retirados de Silent Hill (inclusive um lugar literalmente chamado de "Nowhere"), de Resident Evil (uma das coisas mais legais é a inclusão da mecânica de queimar os corpos, semelhante ao remake do 1) e até mesmo de obras fora dos videogames. O jogo possui um leve quê de Tsutomu Nihei (em especial de sua obra-prima, Blame!), chega a retirar um plano do primeiro filme de Ghost in the Shell de maneira quase idêntica e conta com conceitos visuais remanescentes de Neon Genesis Evangelion e do anime de Monogatari Series. E mesmo tendo tantas inspirações assim, o jogo ainda estabelece uma identidade extremamente marcante e original.
O design de personagens realizado por Yuri Stern, que criou o jogo ao lado de Barbara Wittmann, é lindo. Se baseando em um estilo característico de anime, Yuri dá aos personagens uma beleza esplendorosa que ressalta os aspectos mais emocionais da história e contrasta belamente com a atmosfera mórbida e surrealista.
As cutscenes, por sua vez, são algumas das mais cativantes que já vi em um jogo. O trabalho de direção e de composição é denso e carrega muito significado por trás de cada plano, mesmo quando inspirados em cenas de outras obras. O conceito de "mostre, não conte" é frequentemente empregado com bastante sutileza durante esses momentos, tornando-se responsável por criar um quebra-cabeça intrigante, mas acessível.
Imagem 1
Imagem 2
A ideia de desenvolver personagens e acontecimentos por meio de documentos e cartas espalhadas pelo cenário é um clichê já visto trocentas vezes em jogos do gênero. Embora o uso desse elemento não seja nada diferente em Signalis, a combinação de outras técnicas narrativas e a exploração do movimento surrealista dão ao enredo do jogo profundidade. Como se não bastasse, a forte presença de obras de arte reais, como o livro O Rei de Amarelo (Robert W. Chambers) e as pinturas A Ilha dos Mortos (Arnold Böcklin) e A Costa do Esquecimento (Eugen Bracht), também dão mais vivacidade à história, além de um simbolismo sublime.
A construção de mundo é outro destaque. Seja na figura das inúmeras personagens femininas que evidenciam o matriarcado desse universo, sejam documentos e itens do cenário que indicam a situação política em larga escala vivenciada ali, é tudo introduzido com muito esmero e naturalidade. Até mesmo os personagens secundários, como Isa e Adler (que se mostra um antagonista muito curioso mesmo com pouca presença direta em tela) possuem arcos próprios muito bem pensados.
Se trata de uma história enigmática e que, ao final, talvez não forneça necessariamente todas as respostas, porém é executada com excelência. Dos quatro finais possíveis (que são genialmente determinados dependendo de como o jogador aborda o jogo durante toda sua duração, ao invés de fornecerem escolhas óbvias), eu consegui o "Promise", que acabou sendo o meu favorito mesmo após assistir aos outros no YouTube. Todas as conclusões são provocantes, mas o maior fechamento temático de Promise transmite um sentimento lindamente agridoce.
Imagem 3
Imagem 4
Imagem 5
No entanto, mesmo em meio a tantos elogios (ou talvez justamente por conta deles), o jogo me desapontou um pouco. Não entendam errado, a jogabilidade proposta é competente o bastante, mas fica aquém da qualidade espetacular do enredo e da direção de arte, e por isso decepciona.
Existem mecânicas boas (como o rádio e a possibilidade de pisar em inimigos caídos para abatê-los com menos munição) e puzzles muitíssimo criativos, mas o level design que acompanha tudo é tão anêmico e repetitivo que afeta a experiência toda negativamente. São salas e mais salas que fornecem pouca variedade à forma como o jogador progride ou interage com elas. As fases variam em termos meramente estéticos, enquanto se mantêm todas iguais em jogabilidade.
Eu evitei o combate o máximo possível durante todo o jogo, porém a quantidade grande de monstros na fase final mostra como o sistema de mira é frustrante, se negando a focar no inimigo que o jogador realmente precisa. Os inimigos também possuem pouquíssima variação e raramente afetam como o jogador deve abordá-los.
No fim, ainda é um bom jogo que eu recomendaria facilmente, mas mesmo entendendo as limitações técnicas e os obstáculos impostos a um time pequeno de apenas dois artistas, é difícil abandonar o desejo de que Signalis fosse, na verdade, uma obra-prima em todos os sentidos.
Imagem 6
2003
Saya no Uta é uma visual novel clássica de terror da Nitroplus e uma das obras responsáveis por colocar o escritor Gen Urobuchi sob holofotes. É um romance que emprega um estilo de terror bem cru, do tipo que foca mais em aterrorizar o leitor com as situações e elementos perturbadores apresentados em cada cena do que com o suspense e o desenvolvimento da tensão (como é o que acontece em Higurashi, por exemplo).
Na história, Fuminori Sakisaka passa a enxergar e sentir o mundo como se tudo fosse feito de carne apodrecida. Não importa se ele está dentro de sua casa, na rua, ou na floresta: tudo é feito de sangue, vísceras e gordura. Até mesmo as outras pessoas, sejam desconhecidas ou amigos próximos, são vistas pelo Fuminori como monstros grotescos feitos de carne exposta. E no meio de um ambiente tão nauseante e enlouquecedor, ele conhece a adorável Saya, a única pessoa que ele é capaz de enxergar e interagir de forma humana.
Além do Fuminori e da Saya, no entanto, a história também é narrada pela perspectiva de outros personagens, em especial a do Kouji, que é um velho amigo do protagonista e possui um papel central na segunda metade do enredo. Essa mudança de perspectivas é muito hábil em apresentar a dicotomia entre o mundo real e o mundo pela visão do Fuminori, oferecendo maior contraste aos atos insanos e vis que alguns personagens realizam na história.
As inspirações no terror cósmico de H.P. Lovecraft também são bem claras. Toda a ideia de humanos serem levados à loucura graças à interferência de seres de outros mundos faz-se presente em Saya no Uta. Porém, o romance conta uma história com muito menos escrúpulos do que Lovecraft costumava fazer: embora cenas de morte e outros atos sanguinolentos não cheguem a ser tão explícitas ou chocantes, as cenas de sexo são. E muito.
Essas cenas são frequentes durante todo o decorrer da visual novel e basicamente todas elas apresentam algum tipo de ato imoral, incluindo estupro e abuso. E ao contrário do que se vê em outras obras do meio, esses momentos estão inclusos diretamente na narrativa e aparecem sem qualquer tipo de alerta. Nesse sentido, o sexo é parte intrínseca do terror que o roteiro pretende construir, mas a forma bastante erotizada com a qual ele é sempre retratado por meio do texto e da arte pode ser repulsivo até demais.
Vale destacar também a fantástica trilha sonora. É cheia de melodias maravilhosamente horripilantes e muita, mas muita distorção, o que combina feito uma luva com o clima de loucura da obra. A faixa Schizophrenia, por exemplo, perfeitamente captura o estado mental do Fuminori. Por outro lado, o tema da Saya é melancólico, assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante, representando a personagem de forma ideal.
No mais, embora seja uma visual novel difícil de recomendar devido à abordagem de seu conteúdo sexual, ainda é uma história de terror bastante imersiva e envolvente, fácil de ser lida em um único dia.
Na história, Fuminori Sakisaka passa a enxergar e sentir o mundo como se tudo fosse feito de carne apodrecida. Não importa se ele está dentro de sua casa, na rua, ou na floresta: tudo é feito de sangue, vísceras e gordura. Até mesmo as outras pessoas, sejam desconhecidas ou amigos próximos, são vistas pelo Fuminori como monstros grotescos feitos de carne exposta. E no meio de um ambiente tão nauseante e enlouquecedor, ele conhece a adorável Saya, a única pessoa que ele é capaz de enxergar e interagir de forma humana.
Além do Fuminori e da Saya, no entanto, a história também é narrada pela perspectiva de outros personagens, em especial a do Kouji, que é um velho amigo do protagonista e possui um papel central na segunda metade do enredo. Essa mudança de perspectivas é muito hábil em apresentar a dicotomia entre o mundo real e o mundo pela visão do Fuminori, oferecendo maior contraste aos atos insanos e vis que alguns personagens realizam na história.
As inspirações no terror cósmico de H.P. Lovecraft também são bem claras. Toda a ideia de humanos serem levados à loucura graças à interferência de seres de outros mundos faz-se presente em Saya no Uta. Porém, o romance conta uma história com muito menos escrúpulos do que Lovecraft costumava fazer: embora cenas de morte e outros atos sanguinolentos não cheguem a ser tão explícitas ou chocantes, as cenas de sexo são. E muito.
Essas cenas são frequentes durante todo o decorrer da visual novel e basicamente todas elas apresentam algum tipo de ato imoral, incluindo estupro e abuso. E ao contrário do que se vê em outras obras do meio, esses momentos estão inclusos diretamente na narrativa e aparecem sem qualquer tipo de alerta. Nesse sentido, o sexo é parte intrínseca do terror que o roteiro pretende construir, mas a forma bastante erotizada com a qual ele é sempre retratado por meio do texto e da arte pode ser repulsivo até demais.
Vale destacar também a fantástica trilha sonora. É cheia de melodias maravilhosamente horripilantes e muita, mas muita distorção, o que combina feito uma luva com o clima de loucura da obra. A faixa Schizophrenia, por exemplo, perfeitamente captura o estado mental do Fuminori. Por outro lado, o tema da Saya é melancólico, assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante, representando a personagem de forma ideal.
No mais, embora seja uma visual novel difícil de recomendar devido à abordagem de seu conteúdo sexual, ainda é uma história de terror bastante imersiva e envolvente, fácil de ser lida em um único dia.
2020
Existem diversas comparações entre Little Witch Nobeta e Dark Souls internet afora, mas verdade seja dita, no geral as semelhanças são bastante superficiais. O jogo utiliza, sim, um sistema de check-point que é realmente igual às fogueiras dos jogos da FromSoftware, porém os outros elementos que compõem sua jogabilidade formam um tipo de experiência completamente diferente.
Para começar, a exploração é relativamente básica, ainda que eficaz o suficiente dentro do contexto do jogo. Basicamente se resume a encontrar baús escondidos (eu mesmo não achei todos) que guardam melhorias para as magias da personagem e, em alguns casos, itens consumíveis que pouco são úteis. Também existem alguns itens coletáveis que não servem para nada além de contar um pouco mais da historinha por trás do mundo do jogo, e que são adquiríveis ao derrotar-se inimigos específicos (o que é bem legal) ou encontrando-os em lugares simplesmente aleatórios (o que não é tão legal).
Eu diria que o level design como um todo é consideravelmente bem elaborado. As fases começam simples e até mesmo entediantes, mas melhoram a partir da área do castelo coberta por lava. Não chega a ter nenhum momento genial e de criatividade exorbitante, mas há variedade o suficiente em questão de layout e de progressão para diversificar o ritmo de aventura, incluindo áreas com mecânicas únicas e alguns quebra-cabeças super simples.
O combate, por outro lado, é o que me deixa um pouco mais divido em relação ao jogo. Mecanicamente, ele é bem interessante, com ideias que complementam umas às outras (o ataque corpo a corpo, por exemplo, embora aplique pouco dano por si só aos inimigos, recupera a mana utilizada para o uso de magias), mas se torna um pouco repetitivo e desequilibrado. Isso porque, por boa parte do tempo, a variedade de inimigos permanece muito baixa (embora isso melhore mais próximo ao final do jogo) e algumas das quatro magias de ataque disponíveis ao jogador ficam um tanto triviais. Fora um momento muito específico numa das áreas finais, a magia de gelo se torna ineficaz, por exemplo. O mesmo vale para o elemento Arcana, que fica por muito tempo esquecido.
Uma coisa curiosa nesse jogo é que três das antagonistas são dubladas por integrantes da Hololive, e a performance da Polka e da Fubuki como Tania e Monica, respectivamente, é muito efetiva. A Shirogane Noel como Vanessa, por sua vez, já não é tão convincente. Não chega a ser ruim e fica claro um esforço muito digno por parte dela em encorpar a voz para fazer jus ao estilo da personagem, mas às vezes, a entonação de suas falas não condiz muito com o que está sendo apresentado em tela.
Já a protagonista, Nobeta, conta com a atuação da experiente Konomi Kohara (conhecia como a voz da Chika em Kaguya-sama, da Mona em Genshin Impact, da Roxy em Mushoku Tensei, entre muitas outras).
Um último destaque fica para a trilha sonora bem bacana composta por Oli Jan. As músicas dão uma baita contribuição à atmosfera do jogo, fora que os temas das batalhas contra chefes são devidamente inspirados. Aqui um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=N8ywzOCqPwA
De forma geral, é um jogo bem fofo e até que divertido.
Para começar, a exploração é relativamente básica, ainda que eficaz o suficiente dentro do contexto do jogo. Basicamente se resume a encontrar baús escondidos (eu mesmo não achei todos) que guardam melhorias para as magias da personagem e, em alguns casos, itens consumíveis que pouco são úteis. Também existem alguns itens coletáveis que não servem para nada além de contar um pouco mais da historinha por trás do mundo do jogo, e que são adquiríveis ao derrotar-se inimigos específicos (o que é bem legal) ou encontrando-os em lugares simplesmente aleatórios (o que não é tão legal).
Eu diria que o level design como um todo é consideravelmente bem elaborado. As fases começam simples e até mesmo entediantes, mas melhoram a partir da área do castelo coberta por lava. Não chega a ter nenhum momento genial e de criatividade exorbitante, mas há variedade o suficiente em questão de layout e de progressão para diversificar o ritmo de aventura, incluindo áreas com mecânicas únicas e alguns quebra-cabeças super simples.
O combate, por outro lado, é o que me deixa um pouco mais divido em relação ao jogo. Mecanicamente, ele é bem interessante, com ideias que complementam umas às outras (o ataque corpo a corpo, por exemplo, embora aplique pouco dano por si só aos inimigos, recupera a mana utilizada para o uso de magias), mas se torna um pouco repetitivo e desequilibrado. Isso porque, por boa parte do tempo, a variedade de inimigos permanece muito baixa (embora isso melhore mais próximo ao final do jogo) e algumas das quatro magias de ataque disponíveis ao jogador ficam um tanto triviais. Fora um momento muito específico numa das áreas finais, a magia de gelo se torna ineficaz, por exemplo. O mesmo vale para o elemento Arcana, que fica por muito tempo esquecido.
Uma coisa curiosa nesse jogo é que três das antagonistas são dubladas por integrantes da Hololive, e a performance da Polka e da Fubuki como Tania e Monica, respectivamente, é muito efetiva. A Shirogane Noel como Vanessa, por sua vez, já não é tão convincente. Não chega a ser ruim e fica claro um esforço muito digno por parte dela em encorpar a voz para fazer jus ao estilo da personagem, mas às vezes, a entonação de suas falas não condiz muito com o que está sendo apresentado em tela.
Já a protagonista, Nobeta, conta com a atuação da experiente Konomi Kohara (conhecia como a voz da Chika em Kaguya-sama, da Mona em Genshin Impact, da Roxy em Mushoku Tensei, entre muitas outras).
Um último destaque fica para a trilha sonora bem bacana composta por Oli Jan. As músicas dão uma baita contribuição à atmosfera do jogo, fora que os temas das batalhas contra chefes são devidamente inspirados. Aqui um exemplo: https://www.youtube.com/watch?v=N8ywzOCqPwA
De forma geral, é um jogo bem fofo e até que divertido.
Code: Veronica não conta com nada de muito único que o destaque em relação aos jogos anteriores da série, fora a escala maior. As áreas são mais abertas e a quantidade de inimigos, munição e ervas espalhados pela campanha é facilmente a mais alta até então. Também tem a questão do jogo ser completamente 3D, mas por consequência, os cenários são muito menos ricos e, às vezes, até sem vida quando comparados a Resident Evil 3.
As fases amplas também trazem consigo o maior problema do jogo: o backtracking excessivo e entediante. Um perfeito exemplo disso se encontra em um dos puzzles finais, quando o Chris precisa retirar as duas joias da estátua de tigre, indo e voltando repetidas vezes caso o jogador tenha levado alguma delas precipitadamente (como foi o meu caso). Nessa área, inclusive, para deixar o vai e vem ainda mais obtuso, até a máquina de escrever fica em uma sala distante do baú!
Na ilha inicial do jogo, o design de fases permite ao jogador cumprir alguns objetivos na ordem que preferir (como ir até a mansão secreta antes de explorar a instalação militar ou vice-versa), mas também acaba resultando em inúmeras caminhadas extremamente repetitivas e longas. E tudo isso é acompanhado por aquele monte de telas de carregamento demoradas. É um saco!
Também quero deixar registrado aqui o meu desprezo pelos monstros amarelos que esticam o braço. Eles já são chatos o bastante em áreas abertas, mas o jogo teima em colocar alguns em salas fechadas (há uma sala minúscula com dois deles ao mesmo tempo, deixando quase impossível passar dela sem tomar um monte de golpes). Com certeza o pior inimigo que já vi em um Resident Evil. E aproveitando o assunto, o corredor com as mariposas infinitas também é detestável.
No entanto, mesmo com todos os negativos, o jogo ainda diverte. A jogabilidade de momento a momento carrega os fundamentos que tornam os jogos originais da série tão profundos e cativantes, a despeito das frustrações introduzidas em Code: Veronica.
As fases amplas também trazem consigo o maior problema do jogo: o backtracking excessivo e entediante. Um perfeito exemplo disso se encontra em um dos puzzles finais, quando o Chris precisa retirar as duas joias da estátua de tigre, indo e voltando repetidas vezes caso o jogador tenha levado alguma delas precipitadamente (como foi o meu caso). Nessa área, inclusive, para deixar o vai e vem ainda mais obtuso, até a máquina de escrever fica em uma sala distante do baú!
Na ilha inicial do jogo, o design de fases permite ao jogador cumprir alguns objetivos na ordem que preferir (como ir até a mansão secreta antes de explorar a instalação militar ou vice-versa), mas também acaba resultando em inúmeras caminhadas extremamente repetitivas e longas. E tudo isso é acompanhado por aquele monte de telas de carregamento demoradas. É um saco!
Também quero deixar registrado aqui o meu desprezo pelos monstros amarelos que esticam o braço. Eles já são chatos o bastante em áreas abertas, mas o jogo teima em colocar alguns em salas fechadas (há uma sala minúscula com dois deles ao mesmo tempo, deixando quase impossível passar dela sem tomar um monte de golpes). Com certeza o pior inimigo que já vi em um Resident Evil. E aproveitando o assunto, o corredor com as mariposas infinitas também é detestável.
No entanto, mesmo com todos os negativos, o jogo ainda diverte. A jogabilidade de momento a momento carrega os fundamentos que tornam os jogos originais da série tão profundos e cativantes, a despeito das frustrações introduzidas em Code: Veronica.
Posso dizer com confiança que, de modo geral, gostei mais de Resident Evil Village do que do 7. O oitavo título deixa de lado a maior parte das mecânicas de terror do antecessor, mas em contrapartida entrega um jogo mais diversificado, uma segunda metade mais consistente e algumas sequências de combate bem divertidas.
O problema, entretanto, é que a linearidade excessiva de algumas fases acaba resultando num baita potencial desperdiçado. O Castelo Dimitrescu é o maior exemplo disso: o que parecia ser o grande destaque do jogo, na verdade não passa de uma casa mal-assombrada de parque de diversões, onde a exploração é deixada de lado e todos os itens necessários para avançar são entregues de bandeja ao jogador. O trecho tem, sim, coisas legais, como o combate na adega e a própria Dimitrescu perseguindo o jogador, mas a progressão dentro do castelo é muito decepcionante.
É a fase da fábrica, na verdade, que é o ponto mais alto do jogo. São três andares para exploração, ligados por uma quest criativa envolvendo a coleta de moldes e com direito a segredos que exigem atenção e um backtracking muito legal. Além disso, os inimigos únicos da área oferecem oportunidades de confrontos extremamente instigantes.
Outras partes do jogo também são boas, em especial a área central da vila, que conta com alguns momentos opcionais de exploração, e a fortaleza, que contém a melhor seção de combate durante toda a campanha. A casa Beneviento é mais um destaque, embora eu imagine que boa parte da graça dela vá embora durante jogadas subsequentes, especialmente se não houver aleatoriedade no posicionamento do chefe.
Só é uma pena que o jogo perca algumas oportunidades bem grandes. Fora o já mencionado trecho do castelo, o sistema de inventário inspirado em Resident Evil 4 é inteiramente desperdiçado em favor de oferecer tanto espaço ao jogador que nunca nem é necessário manuseá-lo. Ou seja, o inventário perde toda sua razão de existir em Village.
O problema, entretanto, é que a linearidade excessiva de algumas fases acaba resultando num baita potencial desperdiçado. O Castelo Dimitrescu é o maior exemplo disso: o que parecia ser o grande destaque do jogo, na verdade não passa de uma casa mal-assombrada de parque de diversões, onde a exploração é deixada de lado e todos os itens necessários para avançar são entregues de bandeja ao jogador. O trecho tem, sim, coisas legais, como o combate na adega e a própria Dimitrescu perseguindo o jogador, mas a progressão dentro do castelo é muito decepcionante.
É a fase da fábrica, na verdade, que é o ponto mais alto do jogo. São três andares para exploração, ligados por uma quest criativa envolvendo a coleta de moldes e com direito a segredos que exigem atenção e um backtracking muito legal. Além disso, os inimigos únicos da área oferecem oportunidades de confrontos extremamente instigantes.
Outras partes do jogo também são boas, em especial a área central da vila, que conta com alguns momentos opcionais de exploração, e a fortaleza, que contém a melhor seção de combate durante toda a campanha. A casa Beneviento é mais um destaque, embora eu imagine que boa parte da graça dela vá embora durante jogadas subsequentes, especialmente se não houver aleatoriedade no posicionamento do chefe.
Só é uma pena que o jogo perca algumas oportunidades bem grandes. Fora o já mencionado trecho do castelo, o sistema de inventário inspirado em Resident Evil 4 é inteiramente desperdiçado em favor de oferecer tanto espaço ao jogador que nunca nem é necessário manuseá-lo. Ou seja, o inventário perde toda sua razão de existir em Village.
Um jogo bem simples, mas completamente anêmico. Ao mesmo tempo que não tem nada de muito ruim (com exceção do enredo e da atuação, que é ainda pior que a do primeiro jogo), tudo nele é tão sem graça que mal chega a divertir. Ao menos a curta duração (terminei em menos de 2 horas) impede o jogador de morrer de tédio.
O level design é irrelevante o jogo inteiro e raramente o combate oferece alguma coisa interessante, tanto que até mesmo o amontoado de Tyrants que aparecem são bem triviais (a ponto de ridicularizar esses que sempre foram monstros bem imponentes dentro da série). Os Hunters são de longe os inimigos mais perigosos e, sabendo disso, o jogo adora utilizá-los o tempo todo.
Enfim, não fede, nem cheira, mas valeu a pena jogar para matar a curiosidade.
O level design é irrelevante o jogo inteiro e raramente o combate oferece alguma coisa interessante, tanto que até mesmo o amontoado de Tyrants que aparecem são bem triviais (a ponto de ridicularizar esses que sempre foram monstros bem imponentes dentro da série). Os Hunters são de longe os inimigos mais perigosos e, sabendo disso, o jogo adora utilizá-los o tempo todo.
Enfim, não fede, nem cheira, mas valeu a pena jogar para matar a curiosidade.
https://www.youtube.com/watch?v=jvLP_qEMvsg (Alvanista Tournament #10 - Best Moments)
Plus R is not only the best entry in the Guilty Gear series to date, but also one of the greatest fighting games of all time. It's dynamic and mechanically unique, featuring an intriguingly deep and extremely freeform combo system.
The game does have some quite dominating and annoying characters to fight against (Zappa and Testament), but the overall roster is so diverse, so unique and so full of charisma that it's almost impossible not to fall in love with at least one of its 25 characters. It's my experience with Jam Kuradoberi, who ended up becoming my favorite character out of all fighting games.
And to top it off, it has THE BEST online environment currently available in a fighting game. Basically no other, not even those that also include rollback netcode, reach the same level of practicality and efficiency when it comes to finding multiplayer matches.
Guilty Gear Plus R is amazing through and through.
Plus R is not only the best entry in the Guilty Gear series to date, but also one of the greatest fighting games of all time. It's dynamic and mechanically unique, featuring an intriguingly deep and extremely freeform combo system.
The game does have some quite dominating and annoying characters to fight against (Zappa and Testament), but the overall roster is so diverse, so unique and so full of charisma that it's almost impossible not to fall in love with at least one of its 25 characters. It's my experience with Jam Kuradoberi, who ended up becoming my favorite character out of all fighting games.
And to top it off, it has THE BEST online environment currently available in a fighting game. Basically no other, not even those that also include rollback netcode, reach the same level of practicality and efficiency when it comes to finding multiplayer matches.
Guilty Gear Plus R is amazing through and through.
2004