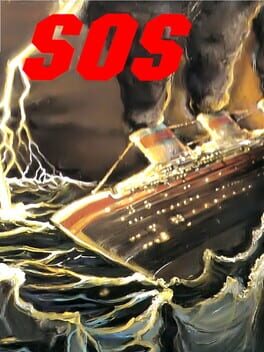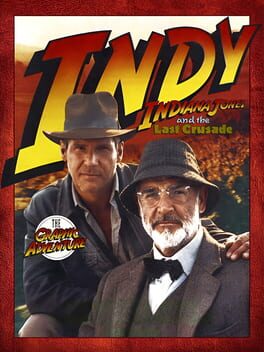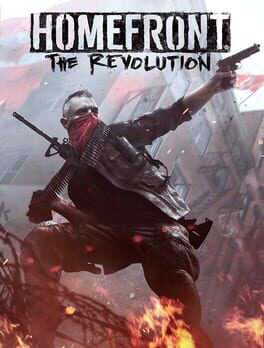felipelee
2016
Curtinho do jeito que eu gosto e desafiador mesmo no Easy. Mecânica de warp muito divertida, mas n entendi muito bem o sistema de power-ups.
Às vezes ele põe um power up em um lado, às vezes no outro, às vezes faz um upgrade, às vezes soa com um downgrade, é um pouco confuso, não parece ser uma boa ideia pegar qualquer um que aparece.
O humor nas cutscenes é engraçadinho, mas o ritmo das cutscene é um pouco arrastado e não tem como acelerar. Se apertar qualquer botão a cutscene é pulada e o nível inicia (mas eu só queria acelerar a fala, buáá)
Às vezes ele põe um power up em um lado, às vezes no outro, às vezes faz um upgrade, às vezes soa com um downgrade, é um pouco confuso, não parece ser uma boa ideia pegar qualquer um que aparece.
O humor nas cutscenes é engraçadinho, mas o ritmo das cutscene é um pouco arrastado e não tem como acelerar. Se apertar qualquer botão a cutscene é pulada e o nível inicia (mas eu só queria acelerar a fala, buáá)
2023
Kirby passa longe de ser uma das minhas franquias favoritas. Tendo crescido nos anos 90 com outros tipos de plataforma mais desafiadores, conheci a franquia já mais velho e sempre achei fácil demais, simples demais e num geral, mediano.
The Crystal Shards em comparação a outros Kirbies traz o interessantíssimo conceito de fusão de absorções, algo intrigante que infelizmente não é ensinado no decorrer do jogo, mas sim no encarte/manual. Se você não o ler, talvez termine o jogo sem saber dessa possibilidade que junto dos chefes é a melhor coisa da experiência.
Os níveis são interessantes. Há bastante verticalidade e curiosamente é um jogo ligeiramente mais difícil que outros jogos da franquia. Sem power-ups, o Kirby é bastante limitado e impotente e se em alguns jogos é possível "voar" pela fase inteira, aqui uma restrição impede que o jogador abuse da habilidade e evite ter de enfrentar inimigos e obstáculos.
É saudável retornar a fases já vencidas pra coletar cristais que o jogador talvez não tenha conseguido pegar, seja por uma falha em executar um desafio específico (manobrar em uma queda, explorar um cômodo específico), seja pela necessidade de ter um power-up específico pra conseguir determinado cristal. Mas o ritmo de jogo mais lento talvez seja um desincentivo, especialmente se você estiver experimentando o jogo pra conhecer a franquia, ao invés de investido em completá-lo 100%.
A fusão de power-ups dá toda uma dimensão de curiosidade e experimentação que diverte por um bom período até que seja possível ao jogador encontrar uma combinação que lhe traga conforto e a sensação de poder que lhe agrade. Mas aqui e acolá tem desafios que exigem uma combinação específica que acaba requerendo que o jogador retorne posteriormente com outros poderes pra conseguir coletar. Esse backtracking não é muito animador, porque é necessário descobrir qual é, onde pegar e só depois tentar. Esse processo pode consumir MUITO tempo e sinceramente, como dito anteriormente, a velocidade e ritmo do jogo não torna tão convidativa essa tarefa.
Eu me diverti um bocado, mas não consegui me motivar a ir até o fim.
The Crystal Shards em comparação a outros Kirbies traz o interessantíssimo conceito de fusão de absorções, algo intrigante que infelizmente não é ensinado no decorrer do jogo, mas sim no encarte/manual. Se você não o ler, talvez termine o jogo sem saber dessa possibilidade que junto dos chefes é a melhor coisa da experiência.
Os níveis são interessantes. Há bastante verticalidade e curiosamente é um jogo ligeiramente mais difícil que outros jogos da franquia. Sem power-ups, o Kirby é bastante limitado e impotente e se em alguns jogos é possível "voar" pela fase inteira, aqui uma restrição impede que o jogador abuse da habilidade e evite ter de enfrentar inimigos e obstáculos.
É saudável retornar a fases já vencidas pra coletar cristais que o jogador talvez não tenha conseguido pegar, seja por uma falha em executar um desafio específico (manobrar em uma queda, explorar um cômodo específico), seja pela necessidade de ter um power-up específico pra conseguir determinado cristal. Mas o ritmo de jogo mais lento talvez seja um desincentivo, especialmente se você estiver experimentando o jogo pra conhecer a franquia, ao invés de investido em completá-lo 100%.
A fusão de power-ups dá toda uma dimensão de curiosidade e experimentação que diverte por um bom período até que seja possível ao jogador encontrar uma combinação que lhe traga conforto e a sensação de poder que lhe agrade. Mas aqui e acolá tem desafios que exigem uma combinação específica que acaba requerendo que o jogador retorne posteriormente com outros poderes pra conseguir coletar. Esse backtracking não é muito animador, porque é necessário descobrir qual é, onde pegar e só depois tentar. Esse processo pode consumir MUITO tempo e sinceramente, como dito anteriormente, a velocidade e ritmo do jogo não torna tão convidativa essa tarefa.
Eu me diverti um bocado, mas não consegui me motivar a ir até o fim.
1995
Na década de 90 eu me apaixonei por adventure por mérito de alguns ícones como as aventuras de Putt-Putt, da Humongous, e Maldição da Ilha dos Macacos e Full Throttle.
O misto de uma bela história com uma progressão dependente da realização de quebra-cabeças me fascinou tanto que quando criança eu me sentia às vezes dentro de um point’n’click, chegando a brincar sozinho em situações oportunas que eu estaria progredindo em uma “cena”. Saudades de brincar sozinho com a imaginação.
Isso porque o acesso não era tão simples a esses jogos, tanto em questão financeira, como também linguística, já que eu não sabia tanto de inglês. E por isso diversos jogos que eu via sendo elogiados na época ficaram “para depois”. Pois chegou a hora de The Dig, um jogo que um dos meus melhores amigos é apaixonado.
Como todo adventure das LucasArts, The Dig tem seus momentos infâmes de quebra-cabeças com lógica fora da caixa e solução obtusa. Se houver uma necessidade de ilustrar, imagine um determinado item que ao ser utilizado retorna sempre a mesma mensagem de descrição EXCETO se você o utilizar em um determinado local, o que provoca a ativação de um evento que revela um item que você já rodou o mapa inteiro pra encontrar e ele estava literalmente invisível.
Esse naipe de puzzle sempre foi algo apontado por críticos, uma vez que a necessidade de tais soluções mirabolantes era vender guias, serviço de dicas ao jogador ou mesmo provocar trocas de experiências entre jogadores, algo que se fosse na era da Internet não teria razão de existir, exceto a troca de experiência, já que é o que mais fazemos em fóruns e redes sociais.
É algo que encaro um pouco como negativo, apesar de entender o motivo pelo qual existem, especialmente porque jogos adventure tem duração média de poucas horas quando o jogador sabe exatamente o que fazer. Algo que poderia durar meses e meses de experimentação e troca entre jogadores é factível em 2 horas, por exemplo, que é o que levo eu pra terminar Full Throttle do começo ao fim, o que o torna muito mais próximo da duração de um filme.
Tais puzzles foram feitos com o intuito notório de alongar a duração dos jogos. Imagine como jogador ou mesmo como desenvolvedor passar meses e meses sem lançar/jogar um jogo enquanto ele é desenvolvido para no fim ele durar 2-3 horas. Talvez fosse frustrante financeiramente também na década de 90 investir um alto valor em um jogo, após meses de espera, e ele durar pouquinhas horas porque seus quebra-cabeças são muito fáceis.
Penso que com isso em mente os devs de adventure da época se esforçavam para esticar a baladeira e pensar em quebra-cabeças dificílimos de serem resolvidos, o que hoje facilmente os criticamos pelo seu caráter altamente obtuso.
Este então é o único ponto relevante de se destacar em The Dig que possa diminuir sua magia. Trata-se de um roteiro hollywoodiano onde uma equipe de astronautas ao realizar uma missão para salvar a Terra acabando descobrindo muito mais do que imaginavam e são envolvidos em um mistério alienígena altamente estimulante, com muito sabor de ficção científica fantasiosa.
The Dig tem uma trilha sonora deliciosa, acompanhada de diálogos com atuação de voz completa, com direito a um mix de terror, suspense, humor e aventura em um só pacote.
Pra todos os efeitos, é o que tínhamos na época de mais cinemático em matéria de jogos e ainda fazem muito bonito hoje em dia com suas animações 2D em pixel art.
O misto de uma bela história com uma progressão dependente da realização de quebra-cabeças me fascinou tanto que quando criança eu me sentia às vezes dentro de um point’n’click, chegando a brincar sozinho em situações oportunas que eu estaria progredindo em uma “cena”. Saudades de brincar sozinho com a imaginação.
Isso porque o acesso não era tão simples a esses jogos, tanto em questão financeira, como também linguística, já que eu não sabia tanto de inglês. E por isso diversos jogos que eu via sendo elogiados na época ficaram “para depois”. Pois chegou a hora de The Dig, um jogo que um dos meus melhores amigos é apaixonado.
Como todo adventure das LucasArts, The Dig tem seus momentos infâmes de quebra-cabeças com lógica fora da caixa e solução obtusa. Se houver uma necessidade de ilustrar, imagine um determinado item que ao ser utilizado retorna sempre a mesma mensagem de descrição EXCETO se você o utilizar em um determinado local, o que provoca a ativação de um evento que revela um item que você já rodou o mapa inteiro pra encontrar e ele estava literalmente invisível.
Esse naipe de puzzle sempre foi algo apontado por críticos, uma vez que a necessidade de tais soluções mirabolantes era vender guias, serviço de dicas ao jogador ou mesmo provocar trocas de experiências entre jogadores, algo que se fosse na era da Internet não teria razão de existir, exceto a troca de experiência, já que é o que mais fazemos em fóruns e redes sociais.
É algo que encaro um pouco como negativo, apesar de entender o motivo pelo qual existem, especialmente porque jogos adventure tem duração média de poucas horas quando o jogador sabe exatamente o que fazer. Algo que poderia durar meses e meses de experimentação e troca entre jogadores é factível em 2 horas, por exemplo, que é o que levo eu pra terminar Full Throttle do começo ao fim, o que o torna muito mais próximo da duração de um filme.
Tais puzzles foram feitos com o intuito notório de alongar a duração dos jogos. Imagine como jogador ou mesmo como desenvolvedor passar meses e meses sem lançar/jogar um jogo enquanto ele é desenvolvido para no fim ele durar 2-3 horas. Talvez fosse frustrante financeiramente também na década de 90 investir um alto valor em um jogo, após meses de espera, e ele durar pouquinhas horas porque seus quebra-cabeças são muito fáceis.
Penso que com isso em mente os devs de adventure da época se esforçavam para esticar a baladeira e pensar em quebra-cabeças dificílimos de serem resolvidos, o que hoje facilmente os criticamos pelo seu caráter altamente obtuso.
Este então é o único ponto relevante de se destacar em The Dig que possa diminuir sua magia. Trata-se de um roteiro hollywoodiano onde uma equipe de astronautas ao realizar uma missão para salvar a Terra acabando descobrindo muito mais do que imaginavam e são envolvidos em um mistério alienígena altamente estimulante, com muito sabor de ficção científica fantasiosa.
The Dig tem uma trilha sonora deliciosa, acompanhada de diálogos com atuação de voz completa, com direito a um mix de terror, suspense, humor e aventura em um só pacote.
Pra todos os efeitos, é o que tínhamos na época de mais cinemático em matéria de jogos e ainda fazem muito bonito hoje em dia com suas animações 2D em pixel art.
2022
Pentiment é uma grata surpresa em meio ao modelo de produção de jogos da atualidade. Enquanto a maioria dos estúdios AAA foca em explorar e extrair a excelência de suas maiores franquias, o que nem sempre se mostra possível, ou sequer crível que estejam tentando, vemos uma grande publisher, no caso a Microsoft, permitir que os estúdios grandes experimentem com projetos fora do que mais rende financeiramente e trazer inovação, frescor e experiências mais ricas e diversas no grande mar que despeja todos os meses uma grande quantidade de jogos nas prateleiras reais e virtuais.
A Obsidian é já famosa pelo esmero narrativo que implementa em seus jogos. Desde RPGs pesados como Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas e Pillars of Eternity até jogos com mais ação como Alpha Protocol e Armored Warfare e Grounded, a “narrativa” costuma ser um ponto de destaque de seus jogos. As aspas se referem ao fato de “narrativa” no mundo dos jogos se referir de forma lato a “roteiro”, “narrativa”, “diálogos” e “desenvolvimento temático” do que exatamente aos conceitos mais tradicionais de narrativa utilizados na literatura e no cinema.
Pentiment pode sair de forma mais mecânica do que o estúdio costuma fazer, mas puxa pra si uma temática de ambientação pouco comum no mundo dos jogos e talvez inédita em matéria de contexto histórico-geográfico para imprimir sua qualidade narrativa. Trata-se de um período histórico real e raro, apesar de figurar em outras mídias com mais frequência, onde em um gameplay moderno do gênero adventure se desenvolve um roteiro que empresta elementos de obras como o Nome da Rosa e Um Crime de Paixão para contar a história de Andrea Maller, um artista, que se envolve na investigação de um assassinato em uma abadia, em busca de provar a inocência de seu amigo padre.
A direção de arte opta por uma belíssima referência a vitrais e desenhos encontrados em livros, tapeçaria e registros históricos europeus, após a queda de Roma e ascensão do Catolicismo na região da Bavaria, atual Alemanha.
Traços de arte pagãs e sacras se misturam não apenas para personagens, mas todo o ambiente onde a história é contada e o jogador interage, que busca replicar o estilo característico do período também nas interfaces e menus do jogo.
A arte sonora segue na mesma linha, com sons de manuseio de pergaminhos, páginas de livro e materiais de papelaria, sem esquecer da trilha sonora inspirada em instrumentos como o alaúde e a gaita de foles. Toda a atmosfera transporta o jogador para uma experiência artística impecável de altíssima qualidade.
Não satisfeito com uma apresentação invejável, o roteiro e o gameplay se aventuram nos terrenos da narrativa ramificada, com diversas variações de desenvolvimento que refletem escolhas impactantes do jogador.
Aqui mora uma das coisas que pessoalmente não fui feliz com o jogo. Ele se utiliza de uma proposta de liberdade incomum onde certos eventos canônicos precisam que o jogador aponte respostas para as lacunas apresentadas. Essa proposta cria um senso irretocável de liberdade de condução da história, e com consequências diretas de suas decisões, algo que é bastante valorizado em títulos como a série Persona.
Mas ao mesmo tempo torna as respostas decididas pelo jogador como algo que em inglês chamam de “headcanon”. Não existe “resposta certa” ou “resposta errada”, apenas uma verdade traçada pelas ações do jogador que se tornam fatos para aquele jogador.
Isso significa que ações que eu tome neste gameplay impactam em trechos da história lacunosos e cuja resposta não importa se está certa ou errada, pois serão consideradas como verdade para essa experiência.
Esse traço talvez conquiste muitos jogadores, mas eu pessoalmente prefiro algo mais concreto e universal, uma verdade que uma vez descoberta vale como cânone para qualquer um, quando se fala de histórias de investigação criminal.
Tal direção tira o impacto das decisões, em minha opinião, e faz com que a investigação se torne mais interessante do que a própria conclusão da mesma. O texto de Pentiment é algo capaz de sustentar essa troca de foco, contudo.
Os diálogos de Pentiment são humanos, são reais. Eles conseguem abordar diversos aspectos individuais, políticos e sociais dos personagens e os conferem personalidade, profundidade e propósito. As pessoas da vila de Tassing são bastante críveis e marcantes. Fontes diferentes são escolhidas para representar a linha de cada personagem e adicionam mais uma camada de personalização de cada cidadão. É algo que costumo ver mais presente no idioma japonês, já que até mesmo a opção de caractere (kanji) reflete a personalidade de um indivíduo.
Quase tudo em Pentiment trata-se de diálogo, inclusive. A mecânica de interação simplificada basicamente permite ao jogador observar algo ou conversar com alguém, com alguns poucos momentos onde um minigame toma o controle do personagem e quebra o loop.
Aqui talvez Pentiment divide seus maiores acertos e, no meu caso, minha maiores frustrações. Praticamente todos os diálogos permitem que o jogador selecione dentre 2 ou mais opções uma maneira de dar continuidade, algo que não é novo, longe disso, mas finamente executado. Apesar de impecável tecnicamente falando, a mim esse tipo de interação sempre me causa a preocupação de ter optado por uma péssima resposta e ter inviabilizado algum tipo de relacionamento com aquela pessoa.
Uma resposta que agrada ou desagrada alguém exibe um “Isto será lembrado” alertando que uma decisão impactante foi tomada naquele momento. E de fato, várias vezes há uma espécie de “teste de persuasão” de um personagem ou outro, porém dependendo das interações anteriores um sucesso é impossível e nada pode ser feito quanto a isso.
Isso me frustra demais justamente porque quando falamos de RPG de mesa ou mesmo vida real, há uma possibilidade de “reteste”, de argumentação com a pessoa, de um pedido de desculpas, algo que auxilie a contornar um problema.
Em CRPGs e Adventures esse tipo de design é determinante e imutável, ainda mais pela ausência de múltiplos saves. Se você falhou em uma persuasão, anote os motivos e quem sabe em uma nova jogada você tome decisões diferentes que irão alterar esse resultado.
Vale a pena? Sinceramente, creio que não. As mudanças entre cada decisão são pequenas e não tem tanto impacto nos pontos principais da história, apenas em detalhes que pavimentam o entorno dos eventos da trama central. Somente um complecionista rejogaria esse jogo para conseguir todos os troféus atrelados a resultados específicos.
Por me passar essa sensação constante de preocupação com “decisões certas ou erradas”, que precisei me desvencilhar, Pentiment acabou tirando muito da minha vontade de rejogar e até do peso das minhas decisões, motivo pelo qual, um dos grandes destaques narrativos da proposta não passou de algo frustrante e sem muita importância pra mim.
Dito isto, o desfecho do grande mistério de Tassing é bem escrito e adulto. Há diversos temas maduros que são tratados no texto, com tragédias imutáveis, muita dor e sofrimento humano e até uma lógica sólida por trás dos atos vilanescos que antagonizam o roteiro, humanizando e o tornando ainda mais crível.
Em questão de design Pentiment foi decepcionante pra mim. Tanto quanto um jogo narrativo, quanto em matéria de puzzles e riqueza de mecânicas para seu gênero. Mas como experiência, Pentiment justifica bem suas escolhas criativas se mostrando forte em personalidade, estilo e ousadia. Uma obra notável que deve ser bastante destacada pelos seus feitos e contexto.
A Obsidian é já famosa pelo esmero narrativo que implementa em seus jogos. Desde RPGs pesados como Neverwinter Nights 2, Fallout New Vegas e Pillars of Eternity até jogos com mais ação como Alpha Protocol e Armored Warfare e Grounded, a “narrativa” costuma ser um ponto de destaque de seus jogos. As aspas se referem ao fato de “narrativa” no mundo dos jogos se referir de forma lato a “roteiro”, “narrativa”, “diálogos” e “desenvolvimento temático” do que exatamente aos conceitos mais tradicionais de narrativa utilizados na literatura e no cinema.
Pentiment pode sair de forma mais mecânica do que o estúdio costuma fazer, mas puxa pra si uma temática de ambientação pouco comum no mundo dos jogos e talvez inédita em matéria de contexto histórico-geográfico para imprimir sua qualidade narrativa. Trata-se de um período histórico real e raro, apesar de figurar em outras mídias com mais frequência, onde em um gameplay moderno do gênero adventure se desenvolve um roteiro que empresta elementos de obras como o Nome da Rosa e Um Crime de Paixão para contar a história de Andrea Maller, um artista, que se envolve na investigação de um assassinato em uma abadia, em busca de provar a inocência de seu amigo padre.
A direção de arte opta por uma belíssima referência a vitrais e desenhos encontrados em livros, tapeçaria e registros históricos europeus, após a queda de Roma e ascensão do Catolicismo na região da Bavaria, atual Alemanha.
Traços de arte pagãs e sacras se misturam não apenas para personagens, mas todo o ambiente onde a história é contada e o jogador interage, que busca replicar o estilo característico do período também nas interfaces e menus do jogo.
A arte sonora segue na mesma linha, com sons de manuseio de pergaminhos, páginas de livro e materiais de papelaria, sem esquecer da trilha sonora inspirada em instrumentos como o alaúde e a gaita de foles. Toda a atmosfera transporta o jogador para uma experiência artística impecável de altíssima qualidade.
Não satisfeito com uma apresentação invejável, o roteiro e o gameplay se aventuram nos terrenos da narrativa ramificada, com diversas variações de desenvolvimento que refletem escolhas impactantes do jogador.
Aqui mora uma das coisas que pessoalmente não fui feliz com o jogo. Ele se utiliza de uma proposta de liberdade incomum onde certos eventos canônicos precisam que o jogador aponte respostas para as lacunas apresentadas. Essa proposta cria um senso irretocável de liberdade de condução da história, e com consequências diretas de suas decisões, algo que é bastante valorizado em títulos como a série Persona.
Mas ao mesmo tempo torna as respostas decididas pelo jogador como algo que em inglês chamam de “headcanon”. Não existe “resposta certa” ou “resposta errada”, apenas uma verdade traçada pelas ações do jogador que se tornam fatos para aquele jogador.
Isso significa que ações que eu tome neste gameplay impactam em trechos da história lacunosos e cuja resposta não importa se está certa ou errada, pois serão consideradas como verdade para essa experiência.
Esse traço talvez conquiste muitos jogadores, mas eu pessoalmente prefiro algo mais concreto e universal, uma verdade que uma vez descoberta vale como cânone para qualquer um, quando se fala de histórias de investigação criminal.
Tal direção tira o impacto das decisões, em minha opinião, e faz com que a investigação se torne mais interessante do que a própria conclusão da mesma. O texto de Pentiment é algo capaz de sustentar essa troca de foco, contudo.
Os diálogos de Pentiment são humanos, são reais. Eles conseguem abordar diversos aspectos individuais, políticos e sociais dos personagens e os conferem personalidade, profundidade e propósito. As pessoas da vila de Tassing são bastante críveis e marcantes. Fontes diferentes são escolhidas para representar a linha de cada personagem e adicionam mais uma camada de personalização de cada cidadão. É algo que costumo ver mais presente no idioma japonês, já que até mesmo a opção de caractere (kanji) reflete a personalidade de um indivíduo.
Quase tudo em Pentiment trata-se de diálogo, inclusive. A mecânica de interação simplificada basicamente permite ao jogador observar algo ou conversar com alguém, com alguns poucos momentos onde um minigame toma o controle do personagem e quebra o loop.
Aqui talvez Pentiment divide seus maiores acertos e, no meu caso, minha maiores frustrações. Praticamente todos os diálogos permitem que o jogador selecione dentre 2 ou mais opções uma maneira de dar continuidade, algo que não é novo, longe disso, mas finamente executado. Apesar de impecável tecnicamente falando, a mim esse tipo de interação sempre me causa a preocupação de ter optado por uma péssima resposta e ter inviabilizado algum tipo de relacionamento com aquela pessoa.
Uma resposta que agrada ou desagrada alguém exibe um “Isto será lembrado” alertando que uma decisão impactante foi tomada naquele momento. E de fato, várias vezes há uma espécie de “teste de persuasão” de um personagem ou outro, porém dependendo das interações anteriores um sucesso é impossível e nada pode ser feito quanto a isso.
Isso me frustra demais justamente porque quando falamos de RPG de mesa ou mesmo vida real, há uma possibilidade de “reteste”, de argumentação com a pessoa, de um pedido de desculpas, algo que auxilie a contornar um problema.
Em CRPGs e Adventures esse tipo de design é determinante e imutável, ainda mais pela ausência de múltiplos saves. Se você falhou em uma persuasão, anote os motivos e quem sabe em uma nova jogada você tome decisões diferentes que irão alterar esse resultado.
Vale a pena? Sinceramente, creio que não. As mudanças entre cada decisão são pequenas e não tem tanto impacto nos pontos principais da história, apenas em detalhes que pavimentam o entorno dos eventos da trama central. Somente um complecionista rejogaria esse jogo para conseguir todos os troféus atrelados a resultados específicos.
Por me passar essa sensação constante de preocupação com “decisões certas ou erradas”, que precisei me desvencilhar, Pentiment acabou tirando muito da minha vontade de rejogar e até do peso das minhas decisões, motivo pelo qual, um dos grandes destaques narrativos da proposta não passou de algo frustrante e sem muita importância pra mim.
Dito isto, o desfecho do grande mistério de Tassing é bem escrito e adulto. Há diversos temas maduros que são tratados no texto, com tragédias imutáveis, muita dor e sofrimento humano e até uma lógica sólida por trás dos atos vilanescos que antagonizam o roteiro, humanizando e o tornando ainda mais crível.
Em questão de design Pentiment foi decepcionante pra mim. Tanto quanto um jogo narrativo, quanto em matéria de puzzles e riqueza de mecânicas para seu gênero. Mas como experiência, Pentiment justifica bem suas escolhas criativas se mostrando forte em personalidade, estilo e ousadia. Uma obra notável que deve ser bastante destacada pelos seus feitos e contexto.
2022
A equipe francesa Splashteam salta do mundo 2D de Splasher direto pro mundo 3D em Tinykin. É uma mudança brusca de direção, mas felizmente o time demonstra domínio de referências e faz uma transição não só tecnicamente invejável, como criativamente e artisticamente notável.
A proposta de Tinykin não soa tão inovadora, entretanto. Temos um puzzle-platformer com estética mista 2D e 3D estilizada, algo que lembra visual e conceitualmente Toy Story (ponto de vista micro e temática ambiental de objetos mundanos) e ao mesmo tempo Vida de Inseto (interagimos com insetos antropomórficos), em um gameplay que empresta elementos de jogos como Pikmin (uso de criaturinhas), Chibi-Robo (tarefas mundanas feitas por agentes diminutos), Yoshi’s World (vários pequenos puzzles ao longo das fases, feitas de material mundano e sucata) e Mario 3D, em especial Mario Odyssey (cada fase recheada de pequenos puzzles que conferem colecionáveis).
No comando de Milodane, um humano que vive no espaço em uma época muito além do nosso tempo, onde a Terra não mais existe e a humanidade vaga pela galáxia, chegamos nesse mundo onde interagimos com insetos falantes em uma casa humana gigante. Já de cara somos introduzidos ao escopo e dimensão do jogo, que não se deixa intimidar por grandes nomes como Banjo & Kazooie, dentre outros platformers 3D de sucesso.
As mecânicas de maior destaque envolvem coletar e utilizar os tinykins, criaturas que por alguma razão se dão bem com Milodane e o auxiliam sob seu comando, extremamente similar ao que acontece com o Capitão Olimar e os pikmins na série da Nintendo. Cada um dos tinykins representa uma mecânica específica: trabalho braçal/força, construção de pontes, condução de eletricidade e explosões. Coletamos e usamos as criaturinhas em quantidade necessária pra realizar cada tarefa, tal e qual Pikmin.
Mas não há aqui nenhuma sombra de plágio ou cópia. Tinykin segue suas próprias ideias e faz um mix interessante de seus objetivos e principalmente movimentação e exploração do cenário. É que enquanto Pikmin é pra todos os efeitos um RTS, Tinykin segue por um caminho bem mais próximo dos Marios 3D de exploração, como Mario Odyssey, no comando livre do protagonista Milodane.
Saltar, planar e vasculhar os cantos do cenário fazem parte do loop de gameplay, que se entrelaça com o uso das criaturinhas para resolver quebra-cabeças. Não são exatamente difíceis, mas possuem requisitos que demandam a exploração do cenário e dão gostosas sensação de “eureca” quando solucionadas.
Pra ser sincero, encarei mais como “tarefas” do que “quebra-cabeças”, já que a solução muitas vezes é bem óbvia pra quem já possui mais bagagem. A ausência de grandes perigos como inimigos comuns ou mesmo chefes não se torna incômoda.
Realizar as tarefas principais de cada fase envolve resolver uma série de tarefas menores, de modo a completar partes de um todo e assim passar pro próximo estágio. Esse trabalho equivale ao que seria uma luta contra um chefe, eliminando, entretanto, qualquer dificuldade mais voltada para a ação.
Ao longo das fases, que são bastante amplas, com muita verticalidade e movimentação rápida, se coleta pólens, se resolve pequenos puzzles extras e se explora bem as mecânicas que vão se acumulando. A título de comparação, jogos da Nintendo como Mario e Yoshi costumam apresentar e explorar mecânicas que muitas vezes são utilizadas somente em uma única fase, prezando pela experimentação e variedade ao invés de maior profundidade, algo que vemos aqui em Tinykin.
Pra facilitar ainda mais o acesso a áreas mais altas, um sistema de atalhos com “ziplines” e cordas verticais onde o jogador pode deslizar como um skate ou escalar vai sendo liberado à medida que o jogador avança na exploração da fase. Esse sistema facilita o retorno a áreas previamente visitadas, além da movimentação mais dinâmica pelo cenário.
Vale lembrar que cada fase não possui mapa, então quem está mal acostumado com “GPS” em jogos modernos de mundo aberto vai ter de penar um pouco para se acostumar com o ambiente virtual de cada estágio e se familiarizar com cada um. Isso não é um problema, pois elas são bem icônicas, intuitivas (são cômodos de uma casa gigante) e reconhecíveis. Esse tipo de design ajuda a desenvolver habilidades específicas de noção espacial, skill muito útil até na vida real dos jogadores.
Num geral cada fase tem sua situação-problema bem orientada e direcionada, direto ao ponto da missão principal. Isso não impede que cada ambiente seja recheado de passagens secretas, cantinhos escondidos, com direito a cavernas entre móveis e alvenaria. São diversos segredinhos e tarefas extra que dão ao jogador mais atividades pra explorar mais o jogo, alongando sua duração. Mas querendo ir direto ao ponto, não tem obstáculos para tanto.
Tinykin também é um festival de Easter Eggs com uma pá de personagens e diálogos fazendo referência a obras de cultura pop, com direito a uma boa dose de localização, que em PT-BR está excelente. Senna versus Alain Prost (Fórmula 1, anos 90), Star Wars, John Wick, Star Trek, House, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda…a lista é grande e não fui capaz de captar e catalogar tudo.
Se Tinykin tem algum ponto que tira um pouco de seu brilho perfeito, talvez esteja na trilha sonora. Ela tem inspiração e originalidade o suficiente pra lhe conferir personalidade própria, mas pra mim ela não soou tão marcante. Não é um demérito, mas também não é nenhum destaque, infelizmente.
A proposta de Tinykin não soa tão inovadora, entretanto. Temos um puzzle-platformer com estética mista 2D e 3D estilizada, algo que lembra visual e conceitualmente Toy Story (ponto de vista micro e temática ambiental de objetos mundanos) e ao mesmo tempo Vida de Inseto (interagimos com insetos antropomórficos), em um gameplay que empresta elementos de jogos como Pikmin (uso de criaturinhas), Chibi-Robo (tarefas mundanas feitas por agentes diminutos), Yoshi’s World (vários pequenos puzzles ao longo das fases, feitas de material mundano e sucata) e Mario 3D, em especial Mario Odyssey (cada fase recheada de pequenos puzzles que conferem colecionáveis).
No comando de Milodane, um humano que vive no espaço em uma época muito além do nosso tempo, onde a Terra não mais existe e a humanidade vaga pela galáxia, chegamos nesse mundo onde interagimos com insetos falantes em uma casa humana gigante. Já de cara somos introduzidos ao escopo e dimensão do jogo, que não se deixa intimidar por grandes nomes como Banjo & Kazooie, dentre outros platformers 3D de sucesso.
As mecânicas de maior destaque envolvem coletar e utilizar os tinykins, criaturas que por alguma razão se dão bem com Milodane e o auxiliam sob seu comando, extremamente similar ao que acontece com o Capitão Olimar e os pikmins na série da Nintendo. Cada um dos tinykins representa uma mecânica específica: trabalho braçal/força, construção de pontes, condução de eletricidade e explosões. Coletamos e usamos as criaturinhas em quantidade necessária pra realizar cada tarefa, tal e qual Pikmin.
Mas não há aqui nenhuma sombra de plágio ou cópia. Tinykin segue suas próprias ideias e faz um mix interessante de seus objetivos e principalmente movimentação e exploração do cenário. É que enquanto Pikmin é pra todos os efeitos um RTS, Tinykin segue por um caminho bem mais próximo dos Marios 3D de exploração, como Mario Odyssey, no comando livre do protagonista Milodane.
Saltar, planar e vasculhar os cantos do cenário fazem parte do loop de gameplay, que se entrelaça com o uso das criaturinhas para resolver quebra-cabeças. Não são exatamente difíceis, mas possuem requisitos que demandam a exploração do cenário e dão gostosas sensação de “eureca” quando solucionadas.
Pra ser sincero, encarei mais como “tarefas” do que “quebra-cabeças”, já que a solução muitas vezes é bem óbvia pra quem já possui mais bagagem. A ausência de grandes perigos como inimigos comuns ou mesmo chefes não se torna incômoda.
Realizar as tarefas principais de cada fase envolve resolver uma série de tarefas menores, de modo a completar partes de um todo e assim passar pro próximo estágio. Esse trabalho equivale ao que seria uma luta contra um chefe, eliminando, entretanto, qualquer dificuldade mais voltada para a ação.
Ao longo das fases, que são bastante amplas, com muita verticalidade e movimentação rápida, se coleta pólens, se resolve pequenos puzzles extras e se explora bem as mecânicas que vão se acumulando. A título de comparação, jogos da Nintendo como Mario e Yoshi costumam apresentar e explorar mecânicas que muitas vezes são utilizadas somente em uma única fase, prezando pela experimentação e variedade ao invés de maior profundidade, algo que vemos aqui em Tinykin.
Pra facilitar ainda mais o acesso a áreas mais altas, um sistema de atalhos com “ziplines” e cordas verticais onde o jogador pode deslizar como um skate ou escalar vai sendo liberado à medida que o jogador avança na exploração da fase. Esse sistema facilita o retorno a áreas previamente visitadas, além da movimentação mais dinâmica pelo cenário.
Vale lembrar que cada fase não possui mapa, então quem está mal acostumado com “GPS” em jogos modernos de mundo aberto vai ter de penar um pouco para se acostumar com o ambiente virtual de cada estágio e se familiarizar com cada um. Isso não é um problema, pois elas são bem icônicas, intuitivas (são cômodos de uma casa gigante) e reconhecíveis. Esse tipo de design ajuda a desenvolver habilidades específicas de noção espacial, skill muito útil até na vida real dos jogadores.
Num geral cada fase tem sua situação-problema bem orientada e direcionada, direto ao ponto da missão principal. Isso não impede que cada ambiente seja recheado de passagens secretas, cantinhos escondidos, com direito a cavernas entre móveis e alvenaria. São diversos segredinhos e tarefas extra que dão ao jogador mais atividades pra explorar mais o jogo, alongando sua duração. Mas querendo ir direto ao ponto, não tem obstáculos para tanto.
Tinykin também é um festival de Easter Eggs com uma pá de personagens e diálogos fazendo referência a obras de cultura pop, com direito a uma boa dose de localização, que em PT-BR está excelente. Senna versus Alain Prost (Fórmula 1, anos 90), Star Wars, John Wick, Star Trek, House, Rei Arthur e os Cavaleiros da Távola Redonda…a lista é grande e não fui capaz de captar e catalogar tudo.
Se Tinykin tem algum ponto que tira um pouco de seu brilho perfeito, talvez esteja na trilha sonora. Ela tem inspiração e originalidade o suficiente pra lhe conferir personalidade própria, mas pra mim ela não soou tão marcante. Não é um demérito, mas também não é nenhum destaque, infelizmente.
1993
Basicamente um dos piores jogos que já joguei no SNES. Movimentação e controles pesados e sem muitas ações interessantes, jogabilidade confusa, level design confuso, com entradas e saídas aleatórias sem muita navegabilidade, objetivos pouco intuitivos, trilha sonora sem muita graça...acho que tiveram uma ideia muito bacana que morreu na execução.
This review contains spoilers
A Ubisoft conseguiu emplacar um modelo que se popularizou e hoje faz parte do design de muitos jogos modernos de Mundo Aberto. O que começou em Far Cry e Assassin’s Creed hoje inspira e reverbera no design de jogos até da Nintendo e Sony, especialmente desta com os recentes Ghost of Tsushima e as duas entradas da franquia Horizon, sem esquecer de Homem Aranha.
Mas se o modelo encanta muitos jogadores que valorizam a sensação de que o jogo tem muito conteúdo justificando o alto preço que eles custam hoje, uma parte dos jogadores, eu incluso, não gosta tanto do “inchaço” que essa filosofia provoca.
Jogos de mundo aberto no modelo que hoje é popular são como comer uma refeição que tem arroz demais: enchem demais com muito mais do mesmo. Não é incomum ver jogos que oferecem 20 horas de campanha terem sua duração esticada a 40, 50 horas graças à colecionáveis e atividades secundárias que preenchem mais o mundo virtual onde o jogo se passa.
Ao longo do tempo essas horas vão tornando o jogo bastante cansativo e o que seria mais conteúdo acaba ficando como “gordura em excesso” que muitos jogadores preferem deixar de lado e ignorar, eu incluso. “Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão” definitivamente não é assim.
Com suas 12 horas em média de campanha principal, a aventura do mascote da Sony oferece uma história com roteiro e apresentação similar a filmes da Pixar: simples de compreender, mas com algumas nuances e camadas um pouco mais profundas, resultando em uma obra que agrada crianças e adultos, sem tanta pretensão.
Com uma campanha principal enxuta, o jogador tem no conteúdo extra material para ir além da aventura principal e buscar colecionáveis que não são apenas troféus, mas também liberam personalizações muito bem vindas ao visual e ao gameplay, além de bônus passivos para o personagem principal. O New Game+ ainda conta com armas exclusivas que dão mais variedade ainda e apimentam a revisitação das áreas do jogo. E como não demorou muito pra terminar da primeira vez, uma segunda não dói.
É uma jogada excelente onde não há enchimento desnecessário ao roteiro principal, enquanto por meio das mecânicas e do design de fases o jogador tem espaço para explorar e experimentar, sem cair na mesmice.
E de fato, ao longo do jogo é disponibilizado um número considerável de armas no arsenal do protagonista. São cerca de 20 variedades, de pistolas a lança-mísseis, e cada uma exige que o jogador a utilize para que ela se desenvolva, suba de nível, e libere melhorias pra aumentar seu poder geral.
Enquanto explora os ambientes, o jogador também vai encontrar itens que permitem fazer essas melhorias, trazendo uma sensação contínua e crescente de poder. É incrível como perto do final do jogo o arsenal diversificado permite combos com granadas de gelo, utilitários que paralisam os inimigos e danos massivos com armas de alto poder de destruição.
A exploração em si é estimulada graças à ausência de "pings", marcações no mapa indicando o tipo de atividade que se encontra ali. Isso é o comum em jogos com Homem-Aranha e tira uma enorme satisfação que é a surpresa de explorar o mapa sem saber o que vai encontrar. E a recompensa vem não só em recursos para melhoria das armas, mas também equipamentos que atuam como skins em sets com uma espécie de bônus caso o jogador encontre o trio. Vale a pena procurar pelas peças de roupa em todos as fases.
Como os mapas não são gigantescos, eles oferecem um excelente tamanho pra aplicar o conceito de "mundo" aberto. E ainda melhor, um rastro acompanha o jogador no mapa, mudando a cor de fundo dos locais que ele já passou, pondo uma marcação no mapa do que foi encontrado. Assim, quando o jogador retornar pra explorar melhor o planeta após a conclusão da missão principal, ele pode rapidamente se dirigir a locais-chave, já que estão devidamente anotados no mapa. Estímulo e conveniência trabalhando em conjunto.
Mais perto do fim do jogo uma das missões recompensa o jogador com uma espécie de "mapa do tesouro" para só aí então demarcar (pingar) todos os objetivos em cada mapa. Uma ajudinha pra dar uma conveniência extra a quem não explorou.
Essa jornada conta com uma apresentação estupenda, contando com gráficos cheios de belos efeitos de partículas, texturas de alta qualidade e animações finamente trabalhadas, sem mencionar interfaces com personalidade, elegância e estilo. A performance do jogo proporcionada pelo uso de SSD e tecnologias especiais de carregamento dinâmico fazem com que o ritmo do jogo se mantenha sempre em movimento, com trocas fantásticas de ambientes, já que a temática envolve saltos entre dimensões e fendas espaciais.
Soma-se à apresentação de alto nível um design de som de igual estatura, com atuação de voz que não perdem pra grandes produções de animação hollywoodianas e que conferem vivacidade e diversão nas cenas envolvendo protagonistas e vilões. E o melhor, com a opção de jogar totalmente em português, incluindo dublagem.
A experiência de Ratchet & Clank é incrível e no PC conta com tecnologias especiais que o deixam em pé de igualdade com o PS5, graças à parceria da Nvidia e da Sony. Carregamento rápido e efeitos modernos como Ray Tracing são algumas das funcionalidades que tornam a experiência belíssima e super fluida, um deleite para os olhos, sem perder a essência de um bom jogo de aventura 3D.
Ah, durante a rolagem de créditos, uma surpresinha aguarda os jogadores. Parece bobeira, mas é algo que me fez rir e sorrir com a criatividade.
Mas se o modelo encanta muitos jogadores que valorizam a sensação de que o jogo tem muito conteúdo justificando o alto preço que eles custam hoje, uma parte dos jogadores, eu incluso, não gosta tanto do “inchaço” que essa filosofia provoca.
Jogos de mundo aberto no modelo que hoje é popular são como comer uma refeição que tem arroz demais: enchem demais com muito mais do mesmo. Não é incomum ver jogos que oferecem 20 horas de campanha terem sua duração esticada a 40, 50 horas graças à colecionáveis e atividades secundárias que preenchem mais o mundo virtual onde o jogo se passa.
Ao longo do tempo essas horas vão tornando o jogo bastante cansativo e o que seria mais conteúdo acaba ficando como “gordura em excesso” que muitos jogadores preferem deixar de lado e ignorar, eu incluso. “Ratchet & Clank: Em Uma Outra Dimensão” definitivamente não é assim.
Com suas 12 horas em média de campanha principal, a aventura do mascote da Sony oferece uma história com roteiro e apresentação similar a filmes da Pixar: simples de compreender, mas com algumas nuances e camadas um pouco mais profundas, resultando em uma obra que agrada crianças e adultos, sem tanta pretensão.
Com uma campanha principal enxuta, o jogador tem no conteúdo extra material para ir além da aventura principal e buscar colecionáveis que não são apenas troféus, mas também liberam personalizações muito bem vindas ao visual e ao gameplay, além de bônus passivos para o personagem principal. O New Game+ ainda conta com armas exclusivas que dão mais variedade ainda e apimentam a revisitação das áreas do jogo. E como não demorou muito pra terminar da primeira vez, uma segunda não dói.
É uma jogada excelente onde não há enchimento desnecessário ao roteiro principal, enquanto por meio das mecânicas e do design de fases o jogador tem espaço para explorar e experimentar, sem cair na mesmice.
E de fato, ao longo do jogo é disponibilizado um número considerável de armas no arsenal do protagonista. São cerca de 20 variedades, de pistolas a lança-mísseis, e cada uma exige que o jogador a utilize para que ela se desenvolva, suba de nível, e libere melhorias pra aumentar seu poder geral.
Enquanto explora os ambientes, o jogador também vai encontrar itens que permitem fazer essas melhorias, trazendo uma sensação contínua e crescente de poder. É incrível como perto do final do jogo o arsenal diversificado permite combos com granadas de gelo, utilitários que paralisam os inimigos e danos massivos com armas de alto poder de destruição.
A exploração em si é estimulada graças à ausência de "pings", marcações no mapa indicando o tipo de atividade que se encontra ali. Isso é o comum em jogos com Homem-Aranha e tira uma enorme satisfação que é a surpresa de explorar o mapa sem saber o que vai encontrar. E a recompensa vem não só em recursos para melhoria das armas, mas também equipamentos que atuam como skins em sets com uma espécie de bônus caso o jogador encontre o trio. Vale a pena procurar pelas peças de roupa em todos as fases.
Como os mapas não são gigantescos, eles oferecem um excelente tamanho pra aplicar o conceito de "mundo" aberto. E ainda melhor, um rastro acompanha o jogador no mapa, mudando a cor de fundo dos locais que ele já passou, pondo uma marcação no mapa do que foi encontrado. Assim, quando o jogador retornar pra explorar melhor o planeta após a conclusão da missão principal, ele pode rapidamente se dirigir a locais-chave, já que estão devidamente anotados no mapa. Estímulo e conveniência trabalhando em conjunto.
Mais perto do fim do jogo uma das missões recompensa o jogador com uma espécie de "mapa do tesouro" para só aí então demarcar (pingar) todos os objetivos em cada mapa. Uma ajudinha pra dar uma conveniência extra a quem não explorou.
Essa jornada conta com uma apresentação estupenda, contando com gráficos cheios de belos efeitos de partículas, texturas de alta qualidade e animações finamente trabalhadas, sem mencionar interfaces com personalidade, elegância e estilo. A performance do jogo proporcionada pelo uso de SSD e tecnologias especiais de carregamento dinâmico fazem com que o ritmo do jogo se mantenha sempre em movimento, com trocas fantásticas de ambientes, já que a temática envolve saltos entre dimensões e fendas espaciais.
Soma-se à apresentação de alto nível um design de som de igual estatura, com atuação de voz que não perdem pra grandes produções de animação hollywoodianas e que conferem vivacidade e diversão nas cenas envolvendo protagonistas e vilões. E o melhor, com a opção de jogar totalmente em português, incluindo dublagem.
A experiência de Ratchet & Clank é incrível e no PC conta com tecnologias especiais que o deixam em pé de igualdade com o PS5, graças à parceria da Nvidia e da Sony. Carregamento rápido e efeitos modernos como Ray Tracing são algumas das funcionalidades que tornam a experiência belíssima e super fluida, um deleite para os olhos, sem perder a essência de um bom jogo de aventura 3D.
Ah, durante a rolagem de créditos, uma surpresinha aguarda os jogadores. Parece bobeira, mas é algo que me fez rir e sorrir com a criatividade.
O Assassinato de Sonic, o ouriço, é um título gratuito, presentinho da SEGA como brincadeira de 1º de Abril em 2023.
Ele é um simples, curto e cômico adventure baseado no formato japonês de Visual Novel com elementos de gameplay.
Temos uma festa de aniversário com temática de mistério de assassinato, onde os participantes devem descobrir quem matou...bem...o Sonic, como reza o título.
Na parte mecânica não temos muita novidade nem na condução da história de forma geral, nem para o gênero Visual Novel. Quem tem costume de jogar adventures mais robustos, como a série Ace Attorney ou similares (Danganronppa, os jogos da CING ou Zero Escape) vai encontrar algo despretensioso e com respostas facílimas de deduzir.
Mas apenas deduzir não é suficiente. O protagonista precisa ainda "pensar" em como vai apresentar e argumentar o caso, então o jogo entra em um minigame onde o jogador precisa coletar argolas numa corrida com o Sonic, muito similar às fases bônus do Sonic 2, mas em outra perspectiva, mais isométrica.
Vidas infinitas e tentativas sem penalizações garantem que o jogador tente o suficiente até passar, avançando na história. Eu não achei difícil, mas me pergunto se algum jogador pode chegar a ficar preso sem conseguir avançar porque não consegue passar das fases, apesar de não serem procedurais e, portanto, bastante "treináveis".
A trama segue na linha das histórias que já vimos ao longo da franquia Sonic, igualmente modesta, mas com suas surpresas, já que se trata de um mistério de assassinato dentro do universo Sonic.
Com bom humor durante toda a sua duração, a leveza é uma característica marcante de sua breve proposta, que não deve se alongar por mais do que 3h de jogo.
Ele é um simples, curto e cômico adventure baseado no formato japonês de Visual Novel com elementos de gameplay.
Temos uma festa de aniversário com temática de mistério de assassinato, onde os participantes devem descobrir quem matou...bem...o Sonic, como reza o título.
Na parte mecânica não temos muita novidade nem na condução da história de forma geral, nem para o gênero Visual Novel. Quem tem costume de jogar adventures mais robustos, como a série Ace Attorney ou similares (Danganronppa, os jogos da CING ou Zero Escape) vai encontrar algo despretensioso e com respostas facílimas de deduzir.
Mas apenas deduzir não é suficiente. O protagonista precisa ainda "pensar" em como vai apresentar e argumentar o caso, então o jogo entra em um minigame onde o jogador precisa coletar argolas numa corrida com o Sonic, muito similar às fases bônus do Sonic 2, mas em outra perspectiva, mais isométrica.
Vidas infinitas e tentativas sem penalizações garantem que o jogador tente o suficiente até passar, avançando na história. Eu não achei difícil, mas me pergunto se algum jogador pode chegar a ficar preso sem conseguir avançar porque não consegue passar das fases, apesar de não serem procedurais e, portanto, bastante "treináveis".
A trama segue na linha das histórias que já vimos ao longo da franquia Sonic, igualmente modesta, mas com suas surpresas, já que se trata de um mistério de assassinato dentro do universo Sonic.
Com bom humor durante toda a sua duração, a leveza é uma característica marcante de sua breve proposta, que não deve se alongar por mais do que 3h de jogo.
Os anos 80 e 90 para os adventures foram marcados pelo modelo LucasArts, Scumm, uma estrutura de design que foi exaustivamente utilizada por jogos do gênero na época.
O modelo é famoso por apresentar verbos mais explícitos para o jogador usar, em contraponto ao estilo mais solto e mais aberto de jogos de aventura baseados em texto, mais antigos. Assim, o jogador consegue aliar o que ele vê na tela com as ações que ele pode executar de forma mais pragmática, sem se sentir sobrepujado de possibilidades quando se utiliza um prompt de entrada livre.
Isso não alivia o pé do design mirabolante e muitas vezes esdrúxulo e cheio de experimentações em cima da fórmula que ficou popular no período.
Indiana Jones segue o modelo acima descrito à risca em todas as suas vantagens e desvantagens. Ele abusa de puzzles que são altamente difíceis de se solucionar sozinho e ele sabe disso, tanto que exibe um número de telefone para os jogadores ligarem em busca de dicas, obviamente desativado mais de 30 anos após seu lançamento.
Esse tipo de design hoje em dia incentiva a discussão colaborativa na internet, mas na década de 90 certamente era feito para ganhar uns trocados com o serviço de atendimento aos jogadores, bem como incentivar a troca de experiência entre jogadores e acima de tudo, dar longevidade ao título na base da dificuldade.
Hoje, obviamente, um jogo como esses grita por um FAQ, um Walkthrough, Detonado, seja lá como decidamos chamar um guia que oferece um passo-a-passo (também temos esse nome à disposição) para o jogador terminar a aventura. Antes esse fosse o único infortúnio de The Last Crusade.
Antigamente, como sabemos, também era comum os jogos serem acompanhados de encartes. Alguns jogos aproveitavam para apresentar os comandos e a estrutura do jogo ao jogador, mas algumas mentes mais espertas tiveram a ideia de envolver elementos ingame com informações contidas nos encartes.
Do ponto de vista de criatividade e interatividade, é uma ideia GENIAL. Do ponto de vista de combate à pirataria, foi uma ideia curiosa à primeira vista, mas insustentável a longo prazo, mas válida em seu tempo. Para o jogador incauto que decide pegar um jogo velho para conhecer e experimentar, já se torna uma ideia extremamente inconveniente.
Ainda bem que temos mecanismos como o Archive.org, dentre outros tantas ferramentas dedicadas à preservação de jogos, dentre outras coisas.
Em determinado momento do jogo, é necessário cruzar as informações descobertas no jogo, que são propositalmente tornadas aleatorias, com textos descritivos encontrados no encarte que vinha com o jogo.
É uma característica lúdica bem interessante. Estamos em busca do Cálice Sagrado e sabemos que muitas histórias diferentes o descrevem de formas distintas, variando a cor, o material, os símbolos gravados, o brilho…enfim. No final do jogo, assim como no filme, temos diversos cálices para escolher e salvar o pai do Indy, mas pra descobrir o certo vai ser necessário 2 coisas: ou você cruza as informações adquiridas durante o jogo com o encarte, ou você vai na base da tentativa e erro.
Inclusive é bom destacar, mecanicamente é interessante como The Last Crusade não se limita como outros jogos adventure em ter apenas uma solução para cada problema. Pelo contrário. Quase toda situação possui duas ou mais formas de resolver. Umas mais longas e trabalhosas, outras mais curtas, porém dependentes de informações coletadas ao longo do jogo que o jogador pode não encontrar…e outras dependentes de tentativa e erro ou muita, muita sorte pra entender como funcionam.
Falamos aqui de situações como pilotar um avião que depende do jogador ter encontrado um livro que ensina como pilotar o avião (é um puzzle complexo, mas que ganha tempo). Caso o jogador consiga o livro, ainda vai ter de conseguir executar o puzzle, que é difícil e complexo. Caso consiga, irá pilotar o avião com controles bem estranhos, irresponsivos e com uma sensação terrível de falta de domínio da situação, enquanto é atacado por aeronaves inimigas que derrubarão o avião em algum momento.
Após isso, uma série de encontros com guardas possui 2 tipos de solução: ou o jogador acerta uma sequência de argumentação com cada guarda (e tome tentativa e erro) , ou ele entra em combate corporal com cada guarda (já falo sobre isso).
É quase impossível do jogador saber a melhor forma de solucionar esses inúmeros desafios sequenciais sem: a) trocar informações com outras pessoas, b) receber dicas de alguém que sabe as respostas, c) ver a solução num guia.
Na falta de pessoas que possam auxiliar com as alternativas “a” ou “b”, nos vemos obrigados a recorrer a um FAQ. Isso é comum em inúmeros jogos da LucasArts, INFELIZMENTE.
Quando o jogo não está nos trucidando com puzzles tenebrosos de complexos e com soluções complicadas, temos um aspecto maravilhoso do mesmo. O pai de Indy mantinha um livro chamado “The Grail Diary”, o “Diário do Cálice”, recheado de informações coletadas pelo arqueólogo acerca do mistério do Santo Graal.
Esse livro serve como consulta em momentos chave do jogo, e possui dicas e direcionamentos com quebra-cabeças de como resolver alguns obstáculos no caminho. Nesses momentos o próprio jogo te dá ferramentas palpáveis que te deixam menos impotente, já que orientam bem como resolver os quebra-cabeças.
Mas logo em seguida passamos a odiar novamente o jogo quando temos de resolver uma situação na base do soco. Desde o começo, iniciamos o jogo ao lado de um ringue de boxe, sendo o próprio Indy um pugilista. Ele está ali pra praticarmos o que será um dos maiores pesadelos do jogador: o combate.
O sistema pretende dar ação ao jogo que é majoritariamente de quebra-cabeças, então ele tenta usar a interface estrutural do Scumm pra criar uma situação de combate em tempo real. Tal esquema usa três tipos de ação: socar, defender e recuar. Essas ações são executadas usando o teclado numérico (que alguns teclados não tem) e tem mais alguns pormenores: a total aleatoriedade do combate e o sistema de “poder de soco”.
Ao dar um soco, o jogador gasta toda a barra de força e precisa esperar ela encher pra poder dar um soco mais contundente. Enquanto espera, precisa bloquear (na sorte) ou recuar (limitado à área de luta). É uma intensa batalha contra um inimigo que sequencialmente te machuca e contra o próprio sistema e seus controles, que são irresponsivos e nem sempre executam quando você pressiona os botões.
Some isso ao fato que você não recupera vida depois de cada combate, então você provavelmente só irá conseguir passar de 1 ou 2 lutas com um pouco de vida restante…é melhor sempre evitar a todo e qualquer custo, já que ser derrotado implica em GAME OVER.
Apesar dos dissabores, o jogo tem dois pontos bem positivos: as excelentes referências e bom humor, característica marcante da LucasArts, e também um sistema de pontuação que confere pontos pela solução de quebra-cabeças de maneiras diferentes. Assim, se você rejogar o jogo e resolver de forma diferente os desafios, receberá mais pontos para tentar alcançar o máximo de 800 pontos.
Acredito que isso seria uma espécie de “platina” do jogo para a época, incentivando os jogadores mais ávidos a caçar os pontos faltantes e assim fechar o jogo com o escore perfeito.
Eu mesmo que não farei isso, nunca.
O modelo é famoso por apresentar verbos mais explícitos para o jogador usar, em contraponto ao estilo mais solto e mais aberto de jogos de aventura baseados em texto, mais antigos. Assim, o jogador consegue aliar o que ele vê na tela com as ações que ele pode executar de forma mais pragmática, sem se sentir sobrepujado de possibilidades quando se utiliza um prompt de entrada livre.
Isso não alivia o pé do design mirabolante e muitas vezes esdrúxulo e cheio de experimentações em cima da fórmula que ficou popular no período.
Indiana Jones segue o modelo acima descrito à risca em todas as suas vantagens e desvantagens. Ele abusa de puzzles que são altamente difíceis de se solucionar sozinho e ele sabe disso, tanto que exibe um número de telefone para os jogadores ligarem em busca de dicas, obviamente desativado mais de 30 anos após seu lançamento.
Esse tipo de design hoje em dia incentiva a discussão colaborativa na internet, mas na década de 90 certamente era feito para ganhar uns trocados com o serviço de atendimento aos jogadores, bem como incentivar a troca de experiência entre jogadores e acima de tudo, dar longevidade ao título na base da dificuldade.
Hoje, obviamente, um jogo como esses grita por um FAQ, um Walkthrough, Detonado, seja lá como decidamos chamar um guia que oferece um passo-a-passo (também temos esse nome à disposição) para o jogador terminar a aventura. Antes esse fosse o único infortúnio de The Last Crusade.
Antigamente, como sabemos, também era comum os jogos serem acompanhados de encartes. Alguns jogos aproveitavam para apresentar os comandos e a estrutura do jogo ao jogador, mas algumas mentes mais espertas tiveram a ideia de envolver elementos ingame com informações contidas nos encartes.
Do ponto de vista de criatividade e interatividade, é uma ideia GENIAL. Do ponto de vista de combate à pirataria, foi uma ideia curiosa à primeira vista, mas insustentável a longo prazo, mas válida em seu tempo. Para o jogador incauto que decide pegar um jogo velho para conhecer e experimentar, já se torna uma ideia extremamente inconveniente.
Ainda bem que temos mecanismos como o Archive.org, dentre outros tantas ferramentas dedicadas à preservação de jogos, dentre outras coisas.
Em determinado momento do jogo, é necessário cruzar as informações descobertas no jogo, que são propositalmente tornadas aleatorias, com textos descritivos encontrados no encarte que vinha com o jogo.
É uma característica lúdica bem interessante. Estamos em busca do Cálice Sagrado e sabemos que muitas histórias diferentes o descrevem de formas distintas, variando a cor, o material, os símbolos gravados, o brilho…enfim. No final do jogo, assim como no filme, temos diversos cálices para escolher e salvar o pai do Indy, mas pra descobrir o certo vai ser necessário 2 coisas: ou você cruza as informações adquiridas durante o jogo com o encarte, ou você vai na base da tentativa e erro.
Inclusive é bom destacar, mecanicamente é interessante como The Last Crusade não se limita como outros jogos adventure em ter apenas uma solução para cada problema. Pelo contrário. Quase toda situação possui duas ou mais formas de resolver. Umas mais longas e trabalhosas, outras mais curtas, porém dependentes de informações coletadas ao longo do jogo que o jogador pode não encontrar…e outras dependentes de tentativa e erro ou muita, muita sorte pra entender como funcionam.
Falamos aqui de situações como pilotar um avião que depende do jogador ter encontrado um livro que ensina como pilotar o avião (é um puzzle complexo, mas que ganha tempo). Caso o jogador consiga o livro, ainda vai ter de conseguir executar o puzzle, que é difícil e complexo. Caso consiga, irá pilotar o avião com controles bem estranhos, irresponsivos e com uma sensação terrível de falta de domínio da situação, enquanto é atacado por aeronaves inimigas que derrubarão o avião em algum momento.
Após isso, uma série de encontros com guardas possui 2 tipos de solução: ou o jogador acerta uma sequência de argumentação com cada guarda (e tome tentativa e erro) , ou ele entra em combate corporal com cada guarda (já falo sobre isso).
É quase impossível do jogador saber a melhor forma de solucionar esses inúmeros desafios sequenciais sem: a) trocar informações com outras pessoas, b) receber dicas de alguém que sabe as respostas, c) ver a solução num guia.
Na falta de pessoas que possam auxiliar com as alternativas “a” ou “b”, nos vemos obrigados a recorrer a um FAQ. Isso é comum em inúmeros jogos da LucasArts, INFELIZMENTE.
Quando o jogo não está nos trucidando com puzzles tenebrosos de complexos e com soluções complicadas, temos um aspecto maravilhoso do mesmo. O pai de Indy mantinha um livro chamado “The Grail Diary”, o “Diário do Cálice”, recheado de informações coletadas pelo arqueólogo acerca do mistério do Santo Graal.
Esse livro serve como consulta em momentos chave do jogo, e possui dicas e direcionamentos com quebra-cabeças de como resolver alguns obstáculos no caminho. Nesses momentos o próprio jogo te dá ferramentas palpáveis que te deixam menos impotente, já que orientam bem como resolver os quebra-cabeças.
Mas logo em seguida passamos a odiar novamente o jogo quando temos de resolver uma situação na base do soco. Desde o começo, iniciamos o jogo ao lado de um ringue de boxe, sendo o próprio Indy um pugilista. Ele está ali pra praticarmos o que será um dos maiores pesadelos do jogador: o combate.
O sistema pretende dar ação ao jogo que é majoritariamente de quebra-cabeças, então ele tenta usar a interface estrutural do Scumm pra criar uma situação de combate em tempo real. Tal esquema usa três tipos de ação: socar, defender e recuar. Essas ações são executadas usando o teclado numérico (que alguns teclados não tem) e tem mais alguns pormenores: a total aleatoriedade do combate e o sistema de “poder de soco”.
Ao dar um soco, o jogador gasta toda a barra de força e precisa esperar ela encher pra poder dar um soco mais contundente. Enquanto espera, precisa bloquear (na sorte) ou recuar (limitado à área de luta). É uma intensa batalha contra um inimigo que sequencialmente te machuca e contra o próprio sistema e seus controles, que são irresponsivos e nem sempre executam quando você pressiona os botões.
Some isso ao fato que você não recupera vida depois de cada combate, então você provavelmente só irá conseguir passar de 1 ou 2 lutas com um pouco de vida restante…é melhor sempre evitar a todo e qualquer custo, já que ser derrotado implica em GAME OVER.
Apesar dos dissabores, o jogo tem dois pontos bem positivos: as excelentes referências e bom humor, característica marcante da LucasArts, e também um sistema de pontuação que confere pontos pela solução de quebra-cabeças de maneiras diferentes. Assim, se você rejogar o jogo e resolver de forma diferente os desafios, receberá mais pontos para tentar alcançar o máximo de 800 pontos.
Acredito que isso seria uma espécie de “platina” do jogo para a época, incentivando os jogadores mais ávidos a caçar os pontos faltantes e assim fechar o jogo com o escore perfeito.
Eu mesmo que não farei isso, nunca.
2018
Celeste é uma experiência incrível em diversos sentidos. Poucos jogos conseguem casar tão bem mecânicas com história, criando um laço de interconexão que engrandece a obra como produto e como produto de arte.
Além dessa questão metalinguística, que prefiro deixar breve assim pra que não seja spoiler pra ninguém, a trama entra em um desenvolvimento temático passeando por assuntos maduros e que ressoam melhor com pessoas com maior bagagem emocional, se vendo na protagonista Madeline. Autocuidado e autorreflexão são duas temáticas trabalhadas por meio das cutscenes e seus diálogos.
A narrativa cuida de desenvolver o pano de fundo com algumas cenas que fogem do local onde se passa a ação principal, mas sem ir muito a fundo, mantendo a carga narrativa leve, ficando os diálogos com a tarefa de apresentar um desenvolvimento mais intenso e cheio de nuances implícitas.
Isso é importante porque cria um espelho mais amplo onde diversas pessoas com diversos panoramas se sentem representadas por fragmentos da história de Madeline, já que diversos detalhes são omitidos, aparentemente com esse propósito em mente.
Em outras palavras, é na falta de mais detalhes sobre a natureza dos problemas pessoais da protagonista que encontramos uma história mais relacionável pra um número maior de pessoas, no fim das contas.
Não somente em seu desenvolvimento temático, Celeste também é incrível em como consegue ensinar à indústria de forma geral como se desenha um jogo difícil, árduo e recompensador sem excluir ninguém. Isso vem por conta dos auxílios opcionais que permitem aos jogadores menos habilidosos ativar opções de jogabilidade que irão de forma majestosa ajustar a dificuldade do jogo.
Essas opções eliminam qualquer necessidade de se criar modos de dificuldade pré-programados, que exigem um trabalho de balanceamento muito mais complexo por parte dos devs, enquanto funcionam de uma maneira muito mais customizável como modalizadores de dificuldade. Assim o jogo se torna muito mais acolhedor e acessível
Em uma outra perspectiva, Celeste também oferece pra jogadores mais habilidosos fases mais exigentes e conteúdo extra mais desafiador, agradando praticamente quase todo mundo.
Incrível também o jogo é em seu gameplay e game feel. O time que trabalhou no excelente Towerfall utiliza da experiência com o antecessor de Celeste para entregar um platformer com controles precisos e responsivos, que conferem uma sensação de domínio sobre o movimento da personagem impecável. Assim, o jogo proporciona um aprendizado e melhoria de coordenação que engrandecem o próprio jogador para o futuro. Quem joga Celeste e encara seus desafios certamente sai com habilidades mais finamente desenvolvidas.
A sensação de controle encontra um level design que gradualmente exige mais do jogador, com um posicionamento de checkpoints estratégicos que provocam sensações satisfatórias de superação a cada etapa avançada e cada fase concluída.
Por último, Celeste arrebata todos os outros sentidos com animações fluidas, trilha sonora cativante, uma variedade de mecânicas secundárias amplamente exploradas, personagens com personalidades bem marcadas, e cenas em desenho mais detalhadas que quebram o estilo PixelArt momentaneamente e transmitem como uma história em quadrinhos a sensação do momento ilustrado.
Ah, não posso deixar de pontuar que o jogo tem uma excelente tradução para nossa língua, com expressões adaptadas ao nosso linguajar moderno, com a única crítica de ser terrivelmente paulistano.
Pode parecer bobagem, mas é um pouco incômodo como se utiliza uma pretensa “linguagem neutra” cheia de “paulistanidades” como “mano do céu” no texto. Talvez seja essa o único ponto criticável que eu consigo ver em Celeste, e ainda consigo justificar com o fato de que expressões como a mencionada são amplamente difundidas nas redes sociais. Dá pra passar esse pano.
Fora isso, é impossível não reconhecer os motivos que levaram Celeste a ser indicado como um dos melhores jogos de 2018. É uma obra incrível e que merece ser destacada sobretudo por sua bela mensagem, e que pelo que apurei conseguiu emocionar e ressoar em muita gente, do jeito que merecia.
Além dessa questão metalinguística, que prefiro deixar breve assim pra que não seja spoiler pra ninguém, a trama entra em um desenvolvimento temático passeando por assuntos maduros e que ressoam melhor com pessoas com maior bagagem emocional, se vendo na protagonista Madeline. Autocuidado e autorreflexão são duas temáticas trabalhadas por meio das cutscenes e seus diálogos.
A narrativa cuida de desenvolver o pano de fundo com algumas cenas que fogem do local onde se passa a ação principal, mas sem ir muito a fundo, mantendo a carga narrativa leve, ficando os diálogos com a tarefa de apresentar um desenvolvimento mais intenso e cheio de nuances implícitas.
Isso é importante porque cria um espelho mais amplo onde diversas pessoas com diversos panoramas se sentem representadas por fragmentos da história de Madeline, já que diversos detalhes são omitidos, aparentemente com esse propósito em mente.
Em outras palavras, é na falta de mais detalhes sobre a natureza dos problemas pessoais da protagonista que encontramos uma história mais relacionável pra um número maior de pessoas, no fim das contas.
Não somente em seu desenvolvimento temático, Celeste também é incrível em como consegue ensinar à indústria de forma geral como se desenha um jogo difícil, árduo e recompensador sem excluir ninguém. Isso vem por conta dos auxílios opcionais que permitem aos jogadores menos habilidosos ativar opções de jogabilidade que irão de forma majestosa ajustar a dificuldade do jogo.
Essas opções eliminam qualquer necessidade de se criar modos de dificuldade pré-programados, que exigem um trabalho de balanceamento muito mais complexo por parte dos devs, enquanto funcionam de uma maneira muito mais customizável como modalizadores de dificuldade. Assim o jogo se torna muito mais acolhedor e acessível
Em uma outra perspectiva, Celeste também oferece pra jogadores mais habilidosos fases mais exigentes e conteúdo extra mais desafiador, agradando praticamente quase todo mundo.
Incrível também o jogo é em seu gameplay e game feel. O time que trabalhou no excelente Towerfall utiliza da experiência com o antecessor de Celeste para entregar um platformer com controles precisos e responsivos, que conferem uma sensação de domínio sobre o movimento da personagem impecável. Assim, o jogo proporciona um aprendizado e melhoria de coordenação que engrandecem o próprio jogador para o futuro. Quem joga Celeste e encara seus desafios certamente sai com habilidades mais finamente desenvolvidas.
A sensação de controle encontra um level design que gradualmente exige mais do jogador, com um posicionamento de checkpoints estratégicos que provocam sensações satisfatórias de superação a cada etapa avançada e cada fase concluída.
Por último, Celeste arrebata todos os outros sentidos com animações fluidas, trilha sonora cativante, uma variedade de mecânicas secundárias amplamente exploradas, personagens com personalidades bem marcadas, e cenas em desenho mais detalhadas que quebram o estilo PixelArt momentaneamente e transmitem como uma história em quadrinhos a sensação do momento ilustrado.
Ah, não posso deixar de pontuar que o jogo tem uma excelente tradução para nossa língua, com expressões adaptadas ao nosso linguajar moderno, com a única crítica de ser terrivelmente paulistano.
Pode parecer bobagem, mas é um pouco incômodo como se utiliza uma pretensa “linguagem neutra” cheia de “paulistanidades” como “mano do céu” no texto. Talvez seja essa o único ponto criticável que eu consigo ver em Celeste, e ainda consigo justificar com o fato de que expressões como a mencionada são amplamente difundidas nas redes sociais. Dá pra passar esse pano.
Fora isso, é impossível não reconhecer os motivos que levaram Celeste a ser indicado como um dos melhores jogos de 2018. É uma obra incrível e que merece ser destacada sobretudo por sua bela mensagem, e que pelo que apurei conseguiu emocionar e ressoar em muita gente, do jeito que merecia.
Eu não gosto de Open World. Isso é algo que já tenho firmado no meu gosto pessoal por ter experimentado diversos tipos de jogos com esse tipo de design.
Se eu pego um jogo, vou até o final e o termino, apesar dele ser Open World, então algo muito bom ele fez.
Marvel’s Spiderman tem todos os defeitos que me afastam de Open World. Perda de tempo massiva se locomovendo do ponto A até o B onde a missão será realizada, com um cenário repetitivo, deslocamento repetitivo e missões secundárias repetitivas, mas não sem ter seus méritos.
Primeiramente o core do jogo tem um grau de polimento extremamente satisfatório. Movimento dinâmico, animações variadas, fluidas, e cheias de personalidade e vivacidade, gravidade numa medida que serve ao gameplay, sensação de controle precisa e responsiva (nem sempre) e de impacto com um design de som e efeitos que amplificam a ação e a intensidade dos golpes durante o combate e as manobras com a teia.
Atravessar a cidade não é um deslocamento tedioso, mas bastante estimulante, já que tem uma certa curva de aprendizado para balançar e saltar por entre os prédios sem se chocar com os inúmeros obstáculos. A programação das animações e a fluidez de transição entre elas está quase 100% do tempo perfeita, contribuindo ainda mais para o prazer de conseguir fazer o chamado “web swing” (balançar nas teias) pela cidade de Nova York.
Ainda assim, depois de um certo tempo mesmo esse deslocamento estimulante perde seu brilho e se torna repetitivo, me encorajando a utilizar os pontos de Viagem Rápida e otimizar meu tempo com o jogo.
Os menus e a interface também são refinados com cores harmoniosas e fontes legíveis e divertidas, dando sempre muita personalidade em todos os aspectos do jogo, o que é completamente esperado de uma produção AAA.
Mas estamos falando de um jogo de mundo aberto da Sony, e isso implica que teremos um mapa no estilo GPS com uma série de pings indicando atividades paralelas que o jogador pode fazer enquanto não inicia a próxima missão. Pra um jogador com bastante apreço e tempo livre, há uma enorme quantidade de tarefas secundárias, e elas recompensam bem com upgrades para os equipamentos e novos trajes para o Homem-Aranha.
Pra quem não suporta esse modelo de design que foi popularizado pela Ubisoft, com regiões do mapa recheadas de atividades que são “liberadas e evidenciadas” quando o jogador ativa uma espécie de “torre” (Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, The Division…Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone e agora Spiderman, sem falar de outros jogos da Rockstar, títulos AA e indies), temos aqui mais uma aventura montada em cima de uma estrutura (framework) pra mim cansada e cansativa, pensada para “inchar” o jogo com conteúdo repetitivo e pouco variado para esticar as horas de jogo necessárias para complecionistas “platinarem” cada gasto de 250, 300 e agora 350 reais em jogos AAA.
Isso não impede que em seu núcleo duro, em sua missão principal, Marvel’s Spiderman ofereça uma aventura que não depende desse conteúdo extra, com atalhos e formas de agilizar a jogatina, e que dura umas boas 20h. Soma-se ainda a presença de um roteiro pareado com outros roteiros transmídia do Homem-Aranha, certamente melhor que diversos filmes que apareceram nas telonas.
Isso porque seu roteiro utiliza bem seu tempo para apresentar os personagens, construir suas personalidades, motivações e objetivos, com direito a uma variedade de vilões clássicos da série, sem precisar de uma história introdutória para cada um. Temos aqui um prato cheio para os fãs de longa-data que não exclui novatos, e desenvolve uma trama redondinha com seus protagonistas e antagonistas tendo bastante “tempo de tela” ou melhor adaptando à mídia: tempo de interação.
Alguns personagens secundários são explorados em outros meios narrativos dentro do jogo, como via uma espécie de “rede social” onde Peter interage como Homem-Aranha, e trechos eventuais de uma espécie de programa de rádio do enervante JJ Jameson em sua cruzada para vilanizar o nosso herói da vizinhança.
Utilizando todos os recursos narrativos típicos de videojogos, Marvel’s Spiderman cria um mundo rico e recheado de informações e interações que transporta o jogador para a pele do Homem-Aranha e seus aliados. Com uma variação de gameplay e perspectiva ele também permite que o jogador vivencie as contribuições de outros personagens, criando vínculos e diversificando o ritmo e loop. Tudo em conjunto de belas cutscenes cinemáticas que abusam da experiência da Sony como produtora de cinema e enriquece ainda mais a narrativa do título, sem deixar de mencionar o excelentíssimo design de som e composições da trilha sonora.
Para todos os efeitos, Marvel’s Spiderman é um título cinemático em sua excelência, uma jóia finamente lapidada pela Insomniac para contribuir para o portfólio da família Playstation, do gênero de jogos licenciados de super-heróis e sobretudo, do próprio Homem-Aranha.
Se eu pego um jogo, vou até o final e o termino, apesar dele ser Open World, então algo muito bom ele fez.
Marvel’s Spiderman tem todos os defeitos que me afastam de Open World. Perda de tempo massiva se locomovendo do ponto A até o B onde a missão será realizada, com um cenário repetitivo, deslocamento repetitivo e missões secundárias repetitivas, mas não sem ter seus méritos.
Primeiramente o core do jogo tem um grau de polimento extremamente satisfatório. Movimento dinâmico, animações variadas, fluidas, e cheias de personalidade e vivacidade, gravidade numa medida que serve ao gameplay, sensação de controle precisa e responsiva (nem sempre) e de impacto com um design de som e efeitos que amplificam a ação e a intensidade dos golpes durante o combate e as manobras com a teia.
Atravessar a cidade não é um deslocamento tedioso, mas bastante estimulante, já que tem uma certa curva de aprendizado para balançar e saltar por entre os prédios sem se chocar com os inúmeros obstáculos. A programação das animações e a fluidez de transição entre elas está quase 100% do tempo perfeita, contribuindo ainda mais para o prazer de conseguir fazer o chamado “web swing” (balançar nas teias) pela cidade de Nova York.
Ainda assim, depois de um certo tempo mesmo esse deslocamento estimulante perde seu brilho e se torna repetitivo, me encorajando a utilizar os pontos de Viagem Rápida e otimizar meu tempo com o jogo.
Os menus e a interface também são refinados com cores harmoniosas e fontes legíveis e divertidas, dando sempre muita personalidade em todos os aspectos do jogo, o que é completamente esperado de uma produção AAA.
Mas estamos falando de um jogo de mundo aberto da Sony, e isso implica que teremos um mapa no estilo GPS com uma série de pings indicando atividades paralelas que o jogador pode fazer enquanto não inicia a próxima missão. Pra um jogador com bastante apreço e tempo livre, há uma enorme quantidade de tarefas secundárias, e elas recompensam bem com upgrades para os equipamentos e novos trajes para o Homem-Aranha.
Pra quem não suporta esse modelo de design que foi popularizado pela Ubisoft, com regiões do mapa recheadas de atividades que são “liberadas e evidenciadas” quando o jogador ativa uma espécie de “torre” (Far Cry, Assassin’s Creed, Ghost Recon Wildlands, Watch Dogs, The Division…Ghost of Tsushima, Horizon Zero Dawn e Forbidden West, Days Gone e agora Spiderman, sem falar de outros jogos da Rockstar, títulos AA e indies), temos aqui mais uma aventura montada em cima de uma estrutura (framework) pra mim cansada e cansativa, pensada para “inchar” o jogo com conteúdo repetitivo e pouco variado para esticar as horas de jogo necessárias para complecionistas “platinarem” cada gasto de 250, 300 e agora 350 reais em jogos AAA.
Isso não impede que em seu núcleo duro, em sua missão principal, Marvel’s Spiderman ofereça uma aventura que não depende desse conteúdo extra, com atalhos e formas de agilizar a jogatina, e que dura umas boas 20h. Soma-se ainda a presença de um roteiro pareado com outros roteiros transmídia do Homem-Aranha, certamente melhor que diversos filmes que apareceram nas telonas.
Isso porque seu roteiro utiliza bem seu tempo para apresentar os personagens, construir suas personalidades, motivações e objetivos, com direito a uma variedade de vilões clássicos da série, sem precisar de uma história introdutória para cada um. Temos aqui um prato cheio para os fãs de longa-data que não exclui novatos, e desenvolve uma trama redondinha com seus protagonistas e antagonistas tendo bastante “tempo de tela” ou melhor adaptando à mídia: tempo de interação.
Alguns personagens secundários são explorados em outros meios narrativos dentro do jogo, como via uma espécie de “rede social” onde Peter interage como Homem-Aranha, e trechos eventuais de uma espécie de programa de rádio do enervante JJ Jameson em sua cruzada para vilanizar o nosso herói da vizinhança.
Utilizando todos os recursos narrativos típicos de videojogos, Marvel’s Spiderman cria um mundo rico e recheado de informações e interações que transporta o jogador para a pele do Homem-Aranha e seus aliados. Com uma variação de gameplay e perspectiva ele também permite que o jogador vivencie as contribuições de outros personagens, criando vínculos e diversificando o ritmo e loop. Tudo em conjunto de belas cutscenes cinemáticas que abusam da experiência da Sony como produtora de cinema e enriquece ainda mais a narrativa do título, sem deixar de mencionar o excelentíssimo design de som e composições da trilha sonora.
Para todos os efeitos, Marvel’s Spiderman é um título cinemático em sua excelência, uma jóia finamente lapidada pela Insomniac para contribuir para o portfólio da família Playstation, do gênero de jogos licenciados de super-heróis e sobretudo, do próprio Homem-Aranha.
Homefront tem uma premissa estúpida com um gameplay decente. No maior estilo "murica" somos apresentados a uma realidade fictícia onde os EUA se endividaram com a Coreia do Norte e entraram em crise nacional. Após um calote do governo estadunidense, as forças nortecoreanas invadem o país e tomam o controle, numa pegada ditatorial que parece ser o maior medo do idiota americano.
E o mais bizarro é vindo da mão de um estúdio inglês.
O gameplay de Homefront entretanto é sólido. Ele se baseia em uma sequência de "open bairros", onde a medida que avança o jogador vai conquistando territórios de cada zona por meio da tomada de prédios e recursos especiais, como alguns fortes e conexões de comunicação.
A interação é feita em primeira pessoa, num legítimo FPS que mistura conceitos nada originais, mas de forma interessante e competente. Elementos similares a diversos jogos da Ubisoft, inclusive, estão presentes no título. A sensação de "hm, já vi isso antes" é inafastável.
Far Cry? The Division? Ghost Recon? Talvez ambos. E sem ter uma personalidade única além de sua trama ridícula, Homefront é um jogo com proposta medíocre mas com execução acertada. Todas as suas mecânicas de crafting, tiro, interações com veículos e parafernalhas militares funcionam como um relógio sem defeitos.
É um jogo que diverte dentro do possível com seu gameplay, oferecendo customização das armas de formas bem significativas e um gunplay satisfatório, com mecânicas de stealth também presentes. Apesar de formulaico em sua estrutura, é um jogo que tenta com força convencer com seus personagens e diálogos revolucionários que há um grande ideal de liberdade em jogo, mas na real só tentam mascarar o racismo e a xenofobia descarados no texto e subtexto.
E o mais bizarro é vindo da mão de um estúdio inglês.
O gameplay de Homefront entretanto é sólido. Ele se baseia em uma sequência de "open bairros", onde a medida que avança o jogador vai conquistando territórios de cada zona por meio da tomada de prédios e recursos especiais, como alguns fortes e conexões de comunicação.
A interação é feita em primeira pessoa, num legítimo FPS que mistura conceitos nada originais, mas de forma interessante e competente. Elementos similares a diversos jogos da Ubisoft, inclusive, estão presentes no título. A sensação de "hm, já vi isso antes" é inafastável.
Far Cry? The Division? Ghost Recon? Talvez ambos. E sem ter uma personalidade única além de sua trama ridícula, Homefront é um jogo com proposta medíocre mas com execução acertada. Todas as suas mecânicas de crafting, tiro, interações com veículos e parafernalhas militares funcionam como um relógio sem defeitos.
É um jogo que diverte dentro do possível com seu gameplay, oferecendo customização das armas de formas bem significativas e um gunplay satisfatório, com mecânicas de stealth também presentes. Apesar de formulaico em sua estrutura, é um jogo que tenta com força convencer com seus personagens e diálogos revolucionários que há um grande ideal de liberdade em jogo, mas na real só tentam mascarar o racismo e a xenofobia descarados no texto e subtexto.
Breath of The Wild foi um jogo que, mesmo com seus defeitos (aos meus olhos), foi uma das melhores experiências de mundo aberto que já joguei. TOTK pega (quase) tudo que BOTW não me agradou e trabalha em cima de formas que subverte as expectativas ruins que eu tinha (quase todas).
Templos e habilidades p/ cada templo estão de volta com bastante criatividade e engenhosidade, superando as meras 4 bestas de BOTW, mas ainda em quantidade inferior a outros jogos da franquia que costumam ter de 6 a 12 templos.
Ao invés de mais templos, retornam as inúmeras shrines (132, argh). Ao menos elas são todas distintas e oferecem desafios mais curtos pra trocar por corações/resistência, não tomando tanto tempo, mas ainda mantendo a pulverização de design que ao meu ver cansa bastante no jogo.
Os novos poderes são estupidamente engenhosos e levam não só a inúmeras ideias de quebra-cabeça, como também adicionam qualidade de vida e praticidade na exploração do mundo. Do ponto de vista de poderes, TOTK é extremamente diferente de BOTW, já que substitui todos os de seu antecessor.
Só o Ultrahand adiciona toda uma camada de experimentação e expressão do jogador ao permitir construir estruturas e engenhocas. Nas redes sociais a gente vê o nível insano que as mentes mais desocupadas conseguem produzir, é ridiculamente impressionante.
Fusion adiciona camadas de utilidade aos itens absurdas. As armas passam a render mais e combinações curiosas resultam em escudos ou armas bastante interessantes. Uma vibe “Monster Hunter”, onde você usa pedaços dos monstros que alteram o design das armas.
Os outros poderes são igualmente impactantes no gameplay e diferente o bastante da experiência do jogo anterior. No fim das contas, TOTK faz tudo que BOTW faz, mas com diferenças consideráveis pra justificar se chamar de sequência.
No tocante à história, TOTK segue uma direção diferente de BOTW. Ao invés de imagens com dicas de onde se encontram as cutscenes, agora temos um mix bacana de cutscenes nas missões principais e geoglífos espalhados pelo mundo com uma enorme marcação no mapa de onde se localizam. As torres agora lançam Link ao ar, permitindo identificar pontos de interesse dos céus. A exploração bem orientada leva o jogador aos pontos onde se encontram as cutscenes que contam o que aconteceu com a princesa Zelda, enquanto os eventos principais complementam outro lado e outro momento dessa história.
No fim das contas, a experiência é não só melhor, mais muito melhor que BOTW, apesar de se passar no mesmo mundo e mapa. Isso não se torna um problema em matérias de localidades, já que todas foram alteradas para simbolizar a passagem de tempo, com pessoas e atividades diferentes.
Mas se BOTW tinha um mapa colossal criando um jogo muito extenso e muito inflado, TOTK segue na mesma linha. E as 165h de BOTW me ensinaram que não há tanta recompensa que justifique a exploração livre. Dessa forma, em 90hs terminei TOTK, com uma sensação muito boa de ter sido uma experiência satisfatória e energizante para o futuro da série, contrariando expectativas que eu tinha anteriormente.
Templos e habilidades p/ cada templo estão de volta com bastante criatividade e engenhosidade, superando as meras 4 bestas de BOTW, mas ainda em quantidade inferior a outros jogos da franquia que costumam ter de 6 a 12 templos.
Ao invés de mais templos, retornam as inúmeras shrines (132, argh). Ao menos elas são todas distintas e oferecem desafios mais curtos pra trocar por corações/resistência, não tomando tanto tempo, mas ainda mantendo a pulverização de design que ao meu ver cansa bastante no jogo.
Os novos poderes são estupidamente engenhosos e levam não só a inúmeras ideias de quebra-cabeça, como também adicionam qualidade de vida e praticidade na exploração do mundo. Do ponto de vista de poderes, TOTK é extremamente diferente de BOTW, já que substitui todos os de seu antecessor.
Só o Ultrahand adiciona toda uma camada de experimentação e expressão do jogador ao permitir construir estruturas e engenhocas. Nas redes sociais a gente vê o nível insano que as mentes mais desocupadas conseguem produzir, é ridiculamente impressionante.
Fusion adiciona camadas de utilidade aos itens absurdas. As armas passam a render mais e combinações curiosas resultam em escudos ou armas bastante interessantes. Uma vibe “Monster Hunter”, onde você usa pedaços dos monstros que alteram o design das armas.
Os outros poderes são igualmente impactantes no gameplay e diferente o bastante da experiência do jogo anterior. No fim das contas, TOTK faz tudo que BOTW faz, mas com diferenças consideráveis pra justificar se chamar de sequência.
No tocante à história, TOTK segue uma direção diferente de BOTW. Ao invés de imagens com dicas de onde se encontram as cutscenes, agora temos um mix bacana de cutscenes nas missões principais e geoglífos espalhados pelo mundo com uma enorme marcação no mapa de onde se localizam. As torres agora lançam Link ao ar, permitindo identificar pontos de interesse dos céus. A exploração bem orientada leva o jogador aos pontos onde se encontram as cutscenes que contam o que aconteceu com a princesa Zelda, enquanto os eventos principais complementam outro lado e outro momento dessa história.
No fim das contas, a experiência é não só melhor, mais muito melhor que BOTW, apesar de se passar no mesmo mundo e mapa. Isso não se torna um problema em matérias de localidades, já que todas foram alteradas para simbolizar a passagem de tempo, com pessoas e atividades diferentes.
Mas se BOTW tinha um mapa colossal criando um jogo muito extenso e muito inflado, TOTK segue na mesma linha. E as 165h de BOTW me ensinaram que não há tanta recompensa que justifique a exploração livre. Dessa forma, em 90hs terminei TOTK, com uma sensação muito boa de ter sido uma experiência satisfatória e energizante para o futuro da série, contrariando expectativas que eu tinha anteriormente.
Rogue Palace tem uma proposta muito intrigante e divertida, ludonarrativamente. É um roguelite que se utiliza de “runs” para ir avançando por fases diferentes, partindo de um herói base, com loots que revelam partes de novos heróis. Ao coletar cada parte, o seu personagem vai se tornando um “frankenstein” com partes esteticamente diferentes e habilidades ativas e passivas igualmente diferentes.
Uma vez que todas as “partes” de um novo herói forem coletadas, se destrava uma nova fase, onde ele é o novo “herói base”. A compra de habilidades passivas permanentes suaviza o processo de progresso nas fases, já que segue a lógica de um roguelite.
É um jogo muito bacana, mas que jogar na tela de toque não é tão responsivo e confortável. Experimentei usar um controle do Xbox pareado ao celular, mas a falta de remapeamento de botões tornou a experiência um tanto confusa, além da implementação parcial dos controles, já que não é possível navegar pelos menus sem usar a tela.
Uma vez que todas as “partes” de um novo herói forem coletadas, se destrava uma nova fase, onde ele é o novo “herói base”. A compra de habilidades passivas permanentes suaviza o processo de progresso nas fases, já que segue a lógica de um roguelite.
É um jogo muito bacana, mas que jogar na tela de toque não é tão responsivo e confortável. Experimentei usar um controle do Xbox pareado ao celular, mas a falta de remapeamento de botões tornou a experiência um tanto confusa, além da implementação parcial dos controles, já que não é possível navegar pelos menus sem usar a tela.