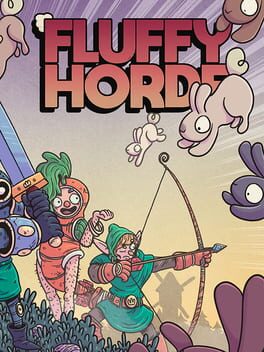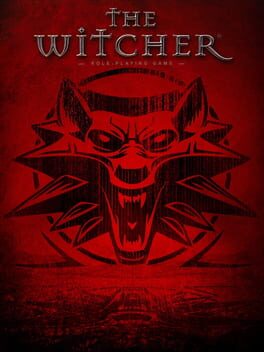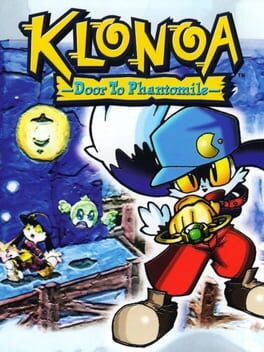lucasology
2014
This review contains spoilers
Aviso: esta resenha pode conter informações que podem estragar a experiência de descoberta do jogo.
O jogo começa com você acordando em um jardim bonito, enquanto olha pra sua mão robótica e pensa: “Mas que porras está acontecendo?”. Então, uma voz calma do além diz que é seu criador e que você precisa buscar umas pecinhas de um quebra-cabeça pra poder ir pro céu. E essa voz, que se apresenta como Elohim (descobri que significa Deus em hebraico), diz que você NÃO pode, de maneira algum, entrar na torre. Na hora que ele fala isso, eu nem vi torre nenhuma, mas pensei: “Pois agora eu vou entrar na primeira torre que eu vir pela frente”. E foi isso mesmo que eu fiz. O Elohim não ficou muito feliz, mas tudo que é proibido é mais gostoso, não é mesmo?
Enquanto você se descobre como um androide em busca do sentido da sua própria existência, você navega por três “mundos” diferentes que se conectam ao redor da torre proibida. Cada “mundo” é composto por fases, e cada fase tem alguns quebra-cabeças para serem resolvidos. Sempre que você resolve um quebra-cabeça, você ganha uma peça que pode ser usada para ganhar novos itens que serão úteis em fases no futuro e para avançar na torre (ou não, caso você queira obedecer o Elohim).
Os quebra-cabeças envolvem liberar portas, ativar mecanismos e até mesmo gravar você mesmo fazendo algo e usar sua própria gravação pra te ajudar a passar por alguns obstáculos. Eu juro que a maioria das fases eu consegui sozinho, mas algumas eram impossíveis pra mim e tive que apelar pra ajuda dos universitários. Eu passava quase uma hora tentando resolver alguma fase, daí eu desligava o jogo, ia fazer qualquer outra coisa e, quando eu voltava, eu conseguia resolver o mistério na primeira tentativa. Eu me sentia muito esperto nessas horas, vou confessar.
Em um dado momento, seja pelos “glitches” do cenário ou por você se perceber caçando pecinhas de quebra-cabeça porque uma voz do além te disse pra fazer isso, você percebe que está numa simulação ou numa espécie de teste. Fica a seu critério investigar isso ou fingir que está tudo normal e fazer tudo que o Elohim mandar. Uma das coisas mais interessantes em The Talos Principle são os textos que você encontra em terminais com computadores retrô ao longo do jogo. Você consegue acessar textos filosóficos (que inclusive explicam o nome do jogo) e também diários, e-mails e gravações de áudio que explicam o que aconteceu com a humanidade. É definitivamente um jogo que você vai descobrindo a história através de pistas espalhadas ao longo das fases, e nada é dito de maneira direta.
Dou destaque aos gráficos muito bem feitos e a trilha sonora que te deixa sem ar em alguns momentos. Também achei interessante que existem muitos “easter eggs”, pequenos detalhes escondidos que não fazem diferença na história, mas que podem provocar um momento “Ahá! Entendi essa referência”. Em termos mais técnicos, eu só fiquei meio preocupado porque aparentemente meu computador não soube lidar muito bem com The Talos Principle; em vários momentos o computador ficou tão quente que eu achei que ele fosse explodir. Uma outra pessoa relatou que teve o mesmo problema, então fiquei em dúvida se meu PC que era ruim ou se era um problema do jogo mesmo. Se você teve problema parecido, não se desespere! Meu computador não explodiu em nenhum momento.
Temos aqui um grande exemplo de jogo de quebra-cabeças que pode ir além e trazer uma experiência única para o jogador, adicionando filosofia, história e um tico de crise existencial em uma ótima história de ficção científica. Apesar de achar certos quebra-cabeças difíceis e cansativos demais, The Talos Principle tem o diferencial de ser um jogo que você pode parar e só ficar observando os detalhes do cenário e curtindo a trilha sonora.
O jogo começa com você acordando em um jardim bonito, enquanto olha pra sua mão robótica e pensa: “Mas que porras está acontecendo?”. Então, uma voz calma do além diz que é seu criador e que você precisa buscar umas pecinhas de um quebra-cabeça pra poder ir pro céu. E essa voz, que se apresenta como Elohim (descobri que significa Deus em hebraico), diz que você NÃO pode, de maneira algum, entrar na torre. Na hora que ele fala isso, eu nem vi torre nenhuma, mas pensei: “Pois agora eu vou entrar na primeira torre que eu vir pela frente”. E foi isso mesmo que eu fiz. O Elohim não ficou muito feliz, mas tudo que é proibido é mais gostoso, não é mesmo?
Enquanto você se descobre como um androide em busca do sentido da sua própria existência, você navega por três “mundos” diferentes que se conectam ao redor da torre proibida. Cada “mundo” é composto por fases, e cada fase tem alguns quebra-cabeças para serem resolvidos. Sempre que você resolve um quebra-cabeça, você ganha uma peça que pode ser usada para ganhar novos itens que serão úteis em fases no futuro e para avançar na torre (ou não, caso você queira obedecer o Elohim).
Os quebra-cabeças envolvem liberar portas, ativar mecanismos e até mesmo gravar você mesmo fazendo algo e usar sua própria gravação pra te ajudar a passar por alguns obstáculos. Eu juro que a maioria das fases eu consegui sozinho, mas algumas eram impossíveis pra mim e tive que apelar pra ajuda dos universitários. Eu passava quase uma hora tentando resolver alguma fase, daí eu desligava o jogo, ia fazer qualquer outra coisa e, quando eu voltava, eu conseguia resolver o mistério na primeira tentativa. Eu me sentia muito esperto nessas horas, vou confessar.
Em um dado momento, seja pelos “glitches” do cenário ou por você se perceber caçando pecinhas de quebra-cabeça porque uma voz do além te disse pra fazer isso, você percebe que está numa simulação ou numa espécie de teste. Fica a seu critério investigar isso ou fingir que está tudo normal e fazer tudo que o Elohim mandar. Uma das coisas mais interessantes em The Talos Principle são os textos que você encontra em terminais com computadores retrô ao longo do jogo. Você consegue acessar textos filosóficos (que inclusive explicam o nome do jogo) e também diários, e-mails e gravações de áudio que explicam o que aconteceu com a humanidade. É definitivamente um jogo que você vai descobrindo a história através de pistas espalhadas ao longo das fases, e nada é dito de maneira direta.
Dou destaque aos gráficos muito bem feitos e a trilha sonora que te deixa sem ar em alguns momentos. Também achei interessante que existem muitos “easter eggs”, pequenos detalhes escondidos que não fazem diferença na história, mas que podem provocar um momento “Ahá! Entendi essa referência”. Em termos mais técnicos, eu só fiquei meio preocupado porque aparentemente meu computador não soube lidar muito bem com The Talos Principle; em vários momentos o computador ficou tão quente que eu achei que ele fosse explodir. Uma outra pessoa relatou que teve o mesmo problema, então fiquei em dúvida se meu PC que era ruim ou se era um problema do jogo mesmo. Se você teve problema parecido, não se desespere! Meu computador não explodiu em nenhum momento.
Temos aqui um grande exemplo de jogo de quebra-cabeças que pode ir além e trazer uma experiência única para o jogador, adicionando filosofia, história e um tico de crise existencial em uma ótima história de ficção científica. Apesar de achar certos quebra-cabeças difíceis e cansativos demais, The Talos Principle tem o diferencial de ser um jogo que você pode parar e só ficar observando os detalhes do cenário e curtindo a trilha sonora.
Em Kirby and the Forgotten Land, você controla Kirby, uma bolota rosa com carinha fofa, que é sugado para um outro planeta e precisa salvar seus amigos das garras de um grupo maligno chamado Beast Pack. Kirby consegue absorver seus inimigos, ganhando poderes especiais, como a habilidade de jogar bombas, de lutar com uma espada ou um martelo, de virar uma espécie de porco espinho, entre muitas outras.
Pelo que dá pra entender da história, Kirby vai parar em um mundo muito parecido com a nossa Terra, mas não há mais nenhum humano lá. Há apenas cidades vazias e um aspecto apocalíptico nos prédios abandonados, nas ruas destruídas e nos desertos desolados. Isso cria uma certa disparidade, pois o Kirby e seus amiguinhos são fofos e coloridos, enquanto o cenário, apesar de também bem colorido e detalhado, vai mais pra uma vibe de caos e destruição.
Eu fiquei apaixonado pelo jogo, de verdade. As lutas envolvem você usar suas diferentes armas para derrotar seus inimigos (e você pode fazer upgrades nessas armas e elas ficam bem diferentes!), existem diversos quebra-cabeças, os mini-games são muito legais e a história é envolvente, embora um pouco confusa e às vezes meio boba, mas isso é meio que um estilo dos jogos do Kirby. A dificuldade é mediana, você consegue alternar entre um modo fácil e um modo normal, podendo trocar a qualquer momento e a única penalidade é que você consegue menos moedas no modo fácil. As últimas lutas são realmente bem desafiadoras, mas a maioria é opcional, fazem parte de um pós-jogo, eu quis fazer porque minha meta era completar 100% do jogo.
Uma outra parte que me deixou maravilhado foi a trilha sonora, principalmente a música-tema do jogo que toca numa cutscene muito fofa no começo do jogo. Um dos poderes do Kirby é absorver objetos enormes, como carros e escadas, e há uma cena que o Kirby está no “modo carro” enquanto dirige por uma rodovia e toca uma música (pesquisem no YouTube: “Welcome to the New World!”), que a melodia serve de base para várias outras versões alternativas que tocam em outras fases. Esse modo, que no jogo chama “Mouthful Mode”, é extremamente divertido porque o Kirby consegue engolir objetos grandes e ele muda a forma para o objeto engolido. Um dos meus favoritos é o cone de trânsito, que permite você destruir partes do chão onde há uma rachadura e também é ótimo para matar vários inimigos de uma vez.
Além das fases normais, tem também as fases bônus chamadas de Treasure Road. Cada uma dessas fases bônus foca em uma habilidade do Kirby e você é forçado a usá-la para concluir. São as únicas fases do jogo que têm tempo, o que me deixou meio incomodado no começo, mas nenhuma delas tem um tempo muito apertado, só é necessário um pouco de prática. E eu sou formado na escola Crash Bandicoot de fases caóticas com tempo limitado, Kirby foi fichinha.
Eu recomendo demais que você jogue Kirby and the Forgotten Land. É um jogo divertido, relativamente curto (eu levei ~30 horas pra concluir 100%, provavelmente a história principal dá pra fazer em 10 horas), muito versátil por causa das diversas formas e habilidades do Kirby e tem aquele equilíbrio difícil entre uma estética mais fofa e infantil, mas, ao mesmo tempo, com aspectos meio assustadores e complexos. Só joguem!
Pelo que dá pra entender da história, Kirby vai parar em um mundo muito parecido com a nossa Terra, mas não há mais nenhum humano lá. Há apenas cidades vazias e um aspecto apocalíptico nos prédios abandonados, nas ruas destruídas e nos desertos desolados. Isso cria uma certa disparidade, pois o Kirby e seus amiguinhos são fofos e coloridos, enquanto o cenário, apesar de também bem colorido e detalhado, vai mais pra uma vibe de caos e destruição.
Eu fiquei apaixonado pelo jogo, de verdade. As lutas envolvem você usar suas diferentes armas para derrotar seus inimigos (e você pode fazer upgrades nessas armas e elas ficam bem diferentes!), existem diversos quebra-cabeças, os mini-games são muito legais e a história é envolvente, embora um pouco confusa e às vezes meio boba, mas isso é meio que um estilo dos jogos do Kirby. A dificuldade é mediana, você consegue alternar entre um modo fácil e um modo normal, podendo trocar a qualquer momento e a única penalidade é que você consegue menos moedas no modo fácil. As últimas lutas são realmente bem desafiadoras, mas a maioria é opcional, fazem parte de um pós-jogo, eu quis fazer porque minha meta era completar 100% do jogo.
Uma outra parte que me deixou maravilhado foi a trilha sonora, principalmente a música-tema do jogo que toca numa cutscene muito fofa no começo do jogo. Um dos poderes do Kirby é absorver objetos enormes, como carros e escadas, e há uma cena que o Kirby está no “modo carro” enquanto dirige por uma rodovia e toca uma música (pesquisem no YouTube: “Welcome to the New World!”), que a melodia serve de base para várias outras versões alternativas que tocam em outras fases. Esse modo, que no jogo chama “Mouthful Mode”, é extremamente divertido porque o Kirby consegue engolir objetos grandes e ele muda a forma para o objeto engolido. Um dos meus favoritos é o cone de trânsito, que permite você destruir partes do chão onde há uma rachadura e também é ótimo para matar vários inimigos de uma vez.
Além das fases normais, tem também as fases bônus chamadas de Treasure Road. Cada uma dessas fases bônus foca em uma habilidade do Kirby e você é forçado a usá-la para concluir. São as únicas fases do jogo que têm tempo, o que me deixou meio incomodado no começo, mas nenhuma delas tem um tempo muito apertado, só é necessário um pouco de prática. E eu sou formado na escola Crash Bandicoot de fases caóticas com tempo limitado, Kirby foi fichinha.
Eu recomendo demais que você jogue Kirby and the Forgotten Land. É um jogo divertido, relativamente curto (eu levei ~30 horas pra concluir 100%, provavelmente a história principal dá pra fazer em 10 horas), muito versátil por causa das diversas formas e habilidades do Kirby e tem aquele equilíbrio difícil entre uma estética mais fofa e infantil, mas, ao mesmo tempo, com aspectos meio assustadores e complexos. Só joguem!
2005
God of War foi um marco na minha adolescência. Meu irmão sempre teve os consoles da Sony e eu sempre jogava no videogame dele quando ele não estava em casa. E assim eu conheci God of War, ali na lista de jogos do meu irmão. Desde então, já zerei dezenas de vezes, já praticamente decorei a ordem dos quebra-cabeças, as falas dos personagens, tudo, mas mesmo assim não me canso de jogar. Tive a oportunidade de jogar novamente esse ano, depois de mais de 10 anos sem encostar nele e as memórias todas voltaram.
A história de Kratos, o espartano protagonista, é recheada de clichês, mas bem construída. Uma pessoa que nunca jogou God of War vai descobrindo aos poucos as origens de Kratos através de flashbacks bem legais de se assistir; no começo tudo parece muito confuso, mas a história é amarrada no final de modo que entendemos o porquê de tudo começar com uma cena do espartano se jogando de um precipício.
Em resumo, Kratos fez algo terrível e os deuses prometem perdoá-lo se ele conseguir derrotar Ares, o deus da guerra, que está destruindo a cidade de Atenas completamente fora de controle. Ele é conduzido ao templo onde fica escondida a Caixa de Pandora; se Kratos conseguir ultrapassar todas as armadilhas, os quebra-cabeças e os infindáveis monstros que a protegem, ele irá conseguir equiparar seus poderes ao de um deus.
God of War é um clássico hack-and-slash: aquele tipo de jogo que você aperta vários botões e seu personagem faz acrobacias e mata dezenas de inimigos de uma vez só. O ritmo do jogo é rápido e requer bons reflexos para desviar de diversos ataques lançados por todas as direções. O Templo de Pandora é recheado de quebra-cabeças para balancear com as cenas sanguinolentas de Kratos degolando seus inimigos. Os quebra-cabeças são simples e divertidos, os gráficos dão o tom sombrio e sofrido da história e a trilha sonora tem aquele ar épico que se encaixa muito bem com tudo.
Algumas coisas me incomodaram, como alguns inimigos que começam a defender dos ataques de Kratos mesmo que a animação mostre que eles estão caídos no chão. Além disso, a lógica de resolver quebra-cabeças no templo também deixa um buraco no roteiro: você chega no templo e encontra outras pessoas que estão tentando ou que morreram tentando encontrar a Caixa de Pandora, mas as armadilhas e os quebra-cabeças estão todos desarmados. Eu sei que é um videogame e que essas coisas realmente não podem ser levadas tão em conta, mas acho que isso ficou na minha cabeça enquanto eu estava jogando. (Fiquei imaginando uns minions indo limpar as salas e desarmar as armadilhas depois que o Kratos tivesse passado.)
Foi uma delícia poder voltar à Grécia Antiga e cheia de mitos, magia e criaturas feias e acompanhar mais uma vez a história de Kratos. Ainda sinto alguns arrepios com as falas do Kratos na luta final. Mal posso esperar pra reviver a aventura em God of War II.
A história de Kratos, o espartano protagonista, é recheada de clichês, mas bem construída. Uma pessoa que nunca jogou God of War vai descobrindo aos poucos as origens de Kratos através de flashbacks bem legais de se assistir; no começo tudo parece muito confuso, mas a história é amarrada no final de modo que entendemos o porquê de tudo começar com uma cena do espartano se jogando de um precipício.
Em resumo, Kratos fez algo terrível e os deuses prometem perdoá-lo se ele conseguir derrotar Ares, o deus da guerra, que está destruindo a cidade de Atenas completamente fora de controle. Ele é conduzido ao templo onde fica escondida a Caixa de Pandora; se Kratos conseguir ultrapassar todas as armadilhas, os quebra-cabeças e os infindáveis monstros que a protegem, ele irá conseguir equiparar seus poderes ao de um deus.
God of War é um clássico hack-and-slash: aquele tipo de jogo que você aperta vários botões e seu personagem faz acrobacias e mata dezenas de inimigos de uma vez só. O ritmo do jogo é rápido e requer bons reflexos para desviar de diversos ataques lançados por todas as direções. O Templo de Pandora é recheado de quebra-cabeças para balancear com as cenas sanguinolentas de Kratos degolando seus inimigos. Os quebra-cabeças são simples e divertidos, os gráficos dão o tom sombrio e sofrido da história e a trilha sonora tem aquele ar épico que se encaixa muito bem com tudo.
Algumas coisas me incomodaram, como alguns inimigos que começam a defender dos ataques de Kratos mesmo que a animação mostre que eles estão caídos no chão. Além disso, a lógica de resolver quebra-cabeças no templo também deixa um buraco no roteiro: você chega no templo e encontra outras pessoas que estão tentando ou que morreram tentando encontrar a Caixa de Pandora, mas as armadilhas e os quebra-cabeças estão todos desarmados. Eu sei que é um videogame e que essas coisas realmente não podem ser levadas tão em conta, mas acho que isso ficou na minha cabeça enquanto eu estava jogando. (Fiquei imaginando uns minions indo limpar as salas e desarmar as armadilhas depois que o Kratos tivesse passado.)
Foi uma delícia poder voltar à Grécia Antiga e cheia de mitos, magia e criaturas feias e acompanhar mais uma vez a história de Kratos. Ainda sinto alguns arrepios com as falas do Kratos na luta final. Mal posso esperar pra reviver a aventura em God of War II.
This review contains spoilers
No meio do ano passado, eu joguei e zerei The Witcher, pois sempre tive intenção de jogar The Witcher 3, mas eu queria ter toda a experiência na ordem cronológica. Esse ano, peguei o The Witcher 2 pra jogar e continuar nessa aventura. Posso dizer que eu gostei do que vi, com algumas ressalvas, mas achei que ele entregou uma experiência que eu esperava depois do que eu vi no primeiro jogo.
A história de The Witcher 2 continua quase que imediatamente após o epílogo de The Witcher, quando Geralt salva o Rei Foltest de um assassino e começa a trabalhar como uma espécie de guarda-costas/amigo do rei. O jogo começa com Geralt preso, sendo interrogado pela morte do rei, e isso me deixou muito confuso no início, mas depois percebi que seria revelado o que aconteceu através de flashbacks. Essa dinâmica foi interessante (até achei que o jogo inteiro seria assim, se não me engano tem um Dragon Age que é nesse estilo), além de ser um modo criativo de introduzir um tutorial e uma ambientação.
Foltest é assassinado por um careca que parecia um Witcher e isso deixa Geralt extremamente intrigado, ainda mais porque ele foge com um bando de scoia’tael. Ei, no The Witcher 1, eu ajudei esses caras, que história é essa? Mas não há tempo para explicações, Geralt vai pra uma cidade portuária chamada Flotsam com seu contatinho, Triss Merigold (ei, eu escolhi a outra no primeiro jogo, minhas escolhas não são importantes pra você, Geralt?), e o seu interrogador, que, por algum milagre, acredita quando Geralt diz que ele não é o assassino do rei. O problema é que todo o resto do reino acha que ele matou sim, e assim Geralt vai de “amigo do rei” pra mais uma vez “mutante esquisito que merece ser linchado”.
Ao longo da história, Geralt relembra algumas coisas de seu passado e investiga sobre o Wild Hunt, o que já vai engatar no enredo do próximo jogo, eu imagino. Além disso, tem toda uma série de questões políticas sobre magos e reis fazendo guerras uns com os outros. Confesso que essa parte me deixou um pouco confuso, sempre falavam uns nomes esquisitos que eu não lembrava ou não sabia e o mapa é um dos piores mapas de RPG que eu já vi, dificultando a minha compreensão geográfica do reino como um todo.
Mecanicamente, o jogo é bastante desafiador. Eu acabei jogando no modo mais fácil porque me foi recomendado assim baseado no meu desempenho no tutorial, porém, mesmo no modo fácil, The Witcher 2 me fez morrer algumas vezes. Além das batalhas com algumas dinâmicas diferentes do primeiro jogo, há também missões stealth, e eu sinceramente achei muito divertido nocautear os guardas e ir apagando as tochas pra me esconder no escuro.
Uma mudança significativa do primeiro jogo foi a mecânica de meditação. Antes, o Geralt só podia meditar em uma estalagem, ou numa casa segura, agora literalmente qualquer lugar serve pro Witcher fazer seus rituais de fabricar e beber poções. Ainda não curto a ideia de ter que sentar pra poder beber uma poção, mas acho que já me acostumei.
The Witcher 2 é relativamente curto, se comparado ao primeiro, mas que possui os aspectos que me fizeram gostar bastante da franquia: um sistema de batalhas e magias simples e direto, um ar de investigação policial, diálogos interessantes e muitas vezes engraçados e, claro, ficar algumas horas olhando pra bunda do Geralt.
A história de The Witcher 2 continua quase que imediatamente após o epílogo de The Witcher, quando Geralt salva o Rei Foltest de um assassino e começa a trabalhar como uma espécie de guarda-costas/amigo do rei. O jogo começa com Geralt preso, sendo interrogado pela morte do rei, e isso me deixou muito confuso no início, mas depois percebi que seria revelado o que aconteceu através de flashbacks. Essa dinâmica foi interessante (até achei que o jogo inteiro seria assim, se não me engano tem um Dragon Age que é nesse estilo), além de ser um modo criativo de introduzir um tutorial e uma ambientação.
Foltest é assassinado por um careca que parecia um Witcher e isso deixa Geralt extremamente intrigado, ainda mais porque ele foge com um bando de scoia’tael. Ei, no The Witcher 1, eu ajudei esses caras, que história é essa? Mas não há tempo para explicações, Geralt vai pra uma cidade portuária chamada Flotsam com seu contatinho, Triss Merigold (ei, eu escolhi a outra no primeiro jogo, minhas escolhas não são importantes pra você, Geralt?), e o seu interrogador, que, por algum milagre, acredita quando Geralt diz que ele não é o assassino do rei. O problema é que todo o resto do reino acha que ele matou sim, e assim Geralt vai de “amigo do rei” pra mais uma vez “mutante esquisito que merece ser linchado”.
Ao longo da história, Geralt relembra algumas coisas de seu passado e investiga sobre o Wild Hunt, o que já vai engatar no enredo do próximo jogo, eu imagino. Além disso, tem toda uma série de questões políticas sobre magos e reis fazendo guerras uns com os outros. Confesso que essa parte me deixou um pouco confuso, sempre falavam uns nomes esquisitos que eu não lembrava ou não sabia e o mapa é um dos piores mapas de RPG que eu já vi, dificultando a minha compreensão geográfica do reino como um todo.
Mecanicamente, o jogo é bastante desafiador. Eu acabei jogando no modo mais fácil porque me foi recomendado assim baseado no meu desempenho no tutorial, porém, mesmo no modo fácil, The Witcher 2 me fez morrer algumas vezes. Além das batalhas com algumas dinâmicas diferentes do primeiro jogo, há também missões stealth, e eu sinceramente achei muito divertido nocautear os guardas e ir apagando as tochas pra me esconder no escuro.
Uma mudança significativa do primeiro jogo foi a mecânica de meditação. Antes, o Geralt só podia meditar em uma estalagem, ou numa casa segura, agora literalmente qualquer lugar serve pro Witcher fazer seus rituais de fabricar e beber poções. Ainda não curto a ideia de ter que sentar pra poder beber uma poção, mas acho que já me acostumei.
The Witcher 2 é relativamente curto, se comparado ao primeiro, mas que possui os aspectos que me fizeram gostar bastante da franquia: um sistema de batalhas e magias simples e direto, um ar de investigação policial, diálogos interessantes e muitas vezes engraçados e, claro, ficar algumas horas olhando pra bunda do Geralt.
2017
Eu amo gatos. Já tive mais de um como bicho de estimação, atualmente não tenho nenhum, mas adoro tudo relacionado a gato. E foi isso que me fez querer jogar Cat Quest. Um jogo em que você é um gatinho guerreiro numa missão de salvar o reino de Felingard? Sim, por favor.
O jogo entrega tudo que promete. A história é bem genérica de RPG: você é um gatinho comum, sua irmã é raptada por um feiticeiro maligno e você recebe ajuda de um ser luminoso flutuante na sua aventura para ficar mais forte e salvar sua irmã.
O jogo permite você atacar com espadas, maças, martelos, entre outros, e usar magias ofensivas e de cura. Você sobe de nível completando missões nos vilarejos, matando monstros e descendo em calabouços e cavernas. Os gráficos são um 2D meio 3D que eu sinceramente curto muito. Os diálogos dos personagens são cheios de trocadilhos com termos felinos em inglês, como fur, paw, cat e feline. O próprio nome do reino usa esse trocadilho: Felingard.
Cat Quest peca pela repetitividade nas missões. Elas são sempre no estilo "vá em lugar X e mate monstros". Senti falta de ter alguns quebra-cabeças, talvez alguns objetos pra interagir, códigos escondidos ou algo assim.
Além de ser um clássico RPG, o jogo também tem um sistema de batalha interessante, ainda que simples. Os inimigos têm um alcance nos seus ataques que dá pra ver em um círculo vermelho no chão. A ideia é você desviar desses ataques pra levar o menos de dano possível, uma vez que eles são bem fortes. As magias tem desenhos diferentes e são um pouco mais difíceis de desviar. Esse esquema faz com que as batalhas exijam certa agilidade do jogador, o que quebra um pouco a monotonia das missões em si.
Eu não senti vontade de jogar Cat Quest novamente com os modos especiais depois que você completa pela primeira vez, mas eu achei o jogo divertido e que valeu a pena conhecer.
O jogo entrega tudo que promete. A história é bem genérica de RPG: você é um gatinho comum, sua irmã é raptada por um feiticeiro maligno e você recebe ajuda de um ser luminoso flutuante na sua aventura para ficar mais forte e salvar sua irmã.
O jogo permite você atacar com espadas, maças, martelos, entre outros, e usar magias ofensivas e de cura. Você sobe de nível completando missões nos vilarejos, matando monstros e descendo em calabouços e cavernas. Os gráficos são um 2D meio 3D que eu sinceramente curto muito. Os diálogos dos personagens são cheios de trocadilhos com termos felinos em inglês, como fur, paw, cat e feline. O próprio nome do reino usa esse trocadilho: Felingard.
Cat Quest peca pela repetitividade nas missões. Elas são sempre no estilo "vá em lugar X e mate monstros". Senti falta de ter alguns quebra-cabeças, talvez alguns objetos pra interagir, códigos escondidos ou algo assim.
Além de ser um clássico RPG, o jogo também tem um sistema de batalha interessante, ainda que simples. Os inimigos têm um alcance nos seus ataques que dá pra ver em um círculo vermelho no chão. A ideia é você desviar desses ataques pra levar o menos de dano possível, uma vez que eles são bem fortes. As magias tem desenhos diferentes e são um pouco mais difíceis de desviar. Esse esquema faz com que as batalhas exijam certa agilidade do jogador, o que quebra um pouco a monotonia das missões em si.
Eu não senti vontade de jogar Cat Quest novamente com os modos especiais depois que você completa pela primeira vez, mas eu achei o jogo divertido e que valeu a pena conhecer.
2018
Quando comecei a jogar Fluffy Horde, eu tive que a sensação de que estava jogando algo completamente caótico. Ao terminar a última fase, eu tive certeza que esse é um jogo completamente caótico.
Provido de um humor “não-politicamente correto” (odeio esse termo), o jogo mistura estratégia em tempo real e tower defense com gráficos 2D. Você controla diversos soldados, arqueiros, princesas e… pessoas fantasiadas de cenoura para batalhar e defender seu reino de uma horda infinita de coelhos sanguinários. É basicamente isso.
Fluffy Horde possui quatro mundos com mais de 100 fases no total. Cada mundo adiciona mecânicas e desafios diferentes. Essa variedade é o ponto alto do jogo, junto com os comentários dos personagens e as instruções das fases que soam ridículas, mas que te fazem dar uma risadinha. Em algumas fases você precisa eliminar todos os coelhos, ou você precisa fazer uma vaquinha andar até o outro lado do mapa, ou se certificar que a princesa chegue são e salva na festa, ou até mesmo usar os coelhos para destruir monstros de neve gigantes.
Confesso que é bem cômico ver os coelhos se multiplicando, principalmente em fases que você precisa fazer eles se reproduzirem para vencer o objetivo.
O nível de dificuldade do jogo é mediano. Eu gosto do gênero de estratégia, apesar de ficar um pouco ansioso quando é nesse estilo de tempo real, e Fluffy Horde tem a possibilidade de vencer os desafios de maneiras diferentes. Você pode ganhar medalhas por terminar as fases em um certo limite de tempo, mas no geral não há penalidade por levar o tanto de tempo que você precisar (só cuidado porque os coelhos se reproduzem como… coelhos, e se eles se multiplicarem demais, você perde). Eu que não fui louco de tentar pegar todas as medalhas porque eu não me odeio a esse ponto.
Apesar das fases divertidas, o jogo têm alguns bugs e, em alguns momentos, é necessário mais sorte do que estratégia. Além disso, esse humor que faz piada com tudo cai meio mal diversas vezes, principalmente nas sátiras com gordofobia. Também senti falta de uma tradução pra português, visto que o jogo foi feito por brasileiros. E falando em brasileiros, eu amei a trilha sonora, principalmente dos últimos dois mundos, porque enfiaram umas batidas de funk carioca de forma excepcional. Além disso, o trabalho de dublagem foi muito bem feito.
No geral, Fluffy Horde é divertido (e caótico), mas que me pegou no uso exagerado de algumas piadas.
Provido de um humor “não-politicamente correto” (odeio esse termo), o jogo mistura estratégia em tempo real e tower defense com gráficos 2D. Você controla diversos soldados, arqueiros, princesas e… pessoas fantasiadas de cenoura para batalhar e defender seu reino de uma horda infinita de coelhos sanguinários. É basicamente isso.
Fluffy Horde possui quatro mundos com mais de 100 fases no total. Cada mundo adiciona mecânicas e desafios diferentes. Essa variedade é o ponto alto do jogo, junto com os comentários dos personagens e as instruções das fases que soam ridículas, mas que te fazem dar uma risadinha. Em algumas fases você precisa eliminar todos os coelhos, ou você precisa fazer uma vaquinha andar até o outro lado do mapa, ou se certificar que a princesa chegue são e salva na festa, ou até mesmo usar os coelhos para destruir monstros de neve gigantes.
Confesso que é bem cômico ver os coelhos se multiplicando, principalmente em fases que você precisa fazer eles se reproduzirem para vencer o objetivo.
O nível de dificuldade do jogo é mediano. Eu gosto do gênero de estratégia, apesar de ficar um pouco ansioso quando é nesse estilo de tempo real, e Fluffy Horde tem a possibilidade de vencer os desafios de maneiras diferentes. Você pode ganhar medalhas por terminar as fases em um certo limite de tempo, mas no geral não há penalidade por levar o tanto de tempo que você precisar (só cuidado porque os coelhos se reproduzem como… coelhos, e se eles se multiplicarem demais, você perde). Eu que não fui louco de tentar pegar todas as medalhas porque eu não me odeio a esse ponto.
Apesar das fases divertidas, o jogo têm alguns bugs e, em alguns momentos, é necessário mais sorte do que estratégia. Além disso, esse humor que faz piada com tudo cai meio mal diversas vezes, principalmente nas sátiras com gordofobia. Também senti falta de uma tradução pra português, visto que o jogo foi feito por brasileiros. E falando em brasileiros, eu amei a trilha sonora, principalmente dos últimos dois mundos, porque enfiaram umas batidas de funk carioca de forma excepcional. Além disso, o trabalho de dublagem foi muito bem feito.
No geral, Fluffy Horde é divertido (e caótico), mas que me pegou no uso exagerado de algumas piadas.
2015
Runestone Keeper é um jogo do gênero roguelike. Eu não sabia o que era isso até pouco tempo atrás, mas é um jogo em que você explora mapas gerados aleatoriamente e, pra avançar para o próximo mapa, você precisa matar todas as criaturas ou achar a saída. O jogo continua infinitamente, ficando mais difícil a cada mapa, até que o seu personagem morra, fazendo com que você tenha que voltar ao início. Geralmente, nesses jogos, você pode comprar melhorias para que você sobreviva por mais tempo.
Em Runestone Keeper, você enfrenta uma série de calabouços. Cada calabouço começa completamente escuro e você precisa ir clicando nos “azulejos” do chão para que eles se acendam e mostrem o que está escondido. Você pode encontrar itens, inimigos, eventos, armadilhas e a saída para o próximo calabouço. Tudo é gerado aleatoriamente e nenhum andar é igual ao outro.
O jogo permite você jogar com um personagem chamado Guy, aparentemente um guerreiro bem genérico, mas há outros personagens desbloqueáveis. O problema é que é muito, muito difícil de conseguir desbloquear qualquer um deles. Ou você precisa chegar bem longe no modo mais difícil do jogo ou você precisa desembolsar uma quantidade absurda de ouro. Eu joguei por mais de 3h e não cheguei nem perto de conseguir desbloquear qualquer um deles.
Sinceramente, não curti muito a experiência com Runestone Keeper. Eu não joguei muitos roguelikes, mas o que eu espero desse estilo de jogo é me sentir mais forte a cada rodada, para que eu consiga chegar mais longe. Em Runestone Keeper, eu senti que era tudo muito desbalanceado. Alguns inimigos que você encontra logo no começo são muito fortes e muitas vezes eu morri bem no início. Se você dá sorte de encontrar os equipamentos perfeitos (porque o jogo pode te dar equipamentos que precisam de muitos atributos que não fazem sentido com a classe do seu personagem) ou se você encontrar muitos corações que aumentam a sua vida, o jogo flui muito bem. Mas baseado em todas as rodadas que eu fiz, ou você encontrar os itens perfeitos logo de cara ou você vai morrer até o quinto andar dos calabouços.
Talvez eu não tenha entendido a lógica e a estratégia de Runestone Keeper, talvez eu precisasse jogar mais um pouco para realmente conseguir pegar no tranco, mas eu percebi que estava me sentindo frustrado demais e não estava me divertindo. Eu recomendo você experimentar o jogo se você curte o gênero, mas já tenha em mente que você precisará passar muitas e muitas horas até conseguir obter algum progresso.
Em Runestone Keeper, você enfrenta uma série de calabouços. Cada calabouço começa completamente escuro e você precisa ir clicando nos “azulejos” do chão para que eles se acendam e mostrem o que está escondido. Você pode encontrar itens, inimigos, eventos, armadilhas e a saída para o próximo calabouço. Tudo é gerado aleatoriamente e nenhum andar é igual ao outro.
O jogo permite você jogar com um personagem chamado Guy, aparentemente um guerreiro bem genérico, mas há outros personagens desbloqueáveis. O problema é que é muito, muito difícil de conseguir desbloquear qualquer um deles. Ou você precisa chegar bem longe no modo mais difícil do jogo ou você precisa desembolsar uma quantidade absurda de ouro. Eu joguei por mais de 3h e não cheguei nem perto de conseguir desbloquear qualquer um deles.
Sinceramente, não curti muito a experiência com Runestone Keeper. Eu não joguei muitos roguelikes, mas o que eu espero desse estilo de jogo é me sentir mais forte a cada rodada, para que eu consiga chegar mais longe. Em Runestone Keeper, eu senti que era tudo muito desbalanceado. Alguns inimigos que você encontra logo no começo são muito fortes e muitas vezes eu morri bem no início. Se você dá sorte de encontrar os equipamentos perfeitos (porque o jogo pode te dar equipamentos que precisam de muitos atributos que não fazem sentido com a classe do seu personagem) ou se você encontrar muitos corações que aumentam a sua vida, o jogo flui muito bem. Mas baseado em todas as rodadas que eu fiz, ou você encontrar os itens perfeitos logo de cara ou você vai morrer até o quinto andar dos calabouços.
Talvez eu não tenha entendido a lógica e a estratégia de Runestone Keeper, talvez eu precisasse jogar mais um pouco para realmente conseguir pegar no tranco, mas eu percebi que estava me sentindo frustrado demais e não estava me divertindo. Eu recomendo você experimentar o jogo se você curte o gênero, mas já tenha em mente que você precisará passar muitas e muitas horas até conseguir obter algum progresso.
2018
Gris é um jogo de plataforma em que você controla uma personagem que perdeu sua voz (e suas cores?) em um mundo com cenários pós-apocalípticos. Você precisa passar por uma série de quebra-cabeças relativamente fáceis de resolver enquanto batalha contra suas próprias incertezas e inseguranças. Algumas pessoas me falaram que é sobre lutar contra depressão, e faz bastante sentido, mas a história do jogo é aberta o suficiente pra múltiplas interpretações.
Ao longo das fases, você desbloqueia alguns novos poderes e consegue transpor obstáculos diferentes usando cada um deles. O básico de um bom jogo de plataforma. Os cenários são realmente muito lindos, a trilha sonora te pega de surpresa em vários momentos e o controle é responsivo e fluido. Mas eu preciso confessar uma coisa meio vergonhosa de minha parte: eu acho que não curto muito esses jogos indie super contemplativos.
Não estou dizendo que odiei o jogo, mas que não foi uma experiência tão positiva pra mim. Ele é bem curto (se, assim como eu, você não se importou o suficiente para desbloquear todos os desafios pós-game) então eu não cheguei a me sentir entediado, mas em diversos momentos eu achei meio repetitivo. E tudo é vago demais, não tem nenhum texto, é tudo muito abstrato e triste. E, ok, pode ser a intenção do jogo, mas não me agradou tanto.
Acho que me falaram tão bem de Gris que eu fui pego novamente na famigerada expectativa alta demais. Mas tudo bem, achei que valeu a pena ter jogado e, mesmo deixando aquela impressão de “era só isso?”, eu recomendaria Gris pra quem quer um jogo tranquilo, sem batalha, sem morte e com uma arte de encher os olhos.
Ao longo das fases, você desbloqueia alguns novos poderes e consegue transpor obstáculos diferentes usando cada um deles. O básico de um bom jogo de plataforma. Os cenários são realmente muito lindos, a trilha sonora te pega de surpresa em vários momentos e o controle é responsivo e fluido. Mas eu preciso confessar uma coisa meio vergonhosa de minha parte: eu acho que não curto muito esses jogos indie super contemplativos.
Não estou dizendo que odiei o jogo, mas que não foi uma experiência tão positiva pra mim. Ele é bem curto (se, assim como eu, você não se importou o suficiente para desbloquear todos os desafios pós-game) então eu não cheguei a me sentir entediado, mas em diversos momentos eu achei meio repetitivo. E tudo é vago demais, não tem nenhum texto, é tudo muito abstrato e triste. E, ok, pode ser a intenção do jogo, mas não me agradou tanto.
Acho que me falaram tão bem de Gris que eu fui pego novamente na famigerada expectativa alta demais. Mas tudo bem, achei que valeu a pena ter jogado e, mesmo deixando aquela impressão de “era só isso?”, eu recomendaria Gris pra quem quer um jogo tranquilo, sem batalha, sem morte e com uma arte de encher os olhos.
This review contains spoilers
Eu gostaria de deixar avisado desde o início dessa resenha que o meu único objetivo é divulgar e enaltecer o maior jogo de todos os tempos: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (carinhosamente apelidado de Chorinho do Reino). Não teve sensação melhor do que estar de volta a Hyrule, explorar novamente as vastas terras habitadas por inimigos e aliados, e poder ainda explorar mais dois espaços totalmente novos: os céus de Hyrule e as profundezas abaixo da terra.
Eu vou tentar ao máximo evitar dar spoilers ao longo da resenha, mas algumas coisas serão inevitáveis de dizer, então peço que, caso você não tenha jogado ainda, não leia o resto do texto. Só vai jogar e não perde tempo!
Certo, agora que nos livramos de quem ainda não pôde provar do mais delicioso néctar dos deuses em forma de videogame, vamos aos fatos. Tudo, absolutamente tudo, que o Breath of the Wild fez de grandioso, o Tears of the Kingdom conseguiu melhorar. Confesso que no começo senti falta dos poderes que o Link tinha no jogo anterior, mas os novos são tão incríveis que, assim que eu peguei o jeito da coisa, eu só voei no jogo. Lembro que, quando vi os trailers de TotK, eu olhei a mecânica de juntar objetos e criar novas armas e veículos e pensei “heh, legal, mas acho que não vou usar isso”. Só que, quando comecei a jogar, vi que o jogo me incentivava tanto a usar a Ultrahand que é quase impossível progredir na história sem fazer uso dessa mecânica. E, sério, a partir do momento que você começa a juntar coisas, você não quer mais parar.
Os outros poderes do Link são muito memoráveis também. A habilidade de ascender a andares superiores é extremamente útil na exploração; o Recall me salvou diversas vezes enquanto lutava contra Taluses (sim, você consegue fazer com que a pedra que o Talus joga em você volte no tempo e bata nele); a Fuse é essencial, uma vez que a maior parte das armas ficou estragada com a chegada da misteriosa nuvem de fumaça vermelha chamada Gloom; e Autobuild é incrível para todo mundo como eu que tem muita preguiça de montar veículos peça por peça.
Várias mecânicas que foram icônicas no Breath of the Wild retornaram nesse novo jogo: os shrines, os quatro templos (que aqui substituem as quatro bestas divinas) e a busca por memórias. Não sei se é porque eu me acostumei aos shrines do primeiro jogo, mas achei a maioria deles muito fáceis no TotK; pode ser que tenha a ver também com os novos poderes do Link serem muito mais versáteis e permitirem uma gama maior de soluções dos quebra-cabeças. Os quatro templos são enormes e lindos, e também tive a sensação de que os chefões foram bem mais fáceis dos que as das bestas divinas. E a busca por memórias melhorou muito! Além de serem mais fáceis de achar, elas são muito mais significativas e ajudam a preencher as lacunas sobre o que aconteceu com a Zelda.
A história do jogo em si foi surpreendente. Tudo começa com Zelda e Link explorando as profundezas do Castelo de Hyrule por causa de uma nova presença: uma névoa que causa doenças em pessoas e danifica objetos que a tocam. Os dois acham uma espécie de múmia e acabam despertando um mal terrível; pra piorar, a Zelda some e o Link perde a sua mão e sua espada. O espadachim acorda em uma ilha e obtém ajuda de Rauro; ele foi o primeiro rei de Hyrule há muitos anos e um dos últimos Zonai, uma raça com tecnologia extremamente avançada que habitava os céus em ilhas flutuantes. Agora, Link precisa descobrir o que aconteceu com Zelda e investigar todos os acontecimentos que literalmente abalaram a estrutura do reino. Todas as áreas e mapas foram reformulados; muita coisa é igual ao Breath of the Wild sim, mas é aquela familiaridade e ao mesmo tempo um sentimento de que há algo de diferente e novo.
Eu poderia escrever mais mil coisas aqui, mas eu não quero deixar essa resenha maior do que já está. Tears of the Kingdom entra no rol daqueles jogos que você termina e pensa: “putz, queria poder esquecer tudo só pra poder ter a experiência de jogar pela primeira vez novamente”. Uma verdadeira obra-prima do videogame.
Eu vou tentar ao máximo evitar dar spoilers ao longo da resenha, mas algumas coisas serão inevitáveis de dizer, então peço que, caso você não tenha jogado ainda, não leia o resto do texto. Só vai jogar e não perde tempo!
Certo, agora que nos livramos de quem ainda não pôde provar do mais delicioso néctar dos deuses em forma de videogame, vamos aos fatos. Tudo, absolutamente tudo, que o Breath of the Wild fez de grandioso, o Tears of the Kingdom conseguiu melhorar. Confesso que no começo senti falta dos poderes que o Link tinha no jogo anterior, mas os novos são tão incríveis que, assim que eu peguei o jeito da coisa, eu só voei no jogo. Lembro que, quando vi os trailers de TotK, eu olhei a mecânica de juntar objetos e criar novas armas e veículos e pensei “heh, legal, mas acho que não vou usar isso”. Só que, quando comecei a jogar, vi que o jogo me incentivava tanto a usar a Ultrahand que é quase impossível progredir na história sem fazer uso dessa mecânica. E, sério, a partir do momento que você começa a juntar coisas, você não quer mais parar.
Os outros poderes do Link são muito memoráveis também. A habilidade de ascender a andares superiores é extremamente útil na exploração; o Recall me salvou diversas vezes enquanto lutava contra Taluses (sim, você consegue fazer com que a pedra que o Talus joga em você volte no tempo e bata nele); a Fuse é essencial, uma vez que a maior parte das armas ficou estragada com a chegada da misteriosa nuvem de fumaça vermelha chamada Gloom; e Autobuild é incrível para todo mundo como eu que tem muita preguiça de montar veículos peça por peça.
Várias mecânicas que foram icônicas no Breath of the Wild retornaram nesse novo jogo: os shrines, os quatro templos (que aqui substituem as quatro bestas divinas) e a busca por memórias. Não sei se é porque eu me acostumei aos shrines do primeiro jogo, mas achei a maioria deles muito fáceis no TotK; pode ser que tenha a ver também com os novos poderes do Link serem muito mais versáteis e permitirem uma gama maior de soluções dos quebra-cabeças. Os quatro templos são enormes e lindos, e também tive a sensação de que os chefões foram bem mais fáceis dos que as das bestas divinas. E a busca por memórias melhorou muito! Além de serem mais fáceis de achar, elas são muito mais significativas e ajudam a preencher as lacunas sobre o que aconteceu com a Zelda.
A história do jogo em si foi surpreendente. Tudo começa com Zelda e Link explorando as profundezas do Castelo de Hyrule por causa de uma nova presença: uma névoa que causa doenças em pessoas e danifica objetos que a tocam. Os dois acham uma espécie de múmia e acabam despertando um mal terrível; pra piorar, a Zelda some e o Link perde a sua mão e sua espada. O espadachim acorda em uma ilha e obtém ajuda de Rauro; ele foi o primeiro rei de Hyrule há muitos anos e um dos últimos Zonai, uma raça com tecnologia extremamente avançada que habitava os céus em ilhas flutuantes. Agora, Link precisa descobrir o que aconteceu com Zelda e investigar todos os acontecimentos que literalmente abalaram a estrutura do reino. Todas as áreas e mapas foram reformulados; muita coisa é igual ao Breath of the Wild sim, mas é aquela familiaridade e ao mesmo tempo um sentimento de que há algo de diferente e novo.
Eu poderia escrever mais mil coisas aqui, mas eu não quero deixar essa resenha maior do que já está. Tears of the Kingdom entra no rol daqueles jogos que você termina e pensa: “putz, queria poder esquecer tudo só pra poder ter a experiência de jogar pela primeira vez novamente”. Uma verdadeira obra-prima do videogame.
Se você gosta de jogos point-and-click super pixelados com piadinhas e referências a diversos filmes e séries de ficção científica, você definitivamente vai curtir jogar The Darkside Detective. O jogo se passa na fictícia cidade de Twin Lakes (temos aí uma referência a Twin Peaks?) e você controla um detetive que investiga casos sobrenaturais com a ajuda do seu assistente policial. O detetive McQueen e seu parceiro, Dooley, são membros da Divisão Darkside, responsável por investigar as conexões que Twin Lakes tem com uma outra cidade em um universo paralelo onde tudo é muito mais monstruoso.
Como qualquer jogo point-and-click, você avança na história clicando nos itens dos cenários, coletando tais itens e usando-os para resolver mistérios e quebra-cabeças que vão surgindo. Darkside Detective é dividido em casos, como se fossem episódios de uma série ou mesmo fases de um jogo de plataforma, e você pode fazer os três primeiros casos na ordem que preferir e, à medida que você resolve os casos, você vai liberando outros. Há também três casos bônus que foram liberados com uma atualização após o lançamento.
O que mais me chamou a atenção em Darkside Detectives foi a personalidade do McQueen e do Dooley, tão diferentes e ao mesmo tempo com tanta química. Eles seguem estereótipos de detetives e policiais de Hollywood, sendo McQueen um cara mais sério e comprometido com o trabalho e o Dooley servindo como alívio cômico em muitos momentos, mas eu achei tão bem feito que nem me importo de serem clichês. Além disso tudo, a trilha sonora do jogo é muito gostosinha.
Os quebra-cabeças não são muito difíceis e você facilmente consegue zerar o jogo em algumas poucas horas. Confesso que tive que pesquisar uma ou duas vezes porque eu simplesmente estava travado em alguns casos, mas no geral achei a dificuldade bem baixa e é um jogo ideal para quem nunca jogou algo do gênero. Indico pra todo mundo que gosta de point-and-click e queira dar algumas risadas enquanto investiga casos bizarros envolvendo zumbis, fantasmas e monstros do lago.
Como qualquer jogo point-and-click, você avança na história clicando nos itens dos cenários, coletando tais itens e usando-os para resolver mistérios e quebra-cabeças que vão surgindo. Darkside Detective é dividido em casos, como se fossem episódios de uma série ou mesmo fases de um jogo de plataforma, e você pode fazer os três primeiros casos na ordem que preferir e, à medida que você resolve os casos, você vai liberando outros. Há também três casos bônus que foram liberados com uma atualização após o lançamento.
O que mais me chamou a atenção em Darkside Detectives foi a personalidade do McQueen e do Dooley, tão diferentes e ao mesmo tempo com tanta química. Eles seguem estereótipos de detetives e policiais de Hollywood, sendo McQueen um cara mais sério e comprometido com o trabalho e o Dooley servindo como alívio cômico em muitos momentos, mas eu achei tão bem feito que nem me importo de serem clichês. Além disso tudo, a trilha sonora do jogo é muito gostosinha.
Os quebra-cabeças não são muito difíceis e você facilmente consegue zerar o jogo em algumas poucas horas. Confesso que tive que pesquisar uma ou duas vezes porque eu simplesmente estava travado em alguns casos, mas no geral achei a dificuldade bem baixa e é um jogo ideal para quem nunca jogou algo do gênero. Indico pra todo mundo que gosta de point-and-click e queira dar algumas risadas enquanto investiga casos bizarros envolvendo zumbis, fantasmas e monstros do lago.
2018
O que acontece se um grupo de pré-adolescentes resolve criar um jogo? O resultado é The Spiral Scouts. Um jogo com quebra-cabeças bem difíceis, mas que perde muito pra um uso infantil e forçado de elementos sexuais, palavrões e termos que crianças talvez achem muito engraçado. Mas The Spiral Scouts definitivamente não é um jogo para crianças.
Você começa como uma menina que chega a um mundo sem saber qual seu nome, de onde veio e para onde vai. E tudo bem, porque alguns NPCs estão prontos pra me ajudar e me dizer que eu sou uma escoteira chamada Remae e a minha missão é conseguir distintivos ajudando as pessoas pelo mundo para libertar três entidades cósmicas que estão presas em suas dimensões.
O jogo me deixou entretido por várias horas porque eu amo esse estilo de resolver enigmas e mistérios para avançar na história, e no começo eu até achei engraçadinho que os cenários e os personagens são bem escrachados e pastelões, mas chegou um certo ponto que o humor crasso começou a ficar irritante. Você pensa “legal uma fruta que tem formato de bunda hahah”, mas realmente tudo precisa ter formato de bunda ou pênis? E aparentemente peidos são muito relevantes em diversos momentos da história.
Mas, pra falar a verdade, The Spiral Scouts consegue entregar no quesito quebra-cabeças. Os desafios variam de dificuldade, com alguns muito óbvios de fáceis e outros que eu fiquei horas tentando entender (confesso que o último quebra-cabeças de todos eu tive que ir pesquisar e, mesmo com a resposta, eu não entendi a lógica do negócio).
As músicas são divertidas, o gráfico tem um certo charme de parece que tudo é feito de papel, e o jogo é fácil de aprender, sem muitas mecânicas complicadas (mesmo porque não caberia nesse gênero de quebra-cabeças). Então, no geral, The Spiral Scouts é um jogo divertido, SE você conseguir ignorar o humor capenga nível quinta-série.
Você começa como uma menina que chega a um mundo sem saber qual seu nome, de onde veio e para onde vai. E tudo bem, porque alguns NPCs estão prontos pra me ajudar e me dizer que eu sou uma escoteira chamada Remae e a minha missão é conseguir distintivos ajudando as pessoas pelo mundo para libertar três entidades cósmicas que estão presas em suas dimensões.
O jogo me deixou entretido por várias horas porque eu amo esse estilo de resolver enigmas e mistérios para avançar na história, e no começo eu até achei engraçadinho que os cenários e os personagens são bem escrachados e pastelões, mas chegou um certo ponto que o humor crasso começou a ficar irritante. Você pensa “legal uma fruta que tem formato de bunda hahah”, mas realmente tudo precisa ter formato de bunda ou pênis? E aparentemente peidos são muito relevantes em diversos momentos da história.
Mas, pra falar a verdade, The Spiral Scouts consegue entregar no quesito quebra-cabeças. Os desafios variam de dificuldade, com alguns muito óbvios de fáceis e outros que eu fiquei horas tentando entender (confesso que o último quebra-cabeças de todos eu tive que ir pesquisar e, mesmo com a resposta, eu não entendi a lógica do negócio).
As músicas são divertidas, o gráfico tem um certo charme de parece que tudo é feito de papel, e o jogo é fácil de aprender, sem muitas mecânicas complicadas (mesmo porque não caberia nesse gênero de quebra-cabeças). Então, no geral, The Spiral Scouts é um jogo divertido, SE você conseguir ignorar o humor capenga nível quinta-série.
2007
Eu sabia da existência da franquia The Witcher há um bom tempo. Acho que quando a Netflix lançou a série, eu realmente parei para prestar um pouco mais de atenção, mas nunca dei muita bola pros jogos e só os deixei ali na lista de “um dia pretendo jogar mas não sei muito bem quando”. Mês passado, a Steam fez uma promoção do The Witcher 1 e 2 bem baratinho e resolvi comprar pra ver como é. Já adianto aqui a resenha dizendo que eu gostei e até fiquei curioso de buscar os livros.
Em The Witcher, você controla Geralt e sua profissão é ser um… witcher! Mas o que raios é um witcher? O jogo nunca explica muito bem direito (assim como várias outras coisas, mas depois chegamos lá), porém eu reuni todo o meu parco conhecimento sobre essa mitologia e posso dizer que witcher é um ser humano mutante, com altas habilidades físicas e capaz de controlar um certo nível de magia, que vaga pelo mundo ajudando as pessoas que têm problemas com monstros (ou problemas conjugais, ou problemas financeiros, ou qualquer tipo de problema, na realidade) em troca de umas moedinhas. Perdoem-me se é uma definição simplista, mas pra mim foi o suficiente pra entender a história.
Ambientado numa idade média povoada por monstros e feiticeiros, The Witcher tem uma história um pouco confusa no começo mas que vai se assentando na cabeça do jogador ao longo do tempo, principalmente porque o jogo tem uma espécie de enciclopédia com informações sobre os lugares, monstros, NPCs, e esse compêndio vai sendo alimentado e expandido quando você lê livros, conversa com pessoas ou completa quests. O grosso da história é: Geralt e seus companheiros witchers são atacados por um grupo misterioso conhecido como Salamandra e têm seus livros, ferramentas, poções e segredos roubados. É missão de Geralt investigar quem está por trás disso, e essa investigação o leva até Vizima, cidade onde anos antes ele havia livrado a filha do rei de uma terrível maldição que a transformou em um monstro.
Acho que The Witcher reflete muito os jogos de RPG de computador que foram lançados na época. Várias coisas no jogo, incluindo os gráficos, a música, a mecânica das lutas em si, entre outros, me lembraram muito Dragon Age e World of Warcraft. E é um jogo de 2007, então eu passo pano pra várias coisas que me incomodaram, como informações vagas demais no texto das quests, movimentação do personagem meio truncada, monstros diferentes que na verdade têm quase a mesma modelagem e um nível de machismo bem brega (toda vez que o Geralt transa com uma mulher, aparece uma animação mostrando uma cartinha com uma arte da moça, como se as mulheres fossem cartinhas que o Geralt coleciona).
O jogo é bem naquele estilo de fazer escolhas, então há momentos chave em que você terá que escolher um lado e isso trará consequências na história. Há uma guerra civil prestes a estourar em Vizima entre humanos e não-humanos (elfos e anões, basicamente) e Geralt acaba entrando no meio de tudo isso e espera-se que ele escolha um lado. Pra dizer a verdade, isso é o que menos me atrai no jogo. Acho que eu não curto muito jogos que suas escolhas têm esse nível de impacto, porque fico com aquela sensação de que estou perdendo parte da história ao tomar um caminho ao invés de outro; e eu sou o tipo de pessoa que quer ter a experiência completa, sempre.
O combate em si é bem simples e isso me deixou bastante feliz. Eu estava com medo de ter que aprender toda uma nova mecânica complexa e precisar consultar milhares de guias, mas é tudo bem direto e reto (pelo menos, no modo que eu escolhi jogar: dificuldade média e uso do mouse como controle principal). Algo interessante a se dizer sobre The Witcher é que você consegue fazer poções e elas são feitas usando bebidas alcoólicas! Eu achei inusitado você misturar uma vodka com umas línguas de morto-vivo e disso sair uma poção que te ajuda a dar mais dano nos monstros. O jogo também te limita a tomar poções: há uma barra mostrando o nível de toxicidade do witcher e, se você tomar poções demais, o Geralt começa a ter alucinações e pode até morrer. Um dos jeitos de baixar a toxicidade é… meditar! Aparentemente isso é uma coisa dos livros, mas o Geralt precisa parar e meditar para baixar seu nível de toxicidade, e esse ritual também é necessário para fazer poções e alocar seus pontos de atributo que você ganha a cada nível alcançado. De novo, uma mecânica inusitada para mim, mas que eu me acostumei e, no fim do jogo, eu já até tinha minhas manhas de tomar poções e meditar em seguida para descer o meu nível de toxicidade (Geralt tóxico, não!!!).
The Witcher é um jogo que já tem mais de 15 anos, mas que ainda conseguiu me entreter. Talvez isso tenha acontecido por eu ter afinidade com jogos parecidos com ele e um jogador mais novo ache extremamente ruim e entediante? Talvez. Só sei que eu terminei o jogo com muita expectativa de jogar os próximos.
Em The Witcher, você controla Geralt e sua profissão é ser um… witcher! Mas o que raios é um witcher? O jogo nunca explica muito bem direito (assim como várias outras coisas, mas depois chegamos lá), porém eu reuni todo o meu parco conhecimento sobre essa mitologia e posso dizer que witcher é um ser humano mutante, com altas habilidades físicas e capaz de controlar um certo nível de magia, que vaga pelo mundo ajudando as pessoas que têm problemas com monstros (ou problemas conjugais, ou problemas financeiros, ou qualquer tipo de problema, na realidade) em troca de umas moedinhas. Perdoem-me se é uma definição simplista, mas pra mim foi o suficiente pra entender a história.
Ambientado numa idade média povoada por monstros e feiticeiros, The Witcher tem uma história um pouco confusa no começo mas que vai se assentando na cabeça do jogador ao longo do tempo, principalmente porque o jogo tem uma espécie de enciclopédia com informações sobre os lugares, monstros, NPCs, e esse compêndio vai sendo alimentado e expandido quando você lê livros, conversa com pessoas ou completa quests. O grosso da história é: Geralt e seus companheiros witchers são atacados por um grupo misterioso conhecido como Salamandra e têm seus livros, ferramentas, poções e segredos roubados. É missão de Geralt investigar quem está por trás disso, e essa investigação o leva até Vizima, cidade onde anos antes ele havia livrado a filha do rei de uma terrível maldição que a transformou em um monstro.
Acho que The Witcher reflete muito os jogos de RPG de computador que foram lançados na época. Várias coisas no jogo, incluindo os gráficos, a música, a mecânica das lutas em si, entre outros, me lembraram muito Dragon Age e World of Warcraft. E é um jogo de 2007, então eu passo pano pra várias coisas que me incomodaram, como informações vagas demais no texto das quests, movimentação do personagem meio truncada, monstros diferentes que na verdade têm quase a mesma modelagem e um nível de machismo bem brega (toda vez que o Geralt transa com uma mulher, aparece uma animação mostrando uma cartinha com uma arte da moça, como se as mulheres fossem cartinhas que o Geralt coleciona).
O jogo é bem naquele estilo de fazer escolhas, então há momentos chave em que você terá que escolher um lado e isso trará consequências na história. Há uma guerra civil prestes a estourar em Vizima entre humanos e não-humanos (elfos e anões, basicamente) e Geralt acaba entrando no meio de tudo isso e espera-se que ele escolha um lado. Pra dizer a verdade, isso é o que menos me atrai no jogo. Acho que eu não curto muito jogos que suas escolhas têm esse nível de impacto, porque fico com aquela sensação de que estou perdendo parte da história ao tomar um caminho ao invés de outro; e eu sou o tipo de pessoa que quer ter a experiência completa, sempre.
O combate em si é bem simples e isso me deixou bastante feliz. Eu estava com medo de ter que aprender toda uma nova mecânica complexa e precisar consultar milhares de guias, mas é tudo bem direto e reto (pelo menos, no modo que eu escolhi jogar: dificuldade média e uso do mouse como controle principal). Algo interessante a se dizer sobre The Witcher é que você consegue fazer poções e elas são feitas usando bebidas alcoólicas! Eu achei inusitado você misturar uma vodka com umas línguas de morto-vivo e disso sair uma poção que te ajuda a dar mais dano nos monstros. O jogo também te limita a tomar poções: há uma barra mostrando o nível de toxicidade do witcher e, se você tomar poções demais, o Geralt começa a ter alucinações e pode até morrer. Um dos jeitos de baixar a toxicidade é… meditar! Aparentemente isso é uma coisa dos livros, mas o Geralt precisa parar e meditar para baixar seu nível de toxicidade, e esse ritual também é necessário para fazer poções e alocar seus pontos de atributo que você ganha a cada nível alcançado. De novo, uma mecânica inusitada para mim, mas que eu me acostumei e, no fim do jogo, eu já até tinha minhas manhas de tomar poções e meditar em seguida para descer o meu nível de toxicidade (Geralt tóxico, não!!!).
The Witcher é um jogo que já tem mais de 15 anos, mas que ainda conseguiu me entreter. Talvez isso tenha acontecido por eu ter afinidade com jogos parecidos com ele e um jogador mais novo ache extremamente ruim e entediante? Talvez. Só sei que eu terminei o jogo com muita expectativa de jogar os próximos.
Se você quer um jogo relaxante e que não vai tirar uns 10 anos da sua força vital, definitivamente não jogue Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Eu achava que o Crash 1 era difícil até começar esse jogo. Não me entenda mal, eu gostei, de verdade, mas alguns aspectos me deixaram tão estressado e frustrado que esse não é um jogo que eu recomendaria para qualquer pessoa que curta o gênero de plataforma.
Uma característica positiva de Crash 4 é que ele é em formato narrativo, as fases vão seguindo uma ordem cronológica (ou o mais próximo disso, já que é um jogo que envolve viagem no tempo) e o jogador vai descobrindo o desenrolar da trama à medida que progride no jogo. Acho que é quase uma mistura de RPG com jogo de plataforma. Isso pra mim é um grande avanço, vindo de outros jogos da franquia que eram apenas um monte de fases embaralhadas e um chefe no final de cada x fases.
Temos tudo o que um bom jogo de Crash deveria ter: lugares caóticos, situações cômicas, os mesmos capangas do Neo Cortex fazendo tudo errado, vilões virando mocinhos e algumas reviravoltas no final. Nesse jogo, temos a possibilidade de trocar entre o Crash ou a Coco em qualquer fase e, o que eu sinceramente mais gostei, os personagens tem skins diferentes que você libera ao conseguir os diamantes das fases. Esse bônus me motivou muito a conseguir todas as caixas, procurar os diamantes escondidos e até a sofrer pra conseguir os diamantes que são liberados ao completar uma fase com 3 mortes ou menos.
Além do Crash e da Coco, algumas fases são protagonizadas pela Tawna, uma bandicoot que servia apenas para ser uma “gostosona” (uma figura bem misógina, diga-se de passagem) no Crash 1 mas que agora foi repaginada, Dingodile, clássico chefão que aparece em quase todos os jogos, e o próprio Neo Cortex. As fases com esses personagens são um pouco diferentes, pois cada um tem um poder específico; a Tawna tem um gancho que a permite destruir caixas longínquas ou escalar edifícios, o Dingodile tem uma espécie de aspirador de ar gigante que suga caixas ou impulsiona o próprio Dingodile, e o Neo Cortex tem sua clássica arminha de laser mixuruca.
Outra mecânica nova nesse jogo são as diferentes máscaras. Ao longo das fases, o jogador libera o uso de máscaras parentes do Aku Aku e que dão poderes diferentes ao Crash ou à Coco. Existem quatro máscaras e elas ajudam a deixar as fases mais dinâmicas e imprevisíveis, obrigando o jogador a pensar em maneiras alternativas de completá-las. E isso parece ser uma tendência forte de Crash 4, pois eu tive a sensação de constantemente ter que raciocinar pra descobrir como passar por algum trecho de uma fase, principalmente as bônus.
Além das fases regulares, há também as fases liberadas pelas fitas de videocassete. Essas fitas estão espalhadas nas fases normais e quando você as coleta, você pode jogar uma fase bônus. E essas fases bônus são realmente muito, muito difíceis. Na história do jogo, as fitas são do Neo Cortex, da época em ele gravava os testes com o Crash e a Coco, antes de eles fugirem em 1996 e 1997. As fases das fitas de videocassete não são impossíveis, mas eu morri muitas vezes antes de conseguir completar todas elas.
Acho que o que me deixou mais frustrado na minha experiência jogando foi que algumas fases são longas demais. Falando sob o ponto de vista de uma pessoa que zerou Crash 3 milhões de vezes, algumas fases do Crash 4 são cinco vezes maiores que as dos jogos anteriores. Algumas fases duram por quase dez minutos se você não morrer em nenhum momento e executar todos os pulos e giros perfeitamente. Pode parecer pouco falando assim, mas quando você joga na verdade é tempo demais. Eu desisti de pegar a relíquia do tempo das últimas duas vezes porque eu não aguentava mais morrer no final e ter que voltar lá do início. Como eu já tinha liberado a cinematic dos 100%, eu só larguei de mão mesmo.
Crash Bandicoot 4: It’s About Time é um jogo com bastante coisa pra fazer. Para ter uma noção, toda a trilogia clássica me rendeu 25 horas, e só o Crash 4 foram quase 100 horas e eu nem fui tentar pegar as relíquias mais difíceis porque eu não me odeio a esse ponto. Mas fica aqui a minha recomendação (ou não) de um jogo que vai te estressar demais e ao mesmo tempo te trazer uma experiência satisfatória. Uma dica: depois que você morrer mais de 50 vezes nas últimas fases porque errou um pulo ou porque não girou no momento certo, por mais que você queira, não atire o seu controle na TV. Dê uma pausa e tente de novo em alguns minutos; geralmente funcionava comigo.
Uma característica positiva de Crash 4 é que ele é em formato narrativo, as fases vão seguindo uma ordem cronológica (ou o mais próximo disso, já que é um jogo que envolve viagem no tempo) e o jogador vai descobrindo o desenrolar da trama à medida que progride no jogo. Acho que é quase uma mistura de RPG com jogo de plataforma. Isso pra mim é um grande avanço, vindo de outros jogos da franquia que eram apenas um monte de fases embaralhadas e um chefe no final de cada x fases.
Temos tudo o que um bom jogo de Crash deveria ter: lugares caóticos, situações cômicas, os mesmos capangas do Neo Cortex fazendo tudo errado, vilões virando mocinhos e algumas reviravoltas no final. Nesse jogo, temos a possibilidade de trocar entre o Crash ou a Coco em qualquer fase e, o que eu sinceramente mais gostei, os personagens tem skins diferentes que você libera ao conseguir os diamantes das fases. Esse bônus me motivou muito a conseguir todas as caixas, procurar os diamantes escondidos e até a sofrer pra conseguir os diamantes que são liberados ao completar uma fase com 3 mortes ou menos.
Além do Crash e da Coco, algumas fases são protagonizadas pela Tawna, uma bandicoot que servia apenas para ser uma “gostosona” (uma figura bem misógina, diga-se de passagem) no Crash 1 mas que agora foi repaginada, Dingodile, clássico chefão que aparece em quase todos os jogos, e o próprio Neo Cortex. As fases com esses personagens são um pouco diferentes, pois cada um tem um poder específico; a Tawna tem um gancho que a permite destruir caixas longínquas ou escalar edifícios, o Dingodile tem uma espécie de aspirador de ar gigante que suga caixas ou impulsiona o próprio Dingodile, e o Neo Cortex tem sua clássica arminha de laser mixuruca.
Outra mecânica nova nesse jogo são as diferentes máscaras. Ao longo das fases, o jogador libera o uso de máscaras parentes do Aku Aku e que dão poderes diferentes ao Crash ou à Coco. Existem quatro máscaras e elas ajudam a deixar as fases mais dinâmicas e imprevisíveis, obrigando o jogador a pensar em maneiras alternativas de completá-las. E isso parece ser uma tendência forte de Crash 4, pois eu tive a sensação de constantemente ter que raciocinar pra descobrir como passar por algum trecho de uma fase, principalmente as bônus.
Além das fases regulares, há também as fases liberadas pelas fitas de videocassete. Essas fitas estão espalhadas nas fases normais e quando você as coleta, você pode jogar uma fase bônus. E essas fases bônus são realmente muito, muito difíceis. Na história do jogo, as fitas são do Neo Cortex, da época em ele gravava os testes com o Crash e a Coco, antes de eles fugirem em 1996 e 1997. As fases das fitas de videocassete não são impossíveis, mas eu morri muitas vezes antes de conseguir completar todas elas.
Acho que o que me deixou mais frustrado na minha experiência jogando foi que algumas fases são longas demais. Falando sob o ponto de vista de uma pessoa que zerou Crash 3 milhões de vezes, algumas fases do Crash 4 são cinco vezes maiores que as dos jogos anteriores. Algumas fases duram por quase dez minutos se você não morrer em nenhum momento e executar todos os pulos e giros perfeitamente. Pode parecer pouco falando assim, mas quando você joga na verdade é tempo demais. Eu desisti de pegar a relíquia do tempo das últimas duas vezes porque eu não aguentava mais morrer no final e ter que voltar lá do início. Como eu já tinha liberado a cinematic dos 100%, eu só larguei de mão mesmo.
Crash Bandicoot 4: It’s About Time é um jogo com bastante coisa pra fazer. Para ter uma noção, toda a trilogia clássica me rendeu 25 horas, e só o Crash 4 foram quase 100 horas e eu nem fui tentar pegar as relíquias mais difíceis porque eu não me odeio a esse ponto. Mas fica aqui a minha recomendação (ou não) de um jogo que vai te estressar demais e ao mesmo tempo te trazer uma experiência satisfatória. Uma dica: depois que você morrer mais de 50 vezes nas últimas fases porque errou um pulo ou porque não girou no momento certo, por mais que você queira, não atire o seu controle na TV. Dê uma pausa e tente de novo em alguns minutos; geralmente funcionava comigo.
2019
This review contains spoilers
Eu comecei a jogar Outer Wilds e não tive uma experiência muito agradável. Primeiro porque o jogo recomenda usar um controle e eu estava jogando no PC. Resolvi pegar o controle do Switch e conectar no computador, e por algum motivo que até agora desconheço, o jogo mostrava os botões trocados: quando aparecia para apertar Y, era pra apertar X, e vice versa; mesma coisa com os botões A e B. Mas resolvi seguir assim. Teve também o fato de que você não consegue inverter a câmera pros lados, apenas pra cima e baixo, e eu detesto jogar com a câmera não-invertida. Dito isso, Outer Wilds foi uma das melhores experiências de videogame que eu já tive na vida.
Primeiro, a trilha sonora é muito gostosinha. Quando eu consegui usar a minha ferramenta pra captar os sons de outros planetas, eu me apaixonei pelos diferentes instrumentos tocando a mesma música. E o modo como isso tudo aparece no final me deixou muito feliz. Além da música, os controles do jogo são bem fluidos (depois que você pega o jeito e não danifica a sua nave toda vez que vai pousar em algum planeta) e é bem gostosinho de jogar.
Na história, você é um viajante espacial preso em um loop de 22 minutos que sempre termina com o sol explodindo. Você sempre acorda no mesmo lugar e todas as coisas acontecem exatamente iguais até o final trágico de todos os planetas de seu sistema solar serem levados pelo sol morrendo. Uma coisa meio Groundhog Day, pra quem já assistiu a esse filme. O seu sistema solar é composto de pelo menos 7 corpos celestes: 5 planetas, 1 planeta que foi destruído por uma semente gigante e 1 cometa. Alguns planetas também tem luas, e existe também uma lua bem misteriosa que desaparece se você para de olhar pra ela.
Outer Wilds é basicamente um jogo de exploração. Isso quer dizer que não há batalha, não há inimigos, nem armas. O seu único inimigo é o tempo. Como você sabe que vai morrer em 22 minutos (ou menos, pois mesmo se você morre asfixiado porque esqueceu de pegar seu traje espacial e desceu da nave em planeta sem oxigênio- isso definitivamente nunca aconteceu comigo -, você acorda no mesmo lugar de sempre), você é livre para explorar todos os planetas do seu sistema solar e cometer algumas loucuras em nome da ciência. Cada planeta, lua, cometa e estação espacial tem suas particularidades: alguns são muito hostis, como Brittle Hollow que é oco por dentro e tem um buraco negro no seu centro e a sua lua é composta de vulcões que bombardeiam o planeta constantemente, já outros são bem agradáveis, como o seu planeta natal, Timber Hearth, cheio de oxigênio e árvores bonitas; e alguns são completamente caóticos, como Giant’s Deep, que é formado unicamente por oceanos e tornados gigantes que literalmente jogam as suas poucas ilhas pro espaço.
A única coisa que muda ao longo dos loops são os registros que ficam na sua nave. A medida que você vai descobrindo informações sobre os planetas, você vai desbloqueando informações que serão úteis para continuar explorando. O meu objetivo principal do jogo é descobrir o que está acontecendo e por que eu me dou conta de todas as vezes que o sistema solar é engolido pelo sol. Pra desvendar esse mistério, eu fui explorando as ruínas dos Nomai, uma raça antiga e inteligente que habitou o meu sistema solar. Não vou contar exatamente o final (apesar de já haver muitos spoilers aqui nessa resenha), mas cada segundo do jogo valeu muito a pena.
Jogar Outer Wilds é saber que você vai ter que se frustrar testando suas teorias. Se eu pular nesse buraco negro, o que acontece? Se eu entrar nessa caverna aqui, será que eu morro? Confesso que em umas 3 ou 4 vezes, eu tive que buscar ajuda da Internet. Mas a maior parte do jogo é possível de ser desvendada sem ajuda de outras pessoas porque os registros da sua nave te guiam perfeitamente e mostram qual deveria ser o próximo passo. E isso te dá uma sensação de ser muito inteligente por ter descoberto sozinho.
Outer Wilds definitivamente vai ficar marcado na minha memória para sempre e é um daqueles jogos que eu gostaria de esquecer pra poder jogar novamente sem saber todas as respostas.
Primeiro, a trilha sonora é muito gostosinha. Quando eu consegui usar a minha ferramenta pra captar os sons de outros planetas, eu me apaixonei pelos diferentes instrumentos tocando a mesma música. E o modo como isso tudo aparece no final me deixou muito feliz. Além da música, os controles do jogo são bem fluidos (depois que você pega o jeito e não danifica a sua nave toda vez que vai pousar em algum planeta) e é bem gostosinho de jogar.
Na história, você é um viajante espacial preso em um loop de 22 minutos que sempre termina com o sol explodindo. Você sempre acorda no mesmo lugar e todas as coisas acontecem exatamente iguais até o final trágico de todos os planetas de seu sistema solar serem levados pelo sol morrendo. Uma coisa meio Groundhog Day, pra quem já assistiu a esse filme. O seu sistema solar é composto de pelo menos 7 corpos celestes: 5 planetas, 1 planeta que foi destruído por uma semente gigante e 1 cometa. Alguns planetas também tem luas, e existe também uma lua bem misteriosa que desaparece se você para de olhar pra ela.
Outer Wilds é basicamente um jogo de exploração. Isso quer dizer que não há batalha, não há inimigos, nem armas. O seu único inimigo é o tempo. Como você sabe que vai morrer em 22 minutos (ou menos, pois mesmo se você morre asfixiado porque esqueceu de pegar seu traje espacial e desceu da nave em planeta sem oxigênio
A única coisa que muda ao longo dos loops são os registros que ficam na sua nave. A medida que você vai descobrindo informações sobre os planetas, você vai desbloqueando informações que serão úteis para continuar explorando. O meu objetivo principal do jogo é descobrir o que está acontecendo e por que eu me dou conta de todas as vezes que o sistema solar é engolido pelo sol. Pra desvendar esse mistério, eu fui explorando as ruínas dos Nomai, uma raça antiga e inteligente que habitou o meu sistema solar. Não vou contar exatamente o final (apesar de já haver muitos spoilers aqui nessa resenha), mas cada segundo do jogo valeu muito a pena.
Jogar Outer Wilds é saber que você vai ter que se frustrar testando suas teorias. Se eu pular nesse buraco negro, o que acontece? Se eu entrar nessa caverna aqui, será que eu morro? Confesso que em umas 3 ou 4 vezes, eu tive que buscar ajuda da Internet. Mas a maior parte do jogo é possível de ser desvendada sem ajuda de outras pessoas porque os registros da sua nave te guiam perfeitamente e mostram qual deveria ser o próximo passo. E isso te dá uma sensação de ser muito inteligente por ter descoberto sozinho.
Outer Wilds definitivamente vai ficar marcado na minha memória para sempre e é um daqueles jogos que eu gostaria de esquecer pra poder jogar novamente sem saber todas as respostas.
This review contains spoilers
Um jogo que marcou a minha infância e me fez querer aprender inglês, Klonoa: Door to Phantomile é definitivamente um dos meus jogos favoritos da vida. Temos aqui um jogo de plataforma, com toques de ação e aquela tristeza que só os JRPGs têm.
Você controla Klonoa, um ser humanoide-gato-roedor-com-orelhas-grandes que grita WAHOO toda vez que pula. Seu melhor amigo, Huepow, é uma bolinha azul-bebê flutuante que vive dentro de um anel, e você usa esse anel como arma para pegar seus inimigos, inflá-los e usá-los para atacar outros inimigos ou para impulsionar seus pulos. No jogo, você investiga o desaparecimento de Lephise, uma espécie de cantora que foi raptada pelo malvado Ghadius, com o intuito de transformar o mundo onde todos vivem em um terrível pesadelo.
Pra ser sincero, eu subestimei muito a dificuldade desse jogo. Talvez porque quando eu tinha 8-9 anos, eu era viciado e jogava isso toda semana, já sabia de todos os truques e lugares mais perigosos, mas quando eu rejoguei agora, aos 29 anos, eu tive uma certa dificuldade pra completar as fases finais. Não é nada nível Crash Bandicoot naquela fase de passar pelas pontes com madeira quebrada (pra sempre traumatizado), mas em alguns momentos você precisa ter uma reação bem rápida pra não morrer.
Eu joguei a versão remasterizada no Switch, e de cara fiquei decepcionado porque não começa com o clipe em CGI bonitão que eu lembrava do PS1. E no jogo original, havia outros dois momentos em que somos presentados pelo CGI, mas de novo, na versão remasterizada, mantiveram o gráfico que é mostrado em todo o resto do jogo. Não é horrível, mas as cenas em CGI eram bem detalhadas e bonitas, principalmente o final.
[se não quiser spoiler, pule o próximo parágrafo]
E olha, eu preciso de um parágrafo inteiro pra falar do final. Eu lembro que quando era criança, pedi ao meu irmão pra traduzir o diálogo entre Klonoa e Huepow depois que eles derrotam o chefão final e salvam o mundo, e que soco no estômago! Huepow revela que trouxe Klonoa de uma outra realidade para ajudar a salvar seu mundo, implantou memórias falsas, e mentiu pra ele em diversos momentos. Klonoa entra em negação, mas nem tem tempo de processar o que lhe foi revelado, porque nesse momento Lephise, agora liberta das garras do Ghadius, começa a cantar e renovar o mundo, e tudo que não faz parte daquela realidade vai ser expurgado. É uma cena bem bonita, porque Klonoa começa a ser puxado por vórtice, e Huepow tenta segurá-lo, mas não há como os dois ficarem juntos. Imagina essa história na cabeça de uma criança: dois amigos que foram forçosamente separados após um deles dizer que o usou da forma mais cretina possível. E não tem absolutamente nada depois, não sabemos o que aconteceu com Klonoa, se ele voltou pro mundo dele, se ele lembra do que aconteceu no mundo de Huepow, nada. Talvez isso seja respondido em Klonoa 2, que eu pretendo jogar esse ano ainda.
Fica aqui a minha singela recomendação: se você gosta de jogos de plataforma e quer ter seus sentimentos completamente destruídos, jogue Klonoa: Door to Phantomile. A trilha sonora, os personagens que não falam em idioma nenhuma (eles falam em uma espécie de simlish, cada personagem fala de um jeito [inclusive eu juro que tem uma parte que o Ghadius fala “apesar disso” e “suficiente” em português]), os gráficos que alternam entre fofinho e tenebroso, tudo isso faz com que o jogo seja extremamente carismático e divertido.
Você controla Klonoa, um ser humanoide-gato-roedor-com-orelhas-grandes que grita WAHOO toda vez que pula. Seu melhor amigo, Huepow, é uma bolinha azul-bebê flutuante que vive dentro de um anel, e você usa esse anel como arma para pegar seus inimigos, inflá-los e usá-los para atacar outros inimigos ou para impulsionar seus pulos. No jogo, você investiga o desaparecimento de Lephise, uma espécie de cantora que foi raptada pelo malvado Ghadius, com o intuito de transformar o mundo onde todos vivem em um terrível pesadelo.
Pra ser sincero, eu subestimei muito a dificuldade desse jogo. Talvez porque quando eu tinha 8-9 anos, eu era viciado e jogava isso toda semana, já sabia de todos os truques e lugares mais perigosos, mas quando eu rejoguei agora, aos 29 anos, eu tive uma certa dificuldade pra completar as fases finais. Não é nada nível Crash Bandicoot naquela fase de passar pelas pontes com madeira quebrada (pra sempre traumatizado), mas em alguns momentos você precisa ter uma reação bem rápida pra não morrer.
Eu joguei a versão remasterizada no Switch, e de cara fiquei decepcionado porque não começa com o clipe em CGI bonitão que eu lembrava do PS1. E no jogo original, havia outros dois momentos em que somos presentados pelo CGI, mas de novo, na versão remasterizada, mantiveram o gráfico que é mostrado em todo o resto do jogo. Não é horrível, mas as cenas em CGI eram bem detalhadas e bonitas, principalmente o final.
[se não quiser spoiler, pule o próximo parágrafo]
E olha, eu preciso de um parágrafo inteiro pra falar do final. Eu lembro que quando era criança, pedi ao meu irmão pra traduzir o diálogo entre Klonoa e Huepow depois que eles derrotam o chefão final e salvam o mundo, e que soco no estômago! Huepow revela que trouxe Klonoa de uma outra realidade para ajudar a salvar seu mundo, implantou memórias falsas, e mentiu pra ele em diversos momentos. Klonoa entra em negação, mas nem tem tempo de processar o que lhe foi revelado, porque nesse momento Lephise, agora liberta das garras do Ghadius, começa a cantar e renovar o mundo, e tudo que não faz parte daquela realidade vai ser expurgado. É uma cena bem bonita, porque Klonoa começa a ser puxado por vórtice, e Huepow tenta segurá-lo, mas não há como os dois ficarem juntos. Imagina essa história na cabeça de uma criança: dois amigos que foram forçosamente separados após um deles dizer que o usou da forma mais cretina possível. E não tem absolutamente nada depois, não sabemos o que aconteceu com Klonoa, se ele voltou pro mundo dele, se ele lembra do que aconteceu no mundo de Huepow, nada. Talvez isso seja respondido em Klonoa 2, que eu pretendo jogar esse ano ainda.
Fica aqui a minha singela recomendação: se você gosta de jogos de plataforma e quer ter seus sentimentos completamente destruídos, jogue Klonoa: Door to Phantomile. A trilha sonora, os personagens que não falam em idioma nenhuma (eles falam em uma espécie de simlish, cada personagem fala de um jeito [inclusive eu juro que tem uma parte que o Ghadius fala “apesar disso” e “suficiente” em português]), os gráficos que alternam entre fofinho e tenebroso, tudo isso faz com que o jogo seja extremamente carismático e divertido.