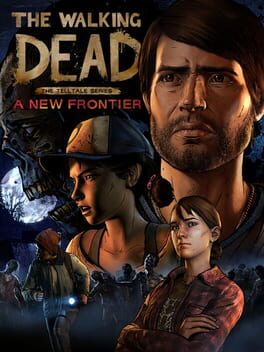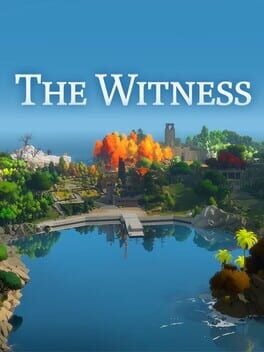Walgyre
178 Reviews liked by Walgyre
Palworld
2024
Abrir o jogo e me deparar com a frase: "alguns tipos de Pals podem ser montados" me fez ter certeza de que eu não tenho maturidade alguma e estou para sempre preso na quinta série.
Brincadeiras a parte, é assustador o sucesso que Palworld alcançou mesmo tendo sido lançado apenas em early access, os números assustam, chegando a mais de duas milhões de cópias vendidas no primeiro dia e mais de um milhão de jogadores simultâneos.
Mas o que causou tudo isso? Qual o motivo desse grande sucesso?
A resposta parte do gigantesco e até mesmo questionável trabalho de marketing feito desde seu trailer de revelação. Naturalmente, uma premissa de "Pokémon com armas" iria atrair a atenção de todo mundo, e tendo em vista tudo que foi prometido e mostrado, o jogo em si se vende dessa forma, o que pode ou não ter sido um problema.
Posso dizer que faço parte do grupo de pessoas que não esperavam uma jogabilidade tão estruturada em sobrevivência e crafting, praticamente aos moldes de ARK por exemplo, que por sinal são gêneros e um jogo que eu não consigo me prender por muito tempo, mas acabei me surpreendendo.
Acontece que Palworld tem algo que nenhum outro jogo no estilo tem, "pokémons", e a progressão de aprender a construir novos itens que interagem diretamente ou indiretamente com os monstros que você captura pelo mundo, que por sinal são muito bem desenhados, é muito divertida.
Jogar em cooperativo torna a experiência ainda melhor, principalmente se jogado com uma pessoa com a mesma mentalidade que você.
- "Ei, Herbert, olha esse Pal gigantesco."
- "A gente precisa de mais fluido de Pal."
- "Meu Deus! Dá pra fazer carinho no Pal!"
Por estar em early access, era de se esperar que haveriam muitos problemas de desempenho e otimização principalmente, mas o conteúdo presente nesse lançamento é muito positivo pro futuro do jogo. Palworld pode chegar ainda mais longe.
Brincadeiras a parte, é assustador o sucesso que Palworld alcançou mesmo tendo sido lançado apenas em early access, os números assustam, chegando a mais de duas milhões de cópias vendidas no primeiro dia e mais de um milhão de jogadores simultâneos.
Mas o que causou tudo isso? Qual o motivo desse grande sucesso?
A resposta parte do gigantesco e até mesmo questionável trabalho de marketing feito desde seu trailer de revelação. Naturalmente, uma premissa de "Pokémon com armas" iria atrair a atenção de todo mundo, e tendo em vista tudo que foi prometido e mostrado, o jogo em si se vende dessa forma, o que pode ou não ter sido um problema.
Posso dizer que faço parte do grupo de pessoas que não esperavam uma jogabilidade tão estruturada em sobrevivência e crafting, praticamente aos moldes de ARK por exemplo, que por sinal são gêneros e um jogo que eu não consigo me prender por muito tempo, mas acabei me surpreendendo.
Acontece que Palworld tem algo que nenhum outro jogo no estilo tem, "pokémons", e a progressão de aprender a construir novos itens que interagem diretamente ou indiretamente com os monstros que você captura pelo mundo, que por sinal são muito bem desenhados, é muito divertida.
Jogar em cooperativo torna a experiência ainda melhor, principalmente se jogado com uma pessoa com a mesma mentalidade que você.
- "Ei, Herbert, olha esse Pal gigantesco."
- "A gente precisa de mais fluido de Pal."
- "Meu Deus! Dá pra fazer carinho no Pal!"
Por estar em early access, era de se esperar que haveriam muitos problemas de desempenho e otimização principalmente, mas o conteúdo presente nesse lançamento é muito positivo pro futuro do jogo. Palworld pode chegar ainda mais longe.
Road 96
2021
Uma junção despretensiosa e extremamente agradável de uma experiência narrativa com o fator repetição do gênero roguelike.
A cada nova viagem pelas estradas de Petria, que é claramente inspirada na América de Trump, vivenciamos novas situações, com personagens diferentes que também se apresentam de maneira procedural de acordo com a maneira que escolhemos seguir em frente, seja pedindo carona, pagando por um ônibus ou simplesmente caminhando.
Tendo em vista suas inspirações, naturalmente a política seria a base da construção da história a ser contada. Nós vivemos em um país que enfrenta divergências extremistas, prestes a dar início a uma nova eleição, e durante nossas viagens podemos seguir diferentes linhas de pensamento, como apoiar um candidato específico ou se mostrar completamente a favor dos protestos e uma possível revolução.
Viajar por Petria é uma gama de sensações. É vivenciar a calmaria de uma caminhada pelo deserto, é relaxar em meio a vista de uma bela cachoeira, é sentir a tensão de momentos em que sua escolha trará consequências.
Road 96 é um jogo especial, e cada uma das jornadas que tive foi extremamente divertida. Levo comigo ótimas lembranças com todos esses personagens, em especial, meus favoritos, STAN AND MIIIIITCH!
A cada nova viagem pelas estradas de Petria, que é claramente inspirada na América de Trump, vivenciamos novas situações, com personagens diferentes que também se apresentam de maneira procedural de acordo com a maneira que escolhemos seguir em frente, seja pedindo carona, pagando por um ônibus ou simplesmente caminhando.
Tendo em vista suas inspirações, naturalmente a política seria a base da construção da história a ser contada. Nós vivemos em um país que enfrenta divergências extremistas, prestes a dar início a uma nova eleição, e durante nossas viagens podemos seguir diferentes linhas de pensamento, como apoiar um candidato específico ou se mostrar completamente a favor dos protestos e uma possível revolução.
Viajar por Petria é uma gama de sensações. É vivenciar a calmaria de uma caminhada pelo deserto, é relaxar em meio a vista de uma bela cachoeira, é sentir a tensão de momentos em que sua escolha trará consequências.
Road 96 é um jogo especial, e cada uma das jornadas que tive foi extremamente divertida. Levo comigo ótimas lembranças com todos esses personagens, em especial, meus favoritos, STAN AND MIIIIITCH!
A obra definitiva de The Walking Dead. Marcado por um turbulento momento que culminou no fechamento da Telltale, mas que mesmo em meio a esses problemas, entrega um fim digno para tudo que foi construído durante essa saga.
Eu poderia falar da evolução visual, que foi considerável, eu poderia falar das implementações e expansões nos sistemas de jogabilidade, que agregam bem ao conjunto, eu poderia falar da trilha sonora absurda, que de longe é a mais memorável da saga, mas no momento, não consigo destacar nada além do que pra mim foi uma das mais densas e bem feitas evoluções de personagem que já presenciei em um jogo.
Acompanhar a jornada de Clementine é também passar e vivenciar transições.
Enquanto Lee, não somos apenas responsáveis pela proteção de Clementine, mas também somos o mais próximo do que poderia ser considerado família naquele contexto, somos responsáveis por guiar e ensinar. Somos responsáveis por tornar um mundo cruel, impiedoso e cinza, um mundo onde uma garotinha poderia ver cor e esperança.
Enquanto Clementine, deixamos de exercer o papel de protegido, para assim exercer o papel de protetor, responsável. AJ é uma virada de chave, assim como Clementine foi para Lee, e isso é estampado de forma genial nas semelhanças entre as capas da primeira e da última temporada.
Novamente, estamos guiando, ensinando, protegendo, mas dessa vez, uma criança que já nasceu inserida nesse mundo caótico, o que torna qualquer tipo de dilema mais complexo e imprevisível, afinal, nossas ações servem de inspiração, e nós somos o seu único laço familiar.
Encerro esta saga de coração quente, necessidade de terapia e com uma saudade tremenda. Digo adeus a uma das minhas personagens favoritas da minha vida, sabendo que ficará pra sempre em minha memória.
"𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴.
𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮.
𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥 𝘳𝘦𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯.
𝘛𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘰𝘯...
𝘛𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘰𝘯..."
Eu poderia falar da evolução visual, que foi considerável, eu poderia falar das implementações e expansões nos sistemas de jogabilidade, que agregam bem ao conjunto, eu poderia falar da trilha sonora absurda, que de longe é a mais memorável da saga, mas no momento, não consigo destacar nada além do que pra mim foi uma das mais densas e bem feitas evoluções de personagem que já presenciei em um jogo.
Acompanhar a jornada de Clementine é também passar e vivenciar transições.
Enquanto Lee, não somos apenas responsáveis pela proteção de Clementine, mas também somos o mais próximo do que poderia ser considerado família naquele contexto, somos responsáveis por guiar e ensinar. Somos responsáveis por tornar um mundo cruel, impiedoso e cinza, um mundo onde uma garotinha poderia ver cor e esperança.
Enquanto Clementine, deixamos de exercer o papel de protegido, para assim exercer o papel de protetor, responsável. AJ é uma virada de chave, assim como Clementine foi para Lee, e isso é estampado de forma genial nas semelhanças entre as capas da primeira e da última temporada.
Novamente, estamos guiando, ensinando, protegendo, mas dessa vez, uma criança que já nasceu inserida nesse mundo caótico, o que torna qualquer tipo de dilema mais complexo e imprevisível, afinal, nossas ações servem de inspiração, e nós somos o seu único laço familiar.
Encerro esta saga de coração quente, necessidade de terapia e com uma saudade tremenda. Digo adeus a uma das minhas personagens favoritas da minha vida, sabendo que ficará pra sempre em minha memória.
"𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘢𝘳𝘬𝘯𝘦𝘴𝘴.
𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘮.
𝘕𝘦𝘷𝘦𝘳 𝘮𝘪𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘣𝘭𝘰𝘰𝘥 𝘳𝘦𝘥 𝘮𝘰𝘰𝘯.
𝘛𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘰𝘯...
𝘛𝘩𝘦 𝘯𝘪𝘨𝘩𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘴𝘰𝘰𝘯..."
É engraçado jogar Arkham Asylum pela primeira vez, sabendo o quão influente ele é. Se por um lado há alguns aspectos que me fazem pensar "isso funciona melhor no jogo x que saiu anos depois", há outros, bem mais frequentes, que me surpreendem pela qualidade e alto nível de detalhes.
Mais precisamente o próprio Asilo Arkham do título. Explorar seus diversos setores que vão mudando conforme o contexto da história, encontrando novas áreas e segredos enquanto novas habilidades vão sendo liberadas é de longe a melhor coisa do jogo pra mim. Esse aspecto "metroidvania" funciona muito bem e é uma pena que seja justamente a parte menos copiada por outros jogos.
O combate "freeflow" já mostra certa idade, mas ainda é competente. Há situações onde a câmera, ao tentar um ângulo mais dramático, mais atrapalha do que ajuda, e isso piora a partir do momento em que o jogo introduz inimigos com armas de fogo. Apesar de não haver tanta variedade no combate, cada diferente ação que o Cavaleiro das Trevas pode executar tem muita importância, principalmente na maior dificuldade, que pode ser bem brutal. As seções de stealth eu achei mais divertidas, um bom número de diferentes possibilidades de abordar cada inimigo e as reações deles, conforme o Homem-Morcego elimina um por um, funcionam muito bem a favor da imersão.
Talvez o que mais denuncia a época do jogo (além do visual "primeiros anos de Unreal Engine 3") seja sua história e personagens. Há um grande esforço para mostrar que os residentes de Arkham são, de fato, insanos. Mas alguns diálogos (especialmente dos audiologs coletáveis) parecem forçar muito uma reação exagerada de "ooohhh mas que psicopata esse sujeito". Mas o ponto mais fraco de Arkham Asylum são suas boss battles, a maioria é bem desinteressante. Há claro personagens bem explorados como o Espantalho e o Crocodilo, que geram cenários memoráveis, mas especialmente o combate final decepciona um tanto.
Por fim, Arkham Asylum é um jogo muito bom e facilmente recomendável, não só para ver a influência de vários jogos que saíram nos anos seguintes a ele, mas também para apreciar uma adaptação tão boa e tão cheia de carinho sobre essa franquia.
Mais precisamente o próprio Asilo Arkham do título. Explorar seus diversos setores que vão mudando conforme o contexto da história, encontrando novas áreas e segredos enquanto novas habilidades vão sendo liberadas é de longe a melhor coisa do jogo pra mim. Esse aspecto "metroidvania" funciona muito bem e é uma pena que seja justamente a parte menos copiada por outros jogos.
O combate "freeflow" já mostra certa idade, mas ainda é competente. Há situações onde a câmera, ao tentar um ângulo mais dramático, mais atrapalha do que ajuda, e isso piora a partir do momento em que o jogo introduz inimigos com armas de fogo. Apesar de não haver tanta variedade no combate, cada diferente ação que o Cavaleiro das Trevas pode executar tem muita importância, principalmente na maior dificuldade, que pode ser bem brutal. As seções de stealth eu achei mais divertidas, um bom número de diferentes possibilidades de abordar cada inimigo e as reações deles, conforme o Homem-Morcego elimina um por um, funcionam muito bem a favor da imersão.
Talvez o que mais denuncia a época do jogo (além do visual "primeiros anos de Unreal Engine 3") seja sua história e personagens. Há um grande esforço para mostrar que os residentes de Arkham são, de fato, insanos. Mas alguns diálogos (especialmente dos audiologs coletáveis) parecem forçar muito uma reação exagerada de "ooohhh mas que psicopata esse sujeito". Mas o ponto mais fraco de Arkham Asylum são suas boss battles, a maioria é bem desinteressante. Há claro personagens bem explorados como o Espantalho e o Crocodilo, que geram cenários memoráveis, mas especialmente o combate final decepciona um tanto.
Por fim, Arkham Asylum é um jogo muito bom e facilmente recomendável, não só para ver a influência de vários jogos que saíram nos anos seguintes a ele, mas também para apreciar uma adaptação tão boa e tão cheia de carinho sobre essa franquia.
Em termos gerais, um tropeço de uma saga que vinha numa caminhada excelente.
O principal problema de A New Frontier se concentra principalmente no amontoado de escolhas equivocadas e ideias que claramente não deram certo. Me pareceu que houveram quedas em quase todos os quesitos em relação aos jogos anteriores.
O mais gritante, ao meu ver, foi a tentativa de alteração gráfica, ênfase na tentativa. Se o objetivo era tornar o jogo mais "atual" à época, ou mais bonito de certa forma, o que foi entregue é um visual ironicamente mais feio, com quedas de resoluções e uma jogabilidade muito menos fluida.
Quanto a introdução e consequentemente o foco maior em uma nova história com novos personagens principais, devo dizer que possui seus bons momentos, mas ainda é algo problemático.
Não acho que o que foi apresentado foi ruim, longe disso, mas depois de tudo que foi vivenciado, depois de toda a proximidade que foi criada com a Clementine nos jogos anteriores, deixar ela de lado em um momento tão crucial de sua história para contar uma nova com pessoas que sequer conhecemos não é tão engajante, e ironicamente, os melhores momentos do jogo envolvem ela diretamente.
The Walking Dead: A New Frontier ainda é um bom jogo, principalmente por toda a carga emocional que ele carrega, mas me passou a impressão de que ele funcionaria melhor como um spin-off do que como uma continuação direta.
O principal problema de A New Frontier se concentra principalmente no amontoado de escolhas equivocadas e ideias que claramente não deram certo. Me pareceu que houveram quedas em quase todos os quesitos em relação aos jogos anteriores.
O mais gritante, ao meu ver, foi a tentativa de alteração gráfica, ênfase na tentativa. Se o objetivo era tornar o jogo mais "atual" à época, ou mais bonito de certa forma, o que foi entregue é um visual ironicamente mais feio, com quedas de resoluções e uma jogabilidade muito menos fluida.
Quanto a introdução e consequentemente o foco maior em uma nova história com novos personagens principais, devo dizer que possui seus bons momentos, mas ainda é algo problemático.
Não acho que o que foi apresentado foi ruim, longe disso, mas depois de tudo que foi vivenciado, depois de toda a proximidade que foi criada com a Clementine nos jogos anteriores, deixar ela de lado em um momento tão crucial de sua história para contar uma nova com pessoas que sequer conhecemos não é tão engajante, e ironicamente, os melhores momentos do jogo envolvem ela diretamente.
The Walking Dead: A New Frontier ainda é um bom jogo, principalmente por toda a carga emocional que ele carrega, mas me passou a impressão de que ele funcionaria melhor como um spin-off do que como uma continuação direta.
Marcando a transição de Clementine como personagem secundário para o principal foco narrativo, a segunda temporada de The Walking Dead falha em entregar uma experiência tão memorável quanto a de seu antecessor, mas representa um passo importante para a saga como um todo.
Agora jogando como Clementine, toda a dinâmica também se altera, principalmente a respeito do papel que desempenhamos.
Enquanto Lee moldava suas ações visando ser um bom líder para seu grupo, Clementine está apenas seguindo em frente, crescendo, aprendendo.
Em muitos dos momentos cruciais, não apenas em escolhas importantes, mas também em como ela demonstra suas reações, nos sentimos imponentes, frustrados. É como se não importasse o quanto de esforço foi colocado, quanta esperança foi depositada em um plano, sempre iria terminar da mesma forma.
The Walking Dead: Season 2 tem como principal objetivo armar e blindar tanto Clementine quanto os jogadores, mas tais armas e escudos não são garantidos como bons ou maus, afinal, esses conceitos não existem, não nesse contexto.
"Everyone I grew up with... it all happened to them. Now, it's gonna happen to us. We're all so fucked. This world is fucked. I mean, what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. And eventually, it'll be our turn."
Agora jogando como Clementine, toda a dinâmica também se altera, principalmente a respeito do papel que desempenhamos.
Enquanto Lee moldava suas ações visando ser um bom líder para seu grupo, Clementine está apenas seguindo em frente, crescendo, aprendendo.
Em muitos dos momentos cruciais, não apenas em escolhas importantes, mas também em como ela demonstra suas reações, nos sentimos imponentes, frustrados. É como se não importasse o quanto de esforço foi colocado, quanta esperança foi depositada em um plano, sempre iria terminar da mesma forma.
The Walking Dead: Season 2 tem como principal objetivo armar e blindar tanto Clementine quanto os jogadores, mas tais armas e escudos não são garantidos como bons ou maus, afinal, esses conceitos não existem, não nesse contexto.
"Everyone I grew up with... it all happened to them. Now, it's gonna happen to us. We're all so fucked. This world is fucked. I mean, what's the point? We'll just march to some new place and somebody else will die. It's never gonna stop. And eventually, it'll be our turn."
Baldur's Gate 3
2023
Baldur's gate 3 tem uma história épica, onde escolhas morais e caminhos alternativos moldam o destino de personagens complexos e apaixonantes. A trama envolve reinos em guerra, intrigas políticas, amizades profundas e traições devastadoras.
Os jogadores se encontram no centro de uma batalha pelo destino do mundo.
Cada detalhe, desde os cenários exuberantes até os personagens meticulosamente projetados, é uma obra de arte.
O mais louco é a maneira como ele faz os jogadores se sentirem. Você sente a alegria, tristeza e sofrimento de cada pessoa que você encontra pelo seu caminho, você sente o peso de cada ação que toma durante a jornada, tanto nas pessoas, quanto no mundo. Uma gama completa de emoções, desde a empolgação até o desespero. É uma experiência que fica gravada na memória muito depois de o jogo ter sido concluído.
Este jogo redefiniu a frase “Jogue do seu jeito” e fez isso com muito estilo. Você pode passar 100 horas em uma campanha apenas para jogá-la novamente como um personagem diferente e encontrar ainda mais histórias, segredos, itens e conhecimentos reunidos nas mesmas áreas.
Histórias de NPCs com mais profundidade do que a história da sua própria vida.
Baldur's Gate 3 é uma das experiência mais lindas que tive o privilégio de jogar. É uma obra-prima que não só redefine o que os jogos podem ser, mas também deixa uma marca profunda no coração e na mente de quem tem esse privilégio de jogá-lo. Este jogo é, sem dúvida, uma conquista notável na indústria dos videogames.
"Você conquistou seu lugar entre as lendas. Vocês salvaram BALDUR'S GATE."
SE O ASTARION TEM UM MILHÃO DE FÃS, EU SOU UM DELES
SE O ASTARION TEM 1 FÃ, EU SOU ESSE FÃ
SE O ASTARION NÃO TEM FÃS, EU MORRI.
SE O MUNDO É CONTRA O ASTARION, EU SOU CONTRA O MUNDO TODO.
Os jogadores se encontram no centro de uma batalha pelo destino do mundo.
Cada detalhe, desde os cenários exuberantes até os personagens meticulosamente projetados, é uma obra de arte.
O mais louco é a maneira como ele faz os jogadores se sentirem. Você sente a alegria, tristeza e sofrimento de cada pessoa que você encontra pelo seu caminho, você sente o peso de cada ação que toma durante a jornada, tanto nas pessoas, quanto no mundo. Uma gama completa de emoções, desde a empolgação até o desespero. É uma experiência que fica gravada na memória muito depois de o jogo ter sido concluído.
Este jogo redefiniu a frase “Jogue do seu jeito” e fez isso com muito estilo. Você pode passar 100 horas em uma campanha apenas para jogá-la novamente como um personagem diferente e encontrar ainda mais histórias, segredos, itens e conhecimentos reunidos nas mesmas áreas.
Histórias de NPCs com mais profundidade do que a história da sua própria vida.
Baldur's Gate 3 é uma das experiência mais lindas que tive o privilégio de jogar. É uma obra-prima que não só redefine o que os jogos podem ser, mas também deixa uma marca profunda no coração e na mente de quem tem esse privilégio de jogá-lo. Este jogo é, sem dúvida, uma conquista notável na indústria dos videogames.
"Você conquistou seu lugar entre as lendas. Vocês salvaram BALDUR'S GATE."
SE O ASTARION TEM UM MILHÃO DE FÃS, EU SOU UM DELES
SE O ASTARION TEM 1 FÃ, EU SOU ESSE FÃ
SE O ASTARION NÃO TEM FÃS, EU MORRI.
SE O MUNDO É CONTRA O ASTARION, EU SOU CONTRA O MUNDO TODO.
Baldur's Gate 3
2023
Existem jogos que furam a bolha, existem jogos que ultrapassam todos os limites nos quais estariam inseridos, existem jogos que definem seu gênero com maestria, e não há melhor maneira de definir o que é um Role Playing Game se não com Baldur's Gate 3 como exemplo.
É espantoso o quão primoroso é Baldur's Gate 3 em tudo que se propõe a fazer, desde as camadas mais simples de jogabilidade à construção de seu universo e evolução de todos os seus personagens, que são estupidamente bem trabalhados e complexos.
Em pouquíssimo tempo, você se encontrará completamente imerso. E o mais interessante é que é possível resumir uma experiência tão rica em uma única palavra: Liberdade.
A liberdade de ir e vir aonde bem entender, escrevendo e moldando a sua própria história, do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo. São inúmeras possibilidades.
A liberdade como objetivo nas histórias individuais de cada um dos companheiros, que possuem mutuamente amarras em suas histórias que os tornam reféns de seus problemas do passado.
A liberdade de alterar completamente o estilo visual e de combate a qualquer momento, com muitas e muitas combinações diferentes e divertidas. No meu caso, comecei o jogo como feiticeiro, mas na metade em diante resolvi me tornar um guerreiro, e acabei como um cavaleiro das trevas que usa magias de necromancia.
Todo esse conjunto culmina no que pra mim se tornou um dos jogos da minha vida. Baldur's Gate 3 é sublime, recomendável até mesmo para quem não suporta jogos por turno. Baldur's Gate 3 é um dos melhores RPG's da história, se não o melhor.
É espantoso o quão primoroso é Baldur's Gate 3 em tudo que se propõe a fazer, desde as camadas mais simples de jogabilidade à construção de seu universo e evolução de todos os seus personagens, que são estupidamente bem trabalhados e complexos.
Em pouquíssimo tempo, você se encontrará completamente imerso. E o mais interessante é que é possível resumir uma experiência tão rica em uma única palavra: Liberdade.
A liberdade de ir e vir aonde bem entender, escrevendo e moldando a sua própria história, do seu próprio jeito, no seu próprio ritmo. São inúmeras possibilidades.
A liberdade como objetivo nas histórias individuais de cada um dos companheiros, que possuem mutuamente amarras em suas histórias que os tornam reféns de seus problemas do passado.
A liberdade de alterar completamente o estilo visual e de combate a qualquer momento, com muitas e muitas combinações diferentes e divertidas. No meu caso, comecei o jogo como feiticeiro, mas na metade em diante resolvi me tornar um guerreiro, e acabei como um cavaleiro das trevas que usa magias de necromancia.
Todo esse conjunto culmina no que pra mim se tornou um dos jogos da minha vida. Baldur's Gate 3 é sublime, recomendável até mesmo para quem não suporta jogos por turno. Baldur's Gate 3 é um dos melhores RPG's da história, se não o melhor.
The Walking Dead
2012
O grande responsável por consolidar e firmar os "jogos narrativos" como uma forte e sólida tendência do mercado de jogos eletrônicos. É impossível não colocar The Walking Dead no panteão dos jogos que mudaram e/ou deixaram uma marca gigantesca na indústria.
Muito se discute acerca dos defeitos como um todo, principalmente na época de lançamento, sejam de desempenho ou pela "frustração" de todos os caminhos levarem a um único final, mas comparado aos pontos que tornam ele especial, os defeitos são quase nulos.
The Walking Dead trabalha muito bem com a ideia central do contexto de um apocalipse zumbi, e tem os ingredientes necessários pra uma excelente história. O constante questionamento de que talvez os infectados não sejam a principal ameaça, as dezenas e dezenas de difíceis questões morais repletas de escolhas complicadas, personagens impecáveis que fazem de tudo para sobreviver e proteger a quem amam, e o que podemos chamar de conforto, a relação de Lee e Clementine.
O universo de The Walking Dead é cruel, impiedoso. Muitos dos momentos nos fazem pensar que a esperança é inútil, não vale a pena concentrar os esforços em uma utopia onde a felicidade possa voltar a existir, mas a forma com a qual esses dois tornam tudo mais leve é inexplicável. A cada diálogo, a cada momento, é como se fosse possível acreditar que no final das contas amanhã é um novo dia, e as coisas irão melhorar.
É o começo de uma saga que deixa marcas, cicatrizes e memórias inesquecíveis. Não sei o que me aguarda daqui pra frente, mas tenho certeza de que será algo fantástico.
Muito se discute acerca dos defeitos como um todo, principalmente na época de lançamento, sejam de desempenho ou pela "frustração" de todos os caminhos levarem a um único final, mas comparado aos pontos que tornam ele especial, os defeitos são quase nulos.
The Walking Dead trabalha muito bem com a ideia central do contexto de um apocalipse zumbi, e tem os ingredientes necessários pra uma excelente história. O constante questionamento de que talvez os infectados não sejam a principal ameaça, as dezenas e dezenas de difíceis questões morais repletas de escolhas complicadas, personagens impecáveis que fazem de tudo para sobreviver e proteger a quem amam, e o que podemos chamar de conforto, a relação de Lee e Clementine.
O universo de The Walking Dead é cruel, impiedoso. Muitos dos momentos nos fazem pensar que a esperança é inútil, não vale a pena concentrar os esforços em uma utopia onde a felicidade possa voltar a existir, mas a forma com a qual esses dois tornam tudo mais leve é inexplicável. A cada diálogo, a cada momento, é como se fosse possível acreditar que no final das contas amanhã é um novo dia, e as coisas irão melhorar.
É o começo de uma saga que deixa marcas, cicatrizes e memórias inesquecíveis. Não sei o que me aguarda daqui pra frente, mas tenho certeza de que será algo fantástico.
Ghostwire: Tokyo
2022
Ghostwire: Tokyo was one of two PS5 demos I remember seeing early-on that actually looked next gen: the dark rainfall, heavy polygons, and full-fledged modeling making prior tech seem average by comparison. Alas, like most titles, the actual product doesn’t quite live up to those lofty trailer heights, its final assemblage ultimately being a box of good and bad components.
Since I already mentioned them, let’s dive into the graphics. As stated before, Ghostwire relies on a realistic schema, albeit one tinged with blatant anime influences. What this means is particular effort went towards the proportioning and detailing of the many effigies in the game (from the enemies and dedicated NPCs to of course your protagonist), however, they’ve been layered with a fantasy stylization reminiscent of Shounen cartoons. You’ve got hand seals from Naruto, dashing from Birdy the Mighty, charge-ups from DBZ, floating from Bleach, and even the finger ray from Yu Yu Hakusho. Poses, movements, actions; all boast a similar exaggerated flair that’ll no doubt be familiar to fans of the aforementioned genre -- when Akito screams, it can’t help but bring to mind scenes out of Berserker or Evangelion; when he rides a bike down Tokyo Avenue, Akira is instantly evoked.
And yet, this is decidedly against the looming verism about you: buildings and apartment complexes are photographs straight out of a tourist guidebook; humans actually look Japanese; the metal on cars and railings echo ferric sheen; heck, even the Kanji-shaped rain about you splashes and drops like the real deal. It’s an interesting contrast, and one that very much works in the game’s favor, its contents often playing like a CG version of a Katsuhiro Otomo work.
I’m still not done with the praising- a gorgeous chromatic aberration effect has been programmed into each of your abilities, turning their transitions, surges, and discharges into chipped specs of prismatic wonder; puddles and water surfaces galore reflect the shifting firmament above you; and Akito’s hand may be the first video game appendage I’ve ever seen to hold hair, veins, AND flexion creases in one go.
Tl;dr - Ghostwire is a stunning achievement (in some ways too stunning, though more on that later). Really, my only true criticisms come from the performance side for fellow PC gamers out there: this was not the best port. I’ve read stories about the game crashing on computers, and while I was thankfully free of such freeze-ups, I did have to cap the framerate at 30 to prevent noticeable lag. Given that I don’t expect these issues to be officially resolved anytime soon, you’re better off playing Ghostwire on the PS5 (lest you find time to fidget around with the settings).
On a petty note, I would’ve liked to have seen some greater illumination effects, particularly from Akito’s strikes, as they were pretty sparse in the main game. The lack of collision impacts from spells was also disappointing despite technically making sense in the scheme of things -- see, for most of your playthrough, Akito is granted access to the spirit KK’s powers, these gifts manifesting themselves as three blasts: a weaker green one, a stronger water one, and an all-purpose (yet sparsely loaded) fire one. With combat manifesting, more-or-less, as a glorified first-person shooter, you’ll need to utilize all three of them in your hours of skirmishing.
It seems fine at first, but the problem is the whole system ends up getting repetitive due to the lack of variety; there’s minimal difference between the abilities, leaving their utilities no more varied than swapping between your two main guns in a Call of Duty game. Yes, fully upgraded, you gain access to some changes like freeze fields and flamethrowers, but these drain your ammo significantly and, more importantly, don’t fundamentally change up the scope of the combat- you’re still blasting away at the exact same foes in the exact same manner. There are occasions where Akito is separated from KK, “forcing” you to rely on Akito’s bow and stealth takedowns (the same insta-takedown system seen in other games); however, these are either meticulously scripted to the point of easiness or short-lived courtesy of it being simple to remerge with the specter.
And it’s a shame because so much effort blatantly went into the crafting of the numerous archetypes you’ll run across, from prancing headless schoolgirls to flying banshees, yet you’ll rarely ever have to deviate from your standard tactic of simply spamming them until their core crack opens to be wrenched out. Even the bosses, which feature some of the best creative designs I have ever had the privilege to witness in gaming, come down to simple trials that do a massive disservice to their virtuosity. And that really speaks to what I was saying earlier about Ghostwire being heavy on visuals to a fault; it’s a game that dedicated so much time and money towards the art assets, that it failed to give players any reason to consistently engage with said assets.
Nothing exhibits this better than the playpen you’re set off in, a free roam Shibuya that stands as one of the worst open worlds of this generation. Yes, it’s gorgeous, the neon signs, Chinese lanterns, and innumerable decorations giving it an enriched feel; however, it’s utterly pointless, existing purely to capitalize on the open world hype that has flooded the industry post-Skyrim. Why do I say this? Well, I’m so glad you asked. For starters, the streets are lifeless, devoid of any persona courtesy of the opening Rapture event, and while other titles like the Arkham games have indulged in similar premises, they at least made-up for it with engaging enemies: thugs who would banter and taunt like three-dimensional human beings. The most you get out of Ghostwire’s phantoms, au contraire, are hapless growls mixed-in with the occasional jump scare.
Next is the anti-wanderlust attitude implemented for most of your journey in the form of a toxic fog. The only way to clear it is to engage in the tried-and-true Ubisoft tactic of “syncing” viewpoints (depicted here as cleansing Shinto gates), an aspect that would’ve been fine were it not for the fact that the game all but goads you into freeing them in a specific sequence, no doubt to artificially elongate the story’s runtime (more on that later). If that weren’t enough, Akito’s primary option for city traversal is simply dashing about as though we were back in the Morrowind Days. To the game’s credit, Ghostwire features a rooftop traversal system that’s actually quite fun to use, but the problem is it’s often a pain in the @ss to even get to those heights and initiate the flying. Hovering tengu offer Hookshot-level access points from the streets; however, they’re placed so inconsistently you’re better off finding nearby stairwells to ascend to the top, which as you can guess, is just as tedious and dull as the real-life exercise.
Finally, much like LA Noire, there’s simply nothing interesting to do here. Collectables are a dime-a-dozen, collecting spirits as numb as pressing a button, and side missions hampered by a severe lack of cinematic structure (more on that later). To add more sludge to the dredge, each of these activities almost always comes with a helping of combat, meaning you’re constantly thrown into the world of repetitive fighting again and again with little break. Ghostwire is a game that truly would’ve been better off adopting the Witcher 1 or Alpha Protocol format of free roam levels; stages where the artisans could’ve handcrafted some unique experiences versus fitting everything into this fruitless sandbox.
The fact that I haven’t touched on the narrative once should give you an idea as to how little it elevates the gameplay. It begins on an interesting note with the aforementioned mass disappearance of Tokyo’s denizens, yet quickly falls from that perch when you realize the writers had no idea how to stretch things into a solid 8 hours. I’m not lying to you guys when I say a good third of the game’s length comes down to Akito darting around blessing specified Shinto gates, and it’s not like the other two thirds are that memorable either. Missions often involve the the duo either doing reconnaissance or investigating some lead only to screw things up in the inevitable confrontation. It’s not that it gets monotonous ACI-style, but more-so that it’s nowhere near as invigorating as a ghost tale should have been. Heck, a lot of the game’s deeper storybeats (Akito’s feelings of regrets towards his comatose sister Mari, the main villain’s tragic motivation, KK’s mysterious backstory) are turned into exposition dumps ala cutscene or in-game speechwads, as though the writers couldn’t figure out how to naturally incorporate them into the main campaign. Due to this lack of build-up, it should perhaps come as no surprise that the ending feels very unfulfilling to the point where I was actually hoping for a sequelbait post-credits scenes.
Not everything is morose; in fact, one of the greatest accomplishments Tango achieves is their development of Akito and KK’s friendship. Two people of different generations (and corporealities) are forced to work together, and it’s honestly a delight to see their relationship go from reluctant (if slightly hostile) acquaintances to partners who trust each other wholly, and a large part of that success derives from the fantastic chemistry between Kensuke Nishi and Kazuhiko Inoue. I played Ghostwire in the default Japanese, and these two actors do a phenomenal job bouncing off each other in a way that never veers into naggy girlfriend territory: a seed of mutual respect underlies each of their convos even as they trade jabs seriously and unseriously. I criticized the sidequests earlier, but I’d be lying if I said I didn’t engage them primarily to hear more banter between the leading men; THAT’S how great their interplay is. I have to give a particular shoutout to Inoue as he does a masterclass in wading between sarcastic wit and serious melodrama (the Eastern equivalent of Dave Wittenberg’s Kakashi). Nishi is great, but there were times where he veered a little too heavily into screaming shounen boy.
Regarding the rest of the bunch, you’ll encounter KK’s former team members every now and then, and they also have some solid castmates behind them: underutilized, but otherwise well-met. The remaining major players, namely Akito’s sister and head honcho Hannya, unfortunately, stand as the weakest links, the former being overly-cloying, the latter giving that deep boring accent heard a dime-a-dozen for anime villain subs aplenty. Besides them, sidequest NPCs suffer from the TES problem of being a select few rehashed (though I suppose they did serve their purpose), whilst cats sound awful to the point where I’d recommend plugging your fingers in your ears as a favor to the organs.
Of course, Ghostwire had an English dub, and while I only listened to it briefly, I don’t think I’m out-of-step in saying that the Japanese version is superior, largely due to the stronger chemistry between Akito and KK’s VAs. Those concerned about following subtitles need not worry as Ghostwire, unlike Metro, actually does a great job focusing dialogue on non-actiony parts: I would say the end fight was the only place where it got difficult concurrently scanning and duking it out. That said, for those who want to stick with the English acting, know that it does do a better job with the two aforestated average Japanese voices, Mari and Hannya (unfortunately, they chose not to redub the cats…).
SFX, on the other hand, is respectable, standing as a successful sonoric assemblage of AAA engineering. Though the artisans admittedly had their work cut easier with the lack of city life, the smooth aural transition from ability-to-ability, no matter how quick, more than exhibits their proficiency. I just wish they had programmed more gnarls and wails for the enemies as these entities not only came across as indistinguishable from the other, but were genuinely unmemorable in retrospect.
The score by Masatoshi Yanagi sadly stumbles into similar territory. It’s evident he wanted to lean into leaden spiritualism, but in doing so completely forgot to write memorable tunes. The majority of his tracks are atmospheric to a fault, too eidolic to be backgroundy yet prosaic enough to be indelible. His OST does change-up with the boss compositions, all of which incorporate some bass synth; however, they’re miniscule in the grand scheme of things, with Same Path being the sole piece I actively/passively enjoyed.
Overall, Ghostwire: Tokyo is a fine game. That it was robbed of an artistic achievement nomination at both the BAFTAs and Game Awards is a crime, a sentiment you will very much agree with should you explore the metropolitan bastion Tango has crafted before you. For many players, prancing around a real-life Tokyo with a razor-tongued Yūrei will be reason enough to jump on board; for all others, evaluate the entire enterprise and decide accordingly.
NOTES
-The streets of Tokyo are eerily clean. At first I thought this was just the developers being lazy with the trash placement, but no, having recently gone to the city, it is THAT litter-free (and a sign of just how behind the rest of the world the US is in some areas). That said, the fact that the developers didn’t insert a SINGLE undergarment into the myriad of clothes piles you happen upon strikes me as bizarre self-censorship.
-Strangely, Akito expresses surprise at phone booths existing in Tokyo, despite me seeing plenty of them during my trip there (like, the EXACT same green version as the one in the game).
-The sheer amount of small talk crafted between Akito and KK is astounding- you’ll be hearing new lines even towards the endgame.
-Loved the laser lines that go through the duo’s hands.
-You can tell the team at Tango fell in love with their country’s culture. From a database full of Shinto/Buddhist lore to sidequests centered around specific figures, you could learn so much from playing this game.
-For the record, not every side mission is blandly crafted -- an escapade set in a schoolhouse, in particular, stands as one of the best secondary outputs in video game history. I just wish they could’ve dedicated a similar effort to at least half of them. There are a number where you think you’re going to be facing some unique critter, only to encounter a slightly-reskinned version of someone/something you already fought.
-There’re light RPG elements in the form of a skill system, but it’s very basic -- you’ll get the hang of it without me needing to type up a paragraph explaining things.
-There are no stealth upgrades as far as I remember.
-Like other Sony IPs, there’s a heightened sense here called Spectral Vision, and it’s pretty cool, taking the hand drop from Dead Space and combining it with a filter reminiscent of Detective Mode.
Since I already mentioned them, let’s dive into the graphics. As stated before, Ghostwire relies on a realistic schema, albeit one tinged with blatant anime influences. What this means is particular effort went towards the proportioning and detailing of the many effigies in the game (from the enemies and dedicated NPCs to of course your protagonist), however, they’ve been layered with a fantasy stylization reminiscent of Shounen cartoons. You’ve got hand seals from Naruto, dashing from Birdy the Mighty, charge-ups from DBZ, floating from Bleach, and even the finger ray from Yu Yu Hakusho. Poses, movements, actions; all boast a similar exaggerated flair that’ll no doubt be familiar to fans of the aforementioned genre -- when Akito screams, it can’t help but bring to mind scenes out of Berserker or Evangelion; when he rides a bike down Tokyo Avenue, Akira is instantly evoked.
And yet, this is decidedly against the looming verism about you: buildings and apartment complexes are photographs straight out of a tourist guidebook; humans actually look Japanese; the metal on cars and railings echo ferric sheen; heck, even the Kanji-shaped rain about you splashes and drops like the real deal. It’s an interesting contrast, and one that very much works in the game’s favor, its contents often playing like a CG version of a Katsuhiro Otomo work.
I’m still not done with the praising- a gorgeous chromatic aberration effect has been programmed into each of your abilities, turning their transitions, surges, and discharges into chipped specs of prismatic wonder; puddles and water surfaces galore reflect the shifting firmament above you; and Akito’s hand may be the first video game appendage I’ve ever seen to hold hair, veins, AND flexion creases in one go.
Tl;dr - Ghostwire is a stunning achievement (in some ways too stunning, though more on that later). Really, my only true criticisms come from the performance side for fellow PC gamers out there: this was not the best port. I’ve read stories about the game crashing on computers, and while I was thankfully free of such freeze-ups, I did have to cap the framerate at 30 to prevent noticeable lag. Given that I don’t expect these issues to be officially resolved anytime soon, you’re better off playing Ghostwire on the PS5 (lest you find time to fidget around with the settings).
On a petty note, I would’ve liked to have seen some greater illumination effects, particularly from Akito’s strikes, as they were pretty sparse in the main game. The lack of collision impacts from spells was also disappointing despite technically making sense in the scheme of things -- see, for most of your playthrough, Akito is granted access to the spirit KK’s powers, these gifts manifesting themselves as three blasts: a weaker green one, a stronger water one, and an all-purpose (yet sparsely loaded) fire one. With combat manifesting, more-or-less, as a glorified first-person shooter, you’ll need to utilize all three of them in your hours of skirmishing.
It seems fine at first, but the problem is the whole system ends up getting repetitive due to the lack of variety; there’s minimal difference between the abilities, leaving their utilities no more varied than swapping between your two main guns in a Call of Duty game. Yes, fully upgraded, you gain access to some changes like freeze fields and flamethrowers, but these drain your ammo significantly and, more importantly, don’t fundamentally change up the scope of the combat- you’re still blasting away at the exact same foes in the exact same manner. There are occasions where Akito is separated from KK, “forcing” you to rely on Akito’s bow and stealth takedowns (the same insta-takedown system seen in other games); however, these are either meticulously scripted to the point of easiness or short-lived courtesy of it being simple to remerge with the specter.
And it’s a shame because so much effort blatantly went into the crafting of the numerous archetypes you’ll run across, from prancing headless schoolgirls to flying banshees, yet you’ll rarely ever have to deviate from your standard tactic of simply spamming them until their core crack opens to be wrenched out. Even the bosses, which feature some of the best creative designs I have ever had the privilege to witness in gaming, come down to simple trials that do a massive disservice to their virtuosity. And that really speaks to what I was saying earlier about Ghostwire being heavy on visuals to a fault; it’s a game that dedicated so much time and money towards the art assets, that it failed to give players any reason to consistently engage with said assets.
Nothing exhibits this better than the playpen you’re set off in, a free roam Shibuya that stands as one of the worst open worlds of this generation. Yes, it’s gorgeous, the neon signs, Chinese lanterns, and innumerable decorations giving it an enriched feel; however, it’s utterly pointless, existing purely to capitalize on the open world hype that has flooded the industry post-Skyrim. Why do I say this? Well, I’m so glad you asked. For starters, the streets are lifeless, devoid of any persona courtesy of the opening Rapture event, and while other titles like the Arkham games have indulged in similar premises, they at least made-up for it with engaging enemies: thugs who would banter and taunt like three-dimensional human beings. The most you get out of Ghostwire’s phantoms, au contraire, are hapless growls mixed-in with the occasional jump scare.
Next is the anti-wanderlust attitude implemented for most of your journey in the form of a toxic fog. The only way to clear it is to engage in the tried-and-true Ubisoft tactic of “syncing” viewpoints (depicted here as cleansing Shinto gates), an aspect that would’ve been fine were it not for the fact that the game all but goads you into freeing them in a specific sequence, no doubt to artificially elongate the story’s runtime (more on that later). If that weren’t enough, Akito’s primary option for city traversal is simply dashing about as though we were back in the Morrowind Days. To the game’s credit, Ghostwire features a rooftop traversal system that’s actually quite fun to use, but the problem is it’s often a pain in the @ss to even get to those heights and initiate the flying. Hovering tengu offer Hookshot-level access points from the streets; however, they’re placed so inconsistently you’re better off finding nearby stairwells to ascend to the top, which as you can guess, is just as tedious and dull as the real-life exercise.
Finally, much like LA Noire, there’s simply nothing interesting to do here. Collectables are a dime-a-dozen, collecting spirits as numb as pressing a button, and side missions hampered by a severe lack of cinematic structure (more on that later). To add more sludge to the dredge, each of these activities almost always comes with a helping of combat, meaning you’re constantly thrown into the world of repetitive fighting again and again with little break. Ghostwire is a game that truly would’ve been better off adopting the Witcher 1 or Alpha Protocol format of free roam levels; stages where the artisans could’ve handcrafted some unique experiences versus fitting everything into this fruitless sandbox.
The fact that I haven’t touched on the narrative once should give you an idea as to how little it elevates the gameplay. It begins on an interesting note with the aforementioned mass disappearance of Tokyo’s denizens, yet quickly falls from that perch when you realize the writers had no idea how to stretch things into a solid 8 hours. I’m not lying to you guys when I say a good third of the game’s length comes down to Akito darting around blessing specified Shinto gates, and it’s not like the other two thirds are that memorable either. Missions often involve the the duo either doing reconnaissance or investigating some lead only to screw things up in the inevitable confrontation. It’s not that it gets monotonous ACI-style, but more-so that it’s nowhere near as invigorating as a ghost tale should have been. Heck, a lot of the game’s deeper storybeats (Akito’s feelings of regrets towards his comatose sister Mari, the main villain’s tragic motivation, KK’s mysterious backstory) are turned into exposition dumps ala cutscene or in-game speechwads, as though the writers couldn’t figure out how to naturally incorporate them into the main campaign. Due to this lack of build-up, it should perhaps come as no surprise that the ending feels very unfulfilling to the point where I was actually hoping for a sequelbait post-credits scenes.
Not everything is morose; in fact, one of the greatest accomplishments Tango achieves is their development of Akito and KK’s friendship. Two people of different generations (and corporealities) are forced to work together, and it’s honestly a delight to see their relationship go from reluctant (if slightly hostile) acquaintances to partners who trust each other wholly, and a large part of that success derives from the fantastic chemistry between Kensuke Nishi and Kazuhiko Inoue. I played Ghostwire in the default Japanese, and these two actors do a phenomenal job bouncing off each other in a way that never veers into naggy girlfriend territory: a seed of mutual respect underlies each of their convos even as they trade jabs seriously and unseriously. I criticized the sidequests earlier, but I’d be lying if I said I didn’t engage them primarily to hear more banter between the leading men; THAT’S how great their interplay is. I have to give a particular shoutout to Inoue as he does a masterclass in wading between sarcastic wit and serious melodrama (the Eastern equivalent of Dave Wittenberg’s Kakashi). Nishi is great, but there were times where he veered a little too heavily into screaming shounen boy.
Regarding the rest of the bunch, you’ll encounter KK’s former team members every now and then, and they also have some solid castmates behind them: underutilized, but otherwise well-met. The remaining major players, namely Akito’s sister and head honcho Hannya, unfortunately, stand as the weakest links, the former being overly-cloying, the latter giving that deep boring accent heard a dime-a-dozen for anime villain subs aplenty. Besides them, sidequest NPCs suffer from the TES problem of being a select few rehashed (though I suppose they did serve their purpose), whilst cats sound awful to the point where I’d recommend plugging your fingers in your ears as a favor to the organs.
Of course, Ghostwire had an English dub, and while I only listened to it briefly, I don’t think I’m out-of-step in saying that the Japanese version is superior, largely due to the stronger chemistry between Akito and KK’s VAs. Those concerned about following subtitles need not worry as Ghostwire, unlike Metro, actually does a great job focusing dialogue on non-actiony parts: I would say the end fight was the only place where it got difficult concurrently scanning and duking it out. That said, for those who want to stick with the English acting, know that it does do a better job with the two aforestated average Japanese voices, Mari and Hannya (unfortunately, they chose not to redub the cats…).
SFX, on the other hand, is respectable, standing as a successful sonoric assemblage of AAA engineering. Though the artisans admittedly had their work cut easier with the lack of city life, the smooth aural transition from ability-to-ability, no matter how quick, more than exhibits their proficiency. I just wish they had programmed more gnarls and wails for the enemies as these entities not only came across as indistinguishable from the other, but were genuinely unmemorable in retrospect.
The score by Masatoshi Yanagi sadly stumbles into similar territory. It’s evident he wanted to lean into leaden spiritualism, but in doing so completely forgot to write memorable tunes. The majority of his tracks are atmospheric to a fault, too eidolic to be backgroundy yet prosaic enough to be indelible. His OST does change-up with the boss compositions, all of which incorporate some bass synth; however, they’re miniscule in the grand scheme of things, with Same Path being the sole piece I actively/passively enjoyed.
Overall, Ghostwire: Tokyo is a fine game. That it was robbed of an artistic achievement nomination at both the BAFTAs and Game Awards is a crime, a sentiment you will very much agree with should you explore the metropolitan bastion Tango has crafted before you. For many players, prancing around a real-life Tokyo with a razor-tongued Yūrei will be reason enough to jump on board; for all others, evaluate the entire enterprise and decide accordingly.
NOTES
-The streets of Tokyo are eerily clean. At first I thought this was just the developers being lazy with the trash placement, but no, having recently gone to the city, it is THAT litter-free (and a sign of just how behind the rest of the world the US is in some areas). That said, the fact that the developers didn’t insert a SINGLE undergarment into the myriad of clothes piles you happen upon strikes me as bizarre self-censorship.
-Strangely, Akito expresses surprise at phone booths existing in Tokyo, despite me seeing plenty of them during my trip there (like, the EXACT same green version as the one in the game).
-The sheer amount of small talk crafted between Akito and KK is astounding- you’ll be hearing new lines even towards the endgame.
-Loved the laser lines that go through the duo’s hands.
-You can tell the team at Tango fell in love with their country’s culture. From a database full of Shinto/Buddhist lore to sidequests centered around specific figures, you could learn so much from playing this game.
-For the record, not every side mission is blandly crafted -- an escapade set in a schoolhouse, in particular, stands as one of the best secondary outputs in video game history. I just wish they could’ve dedicated a similar effort to at least half of them. There are a number where you think you’re going to be facing some unique critter, only to encounter a slightly-reskinned version of someone/something you already fought.
-There’re light RPG elements in the form of a skill system, but it’s very basic -- you’ll get the hang of it without me needing to type up a paragraph explaining things.
-There are no stealth upgrades as far as I remember.
-Like other Sony IPs, there’s a heightened sense here called Spectral Vision, and it’s pretty cool, taking the hand drop from Dead Space and combining it with a filter reminiscent of Detective Mode.
The Witness
2016
"o fluxo do tempo é sempre cruel... sua velocidade parece diferente para cada pessoa, mas ninguém pode mudá-la..."
tive muitos pensamentos ao finalizar Ocarina of Time, a transição do jovem Link para o herói adulto é extremamente triste, pois ele é lançado em um futuro sombrio e sem esperança, onde Hyrule está em ruínas e as forças do mal dominam. não há espaço para a infância florescer. entendo isso como uma metáfora para a vida real onde muitas vezes somos privados da oportunidade de experimentar uma infância antes de sermos lançados ao mundo adulto, temos que ser nossos próprios heróis. meu primeiro contato com o jogo foi nesse ano e me arrependo de não ter tentado antes, é uma obra prima.
tive muitos pensamentos ao finalizar Ocarina of Time, a transição do jovem Link para o herói adulto é extremamente triste, pois ele é lançado em um futuro sombrio e sem esperança, onde Hyrule está em ruínas e as forças do mal dominam. não há espaço para a infância florescer. entendo isso como uma metáfora para a vida real onde muitas vezes somos privados da oportunidade de experimentar uma infância antes de sermos lançados ao mundo adulto, temos que ser nossos próprios heróis. meu primeiro contato com o jogo foi nesse ano e me arrependo de não ter tentado antes, é uma obra prima.
Sea of Stars
2023
Veredito: não, ele não supera Chrono Trigger, mas é bom PRA CARALHO!
Não entendi muitas das críticas que vi pra este jogo aqui no site. Os personagens são todos bons (sim, inclusive os protagonistas, que convencem muito bem no seu papel de irmãos e de heróis), o sistema de batalha é ÓTIMO, e a história é maravilhosa.
Minhas críticas são outras, principalmente de polimento (às vezes era difícil batalhar bem, por exemplo porque algum personagem saía da tela no movimento de ataque) e de ritmo (dava pra cortar algumas horas da partida e nada de valor seria perdido, desnecessário por exemplo aquele começo grandão) mas nada muito grosseiro.
Mas apesar dos visuais lindos, música fantástica e batalhas excelentes, o que mais me cativou na verdade foi a sinceridade e temas do roteiro. Foi o quanto Sea of Stars trata com respeito os relacionamentos entre os personagens.
Garl se esforça para ser um bom amigo e pra ver os outros felizes, mas ele não é só um ajudante genérico pra dar suporte aos heróis, nem um bonzinho tapado que é só coração e zero cérebro. A amizade entre ele e os irmãos protagonistas é sincera, e linda de se ver.
Os dois grandes alquimistas são tratados desde o início como a personificação do bem e do mal, mas à medida que vai conhecendo o universo do jogo e a relação entre os dois você descobre que o buraco é bem mais em baixo.
Os dois irmãos não querem derrotar o mal só porque eles são os heróis e pronto, nem caem no tropo dos heróis relutantes. Eles amadurecem, eles têm sentimentos, alegrias, medos, esperanças e motivações pra fazer o que fazem.
Temas como negação da realidade à sua frente, luto, empatia, necessidade de pedir ajuda e a importância de passar bons momentos junto das pessoas que amamos, da diversão pura e simples com os entes queridos, são tratados sem medo e de forma sincera.
No fim das contas, Sea of Stars é só um JRPG inspirado pelos clássicos do Super Nintendo e PlayStation 1. Pessoalmente ele não mudou minha vida, não me ajudou a lidar com nenhum trauma, não foi nada de outro mundo. Ele tem defeitos como todo jogo.
Mas é um puta JRPG fodão pra caralho, e tenho certeza que vou rejogar ele um dia.
Não entendi muitas das críticas que vi pra este jogo aqui no site. Os personagens são todos bons (sim, inclusive os protagonistas, que convencem muito bem no seu papel de irmãos e de heróis), o sistema de batalha é ÓTIMO, e a história é maravilhosa.
Minhas críticas são outras, principalmente de polimento (às vezes era difícil batalhar bem, por exemplo porque algum personagem saía da tela no movimento de ataque) e de ritmo (dava pra cortar algumas horas da partida e nada de valor seria perdido, desnecessário por exemplo aquele começo grandão) mas nada muito grosseiro.
Mas apesar dos visuais lindos, música fantástica e batalhas excelentes, o que mais me cativou na verdade foi a sinceridade e temas do roteiro. Foi o quanto Sea of Stars trata com respeito os relacionamentos entre os personagens.
Garl se esforça para ser um bom amigo e pra ver os outros felizes, mas ele não é só um ajudante genérico pra dar suporte aos heróis, nem um bonzinho tapado que é só coração e zero cérebro. A amizade entre ele e os irmãos protagonistas é sincera, e linda de se ver.
Os dois grandes alquimistas são tratados desde o início como a personificação do bem e do mal, mas à medida que vai conhecendo o universo do jogo e a relação entre os dois você descobre que o buraco é bem mais em baixo.
Os dois irmãos não querem derrotar o mal só porque eles são os heróis e pronto, nem caem no tropo dos heróis relutantes. Eles amadurecem, eles têm sentimentos, alegrias, medos, esperanças e motivações pra fazer o que fazem.
Temas como negação da realidade à sua frente, luto, empatia, necessidade de pedir ajuda e a importância de passar bons momentos junto das pessoas que amamos, da diversão pura e simples com os entes queridos, são tratados sem medo e de forma sincera.
No fim das contas, Sea of Stars é só um JRPG inspirado pelos clássicos do Super Nintendo e PlayStation 1. Pessoalmente ele não mudou minha vida, não me ajudou a lidar com nenhum trauma, não foi nada de outro mundo. Ele tem defeitos como todo jogo.
Mas é um puta JRPG fodão pra caralho, e tenho certeza que vou rejogar ele um dia.
Mother 3
2006
Mother 3: O que faz um JRpg bom?
É uma ótima pergunta, e eu não sei responder 😅
Queria começar dizendo que entrei no meu arco de JRpgs, depois de ter saído do arco de CRpgs, se você deu uma olhada no meu perfil talvez tenha notada que eu coloquei vários jogos do gênero nele... Mesmo que eu não tenha feito nenhuma review de fato, jogos como Pathfinder: Kingmaker e WotR, uma recomenda da @Halullat... Planescape: Torment, Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura, as notas de jogos vide Wasteland 2 Director's cut, e 3 subiram bastante pois re-joguei esses títulos, entre outras coisas... Ainda assim faltou jogos como, Icewind Dale 1 e 2, Neverwinter Nights 1 e 2, Tyranny e etc... Talvez eu jogue eles em outro momento.
Mas o ponto é que saindo dessa "fase" eu queria finalmente jogar os JRpgs que são tão lembrados por aí... Eu realmente joguei alguns Final Fantasy, porém não todos, e pretendo conhecer a série por inteiro, minhas maiores espectativas são o VI e o VII, também vou passar pela série Persona e SMT, e talvez por outras pérolas que encontrar no caminho... Se quiser me recomendar alguns inclusive, fique a vontade 😁.
Mas antes de passar por esses, uma saga que sempre me chamou atenção mas que eu nunca tinha tocado, foi a Trilogia Mother, clássica, antiga, e posso dizer também, espetacular... Mother, Earthbound e Mother 3 compunham juntos uma das mais brilhantes trilogias já feitas, e é extremamente interessante o que aqui foi criado.
Como disse antes, eu não sei responder o que torna um JRpg bom... Mas o que sei é que a trilogia Mother é brilhante, mesmo se distinguindo, em partes, das outras obras do gênero que visitei até então... Sua história consegue ser cripitica e sombria, ao mesmo tempo que é envolvente e criativa.
O fato de em todos os três jogos jogamos como um pequeno garoto, mesmo que distintos entre si, e ainda assim passam por tudo o que passaram... Sinceramente me dá calafrios. Mas não posso negar que todo o conjunto da obra é extremamente bem feito.
Porém, lembrar que, especificamente, Mother 3 nunca foi lançado oficialmente no ocidente me deixa triste... Pois olha, o jogo lançou para o gameboy então definitivamente com um emulador e com uma Hack Room com uma tradução, seja para o inglês ou português, é sim possível joga-lo sem muitas complicações... Mas ao mesmo tempo, é triste pensar que a experiência feita pelos próprios devs originais, nunca vai ser passada para nós por meio de uma tradução original... Mas é o que temos pra hoje, não sei se a Nintendo vai querer realmente reviver a franquia depois de anos.
Algo que eu posso dizer que consegue contrabalancear esse sentimento de tristeza, é algo que sempre me deixa muito feliz... Quando o terceiro jogo de uma trilogia é o melhor dos três... Pois isso dá a sensação de que toda a caminhada valeu a pena, e que o seu fim foi tão bom quanto todo o caminho... É fato de que trilogias onde o terceiro jogo não é o melhor ainda assim podem ser muito boas, isso eu não nego... Bons exemplos são a Trilogia Arkham, e a Trilogia The Banner Saga, que fecham suas histórias com jogos de muita qualidade, Banner 3 e Arkham Knight são muito bons... Tipo Banner 3 é fantástico... Mas isso abre a possibilidade de coisas como Mass Effect 3 acontecerem... Eu especificamente não me frustrei e achei o jogo ruim, pelo contrário, porém é notório a frustração de muitos fãs com esse jogo, o que em partes é compreensível pois ele está longe de ser tão bom quanto o segundo jogo.
Um bom exemplo de onde isso ocorreu para mim, foi em Bayonetta 3... Na qual irei me isentar de discutir sobre... Mas quando o contrário acontece, como aqui em Mother, ou na trilogia Baldur's Gate, e olha que BG II era quase insuperável, por exemplo a sensação é muito mais gratificante definitivamente.
No fim das contas, a Trilogia Mother é definitivamente um espetáculo, e eu não duvido que muitas pessoas tenham Earthbound e Mother 3 como seus jogos favoritos, pois são experiências únicas em seu próprio gênero, por consequência no mercado de jogos também... No final da História Mother 3 é um dos melhores jogos da história indiscutivelmente, e ao menos em minha opinião, deveria ser testado por qualquer pessoa que gosta do gênero.
Para Mother um 9.4/10 ou 4.5/5...
Pra Earthbound um 9.7/10 ou 5/5...
Ea Para Mother 3 um 9.8/10 ou 5/5...
Se você chegou aqui.... Por favor me recomende um JRpg que você goste...
É uma ótima pergunta, e eu não sei responder 😅
Queria começar dizendo que entrei no meu arco de JRpgs, depois de ter saído do arco de CRpgs, se você deu uma olhada no meu perfil talvez tenha notada que eu coloquei vários jogos do gênero nele... Mesmo que eu não tenha feito nenhuma review de fato, jogos como Pathfinder: Kingmaker e WotR, uma recomenda da @Halullat... Planescape: Torment, Arcanum: of Steamworks and Magick Obscura, as notas de jogos vide Wasteland 2 Director's cut, e 3 subiram bastante pois re-joguei esses títulos, entre outras coisas... Ainda assim faltou jogos como, Icewind Dale 1 e 2, Neverwinter Nights 1 e 2, Tyranny e etc... Talvez eu jogue eles em outro momento.
Mas o ponto é que saindo dessa "fase" eu queria finalmente jogar os JRpgs que são tão lembrados por aí... Eu realmente joguei alguns Final Fantasy, porém não todos, e pretendo conhecer a série por inteiro, minhas maiores espectativas são o VI e o VII, também vou passar pela série Persona e SMT, e talvez por outras pérolas que encontrar no caminho... Se quiser me recomendar alguns inclusive, fique a vontade 😁.
Mas antes de passar por esses, uma saga que sempre me chamou atenção mas que eu nunca tinha tocado, foi a Trilogia Mother, clássica, antiga, e posso dizer também, espetacular... Mother, Earthbound e Mother 3 compunham juntos uma das mais brilhantes trilogias já feitas, e é extremamente interessante o que aqui foi criado.
Como disse antes, eu não sei responder o que torna um JRpg bom... Mas o que sei é que a trilogia Mother é brilhante, mesmo se distinguindo, em partes, das outras obras do gênero que visitei até então... Sua história consegue ser cripitica e sombria, ao mesmo tempo que é envolvente e criativa.
O fato de em todos os três jogos jogamos como um pequeno garoto, mesmo que distintos entre si, e ainda assim passam por tudo o que passaram... Sinceramente me dá calafrios. Mas não posso negar que todo o conjunto da obra é extremamente bem feito.
Porém, lembrar que, especificamente, Mother 3 nunca foi lançado oficialmente no ocidente me deixa triste... Pois olha, o jogo lançou para o gameboy então definitivamente com um emulador e com uma Hack Room com uma tradução, seja para o inglês ou português, é sim possível joga-lo sem muitas complicações... Mas ao mesmo tempo, é triste pensar que a experiência feita pelos próprios devs originais, nunca vai ser passada para nós por meio de uma tradução original... Mas é o que temos pra hoje, não sei se a Nintendo vai querer realmente reviver a franquia depois de anos.
Algo que eu posso dizer que consegue contrabalancear esse sentimento de tristeza, é algo que sempre me deixa muito feliz... Quando o terceiro jogo de uma trilogia é o melhor dos três... Pois isso dá a sensação de que toda a caminhada valeu a pena, e que o seu fim foi tão bom quanto todo o caminho... É fato de que trilogias onde o terceiro jogo não é o melhor ainda assim podem ser muito boas, isso eu não nego... Bons exemplos são a Trilogia Arkham, e a Trilogia The Banner Saga, que fecham suas histórias com jogos de muita qualidade, Banner 3 e Arkham Knight são muito bons... Tipo Banner 3 é fantástico... Mas isso abre a possibilidade de coisas como Mass Effect 3 acontecerem... Eu especificamente não me frustrei e achei o jogo ruim, pelo contrário, porém é notório a frustração de muitos fãs com esse jogo, o que em partes é compreensível pois ele está longe de ser tão bom quanto o segundo jogo.
Um bom exemplo de onde isso ocorreu para mim, foi em Bayonetta 3... Na qual irei me isentar de discutir sobre... Mas quando o contrário acontece, como aqui em Mother, ou na trilogia Baldur's Gate, e olha que BG II era quase insuperável, por exemplo a sensação é muito mais gratificante definitivamente.
No fim das contas, a Trilogia Mother é definitivamente um espetáculo, e eu não duvido que muitas pessoas tenham Earthbound e Mother 3 como seus jogos favoritos, pois são experiências únicas em seu próprio gênero, por consequência no mercado de jogos também... No final da História Mother 3 é um dos melhores jogos da história indiscutivelmente, e ao menos em minha opinião, deveria ser testado por qualquer pessoa que gosta do gênero.
Para Mother um 9.4/10 ou 4.5/5...
Pra Earthbound um 9.7/10 ou 5/5...
Ea Para Mother 3 um 9.8/10 ou 5/5...
Se você chegou aqui.... Por favor me recomende um JRpg que você goste...